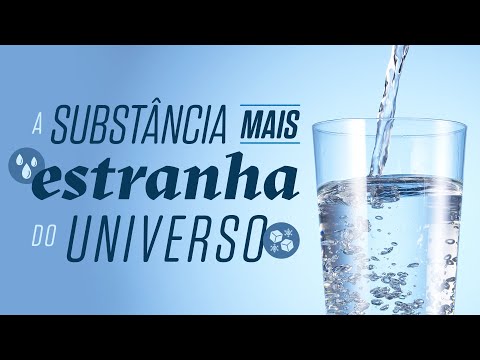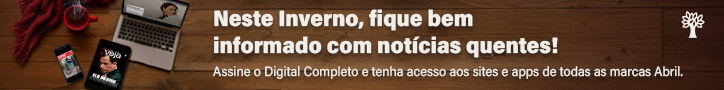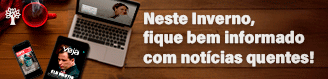José Francisco Botelho e Eduardo Lima
Erro – Usar uma energia potencialmente benéfica para o desenvolvimento de armas de destruição e, assim, dar início a uma corrida armamentista.
Quem – Cientistas a serviço dos EUA e da Alemanha nazista.
Quando – Entre 1938 e 1945.
Consequências – As bombas de Hiroshima e Nagasaki mataram instantaneamente cerca de 220 mil pessoas e inauguraram a era dos arsenais nucleares.
Às 5 horas e 29 minutos, madrugada do dia 16 de julho de 1945, o deserto do Novo México foi iluminado por um clarão intenso, como se um pequeno Sol tivesse nascido em meio às areias. O estrondo, equivalente à explosão de 20 mil toneladas de dinamite, pôde ser ouvido a 160 quilômetros dali. E uma nuvem em forma de cogumelo se ergueu a 1 200 metros de altitude. Na base militar construída a uma distância segura, um grupo de cientistas observava a experiência com os olhos protegidos por óculos escuros. No fim, tudo saiu como o planejado. A detonação da primeira bomba atômica da história tinha sido um sucesso. Antes mesmo de encerrarem uma rápida comemoração, porém, um deles não resistiu e acabou soltando um comentário sarcástico: “Agora, somos todos uns filhos da mãe”.
Intenções assassinas
Embora hoje tenha uma série de aplicações pacíficas e louváveis, como a geração de eletricidade e o tratamento de doenças como o câncer, a energia atômica foi inicialmente dominada com intenções puramente assassinas. Desde 1939, o governo americano procurava um caminho que levasse à fissão nuclear. Para isso, reuniu no secretíssimo projeto Manhattan alguns dos físicos mais brilhantes do mundo. O objetivo era criar uma arma capaz de aniquilar cidades ou até países inteiros. E o mais importante: antes que Adolf Hitler o fizesse. A Alemanha nazista tinha liderado a corrida por um bom tempo. Em 1938, a 2ª Guerra Mundial nem havia começado ainda e os cientistas alemães a serviço de Hitler já tinham obtido a fissão do núcleo de átomos de urânio.
Sete anos mais tarde, no entanto, a guerra já estava chegando ao fim. Hitler havia se suicidado, o Exército soviético marchava sobre Berlim e a rendição de seus aliados japoneses era apenas uma questão de tempo, pouco tempo. Mesmo assim, os EUA optaram pelo pior. Na manhã de 6 de agosto de 1945, menos de um mês após o teste no deserto do Novo México, lançaram sobre a cidade de Hiroshima uma bomba atômica. Em segundos, 140 mil pessoas foram instantaneamente incineradas pela explosão. Três dias depois, outro artefato nuclear foi jogado sobre o Japão, dessa vez na cidade de Nagasaki. Resultado: mais 80 mil mortos.
Os cientistas envolvidos no projeto Manhattan confessaram seu arrependimento mais tarde. J. Robert Oppenheimer, considerado o pai da bomba atômica, habilitou-se a dizer em entrevistas que, após aquele primeiro teste nas areias do deserto, sempre lhe vinha à mente um trecho de seu poema favorito, o épico hindu Bhagavad Gita: “E, então, tornei-me a Morte, o destruidor de mundos”. De fato, a invenção de Oppenheimer iria se transformar numa ameaça à existência humana.
Logo depois da 2ª Guerra, os soviéticos também dominariam a tecnologia para o desenvolvimento de bombas atômicas. Encrenca à vista. E a humanidade passaria décadas temendo um conflito nuclear de proporções globais (leia mais na reportagem da pág. 38).
Fracasso diplomático
O tempo correu, a URSS desmoronou e o mundo já não se sente assombrado pelo fantasma de uma guerra que represente o Juízo Final. Ainda assim, o uso da energia atômica para fins militares continua sendo um problema e tanto. Em 1967, as grandes potências até tentaram controlar o avanço das armas nucleares por meio de um tratado de não proliferação. A ideia era boa: os países que já as detivessem reduziriam gradualmente seus arsenais, enquanto as nações que ainda não tinham chegado lá simplesmente renunciariam a essa pretensão. O acordo, no entanto, acabou redundando num dos maiores fracassos diplomáticos da história recente. Foi mais ou menos assim: todo mundo assinou, mas ninguém jogou fora as bombas atômicas que possuíam. A África do Sul acabou sendo o único país a se desfazer das poucas ogivas que detinha.
Sonho distante
De lá para cá, novos acordos foram firmados e o número de artefatos nucleares foi reduzido significativamente, sobretudo na Rússia e nos EUA (leia mais no quadro abaixo). No Brasil, que teve um programa nuclear suspeito durante a ditadura militar, a Constituição proíbe o desenvolvimento de armas nucleares. Ainda restam, no entanto, mais de 23 mil dessas armas pelo mundo. “A eliminação completa dos arsenais parece ser um objetivo utópico”, avalia o físico Luis Carlos de Menezes, presidente de uma comissão da Sociedade Brasileira de Física (SBF) que acompanha – e fiscaliza – o programa nuclear brasileiro. “Mas essa deveria ser uma das grandes metas da humanidade para o século 21.”
Hoje, o clube das potências com arsenais nucleares inclui Rússia, EUA, Reino Unido, China, França, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e, possivelmente, Israel. Detalhe nada insignificante: alguns desses países estão em regiões de grande potencial para conflitos. Indianos e paquistaneses, por exemplo, vivem se estranhando. Já os norte-coreanos estão tecnicamente em guerra com seus vizinhos do sul desde 1950, quando começou a Guerra da Coreia. O conflito, que terminou na prática em 1953, nunca foi formalmente encerrado – os dois lados permanecem em trégua, embora os atritos sejam frequentes. E ainda há o caso do Irã, que jura ter um programa nuclear de propósitos estritamente pacíficos, embora pouca gente acredite. O atual regime iraniano não esconde de ninguém que nega a Israel o direito de existir. O temor da comunidade internacional é de que os iranianos joguem uma bomba atômica sobre seus arquirrivais israelenses assim que consigam fabricá-la.
* Os últimos dados disponíveis são referentes ao ano de 2009.
** Israel e Coreia do Norte não confirmam nem negam a posse de armas nucleares. Fontes: Bulletin of the Atomic Scientists e International Crisis Group (ICG).

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Hipótese “maluca” sobre Plutão é confirmada pelo James Webb
Hipótese “maluca” sobre Plutão é confirmada pelo James Webb Por que o Irã não se chama mais Pérsia?
Por que o Irã não se chama mais Pérsia? A transição demográfica e a longevidade são conquistas históricas
A transição demográfica e a longevidade são conquistas históricas O que é a geada negra?
O que é a geada negra? O que significa “enriquecer urânio”?
O que significa “enriquecer urânio”?