Como se fosse verdade
O mundo não é mais aquele. Ao menos é a sensação do usuário dos novos equipamentos de realidade simulada. E o que começou como pura brincadeira está mudando até mesmo os métodos de fazer ciência.
Luiz Guilherme Duarte
Cosi è se vi pare (Assim é se lhe parece), a famosa peça escrita em 1917 pelo dramaturgo italiano Luigi Pirandello (1867-1936), demonstra em termos artísticos que a verdade pode ser muito relativa. Agora, novos sistemas eletrônicos estão fazendo algo parecido em termos tecnológicos, criando realidades sem existência concreta. Vestida a caráter, ou seja, ligada por fios a potentes computadores, a pessoa pode “entrar” em ambientes fictícios, olhar os diferentes panoramas ao redor e até mover objetos. É o chamado ciberespaço, do inglês cyberspace, um mundo de imagens tridimensionais geradas em pequenas telas dentro de máscaras usadas pela pessoa, cujos movimentos da mão também são repetidos nas telinhas graças ao uso de uma luva especial — a última palavra em aparelhos de comando de computadores.
Além da aplicação óbvia a novos videojogos, nos quais os competidores participarão “fisicamente” das brincadeiras, a tecnologia deverá, por exemplo, ajudar arquitetos a mudar o projeto de um apartamento, permitindo-lhes mover as paredes divisórias com as próprias mãos. O termo ciberespaço, que a Autodesk, uma empresa da Califórnia, adotou para seu sistema foi criado pelo escritor americano de ficção científica William Gibson em seu livro Neuromancer, de 1984 (inédito no Brasil), cujos personagens vivem muitas experiências em mundos ditos virtuais ou potenciais. Mais sofisticado ainda é o RB2 (sigla em inglês de Realidade Criada para Dois), feito por outra empresa vizinha, a VPL Research. “Nosso sistema permite a duas pessoas compartilhar a mesma realidade artificial”, explica o cabeludo Jaron Lanier, de 29 anos, fundador da VPL. “As pessoas nem precisam estar fisicamente juntas, já que o ambiente virtual pode ser transmitido via satélite para as aparelhagens de ambas.”
A vantagem do equipamento de Lanier baseia-se em dois computadores gráficos de alta resolução, um para cada olho, que podem gerar vinte imagens por segundo, manipulando até 80 milhões de cálculos nesse fugaz intervalo de tempo. A máscara, que lembra a de um mergulhador, é uma nova versão de um protótipo desenvolvido nos anos 60 pelo engenheiro elétrico americano Ivan Sutherland, considerado um dos pais da computação gráfica e dos simuladores de vôo. Sobre as telas coloridas de cristal líquido que recriam a sensação de profundidade, censores magnéticos embutidos transmitem informações ao computador central sobre a posição da cabeça do usuário, a fim de corrigir a perspectiva das imagens cada vez que a pessoa gira o pescoço. Um conjunto de três antenas montadas em ângulo reto, como um sistema de coordenadas cartesianas (eixos vertical, horizontal e de profundidade), traduz as mensagens dos sensores, indicando as mudanças de direção da máscara.
Para saber o ponto exato em que a pessoa fixa seu olhar e assim aumentar a nitidez dessa área, técnicos da NASA estão colaborando no aperfeiçoamento de um aparelho muito utilizado há alguns anos nos Estados Unidos nos cursos de Psicologia, em pesquisas sobre o poder de concentração: o rastreador do olhar. Na versão mais moderna, um projetor dirige um raio de luz infravermelha sobre a córnea do olho e o reflexo deste, ou seja, o ponto a que se volta o olhar, é registrado por uma minicâmara montada sobre o visor. O interesse da NASA, que desenvolve sua própria estação de trabalho de ambiente virtual (View na sigla em inglês), está ligado à telerrobótica, o controle a distância de robôs operários nas futuras bases espaciais (SUPER INTERESSANTE número 11, ano 3). Mas a verdadeira inovação na novíssima área dos sistemas virtuais fica por conta da luva tátil ou Dataglove, criada pelos cientistas da VPL.
Cabos de fibra ótica, que partem e terminam em uma placa de circuito impresso fixada ao pulso, percorrem o dorso da luva entre duas camadas de tecido. Em um dos extremos há um diodo que emite raios luminosos, enquanto no outro extremo um fototransístor traduz a luz recebida em sinais elétricos. Em condições normais, a fibra ótica conduz a luz ainda que se dobre, mas, no Dataglove, dispositivos situados em pontos de flexão da mão permitem que a luz escape tanto mais quanto maior for o grau do movimento. O fototransístor localizado ao final do cabo de retorno registra então a quantidade de luz que consegue chegar de volta e comunica tudo a um comando central por meio da placa do punho, que também possui sensores iguais aos da máscara para indicar a posição da mão no espaço. Ao receber as informações sobre o movimento da luva, um computador as interpreta e reproduz nas telas em um desenho da mão humana. Para que o usuário sinta o volume do objeto desenhado na tela, as partes da luva em contato com os dedos contêm cristais, chamados piezelétricos, que vibram ao receber uma corrente elétrica, fenômeno que o portador da luva interpreta como uma ligeira pressão.
Enquanto os técnicos da VPL começam as pesquisas com o Datasuit, uma espécie de macacão com sensores de flexão cobrindo todo o corpo, a empresa Greenleaf Medical Systems, de Palo Alto, na Califórnia, comprou um grande número daquelas luvas cibernéticas para ajudar deficientes físicos. Pessoas mudas têm os sinais mímicos da mão traduzidos em linguagem verbal, graças a um programa especialmente desenvolvido, e pacientes com problemas nas articulações usam a luva para medir o seu grau de mobilidade. Na Universidade de Stanford, também na Califórnia, os estudantes de Medicina e em especial os cirurgiões plásticos dispõem de um paciente artificial em tamanho natural criado pelo engenheiro americano Scott Fisher, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do View. O doente eletrônico reage como um paciente verdadeiro, permitindo dessa maneira que os estudantes aprendam a fazer operações delicadas sem risco para ninguém.
De fato, a segurança é um dos melhores motivos para se simular certas realidades. Não foi por outra razão que os produtores de bombas atômicas depois da Segunda Guerra Mundial tiveram de recorrer aos primeiros computadores digitais — o ENIAC e o MANIAC — para calcular os efeitos da quebra dos átomos (fissão nuclear) nas explosões. Com a criação de imagens artificiais, os modernos computadores ganham novas linguagens de comunicação de dados.
Graças a esse diálogo com a máquina, o cientista pode materializar diante de si o problema a tratar e manipulá-lo, em tempo real, com suas próprias mãos, o que certamente acelera e facilita o entendimento dos resultados dos cálculos. Transpondo os limites de seus laboratórios, os pesquisadores não precisam se limitar à realidade concreta de átomos, aviões, prédios ou mesmo galáxias inteiras; podem partir também para conceitos abstratos, representados, de outra forma, apenas por equações matemáticas.
Submergir em um mundo artificial, que só existe nos chips de supercomputadores, deixou assim de ser mera fantasia, típica de filmes de ficção científica como Tron (1982), por sinal totalmente desenhado em computador nos Estúdios Disney. É simplesmente o resultado de numerosas pesquisas para simplificar os meios de comunicação entre homem e máquina. Na verdade, embora seja possível encontrar alguns recursos bastante eficazes e rápidos para a maioria das aplicações dos computadores pessoais, os métodos para se comunicar com o próprio programa, a fim de introduzir dados, formular perguntas e observar o resultado, pouco evoluíram até o Dataglove. O teclado continua sendo o dispositivo mais utilizado para dar comandos aos programas, enquanto o monitor de TV se encarrega de mostrar as conclusões dos cálculos.
Os poucos avanços são representados por equipamentos com monitores inteligentes de tela tátil capazes de receber comandos ao toque dos dedos, além de apetrechos mais corriqueiros como o mouse, uma esfera cujos movimentos sobre uma superfície são repetidos por um cursor na tela. A tábua gráfica com lápis ótico e o joystick dos videojogos são outras opções que funcionam como o mouse. Muitos especialistas acreditam que o computador acionado por comandos vocais deverá substituir, com vantagens, boa parte desses equipamentos — assim que o equipamento for ensinado a reconhecer algo além de ordens simples. Ainda rudimentar, o aparelho já existe, ajudando motoristas a teclar números em telefones móveis e pessoas paralíticas a acender a luz ou abrir a porta. Essa evolução se deve em larga medida à multinacional IBM, que vem desenvolvendo há alguns anos um protótipo capaz de identificar até 20 mil palavras pelo contexto em que são usadas.
“Melhor ainda será um dia poder simplesmente mostrar algo ao computador”, imagina o engenheiro eletrônico Márcio Rillo. “Afinal, uma imagem realmente vale por mil palavras.” Coordenador da divisão de automação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Rillo desenvolve, junto com uma equipe de dezessete pessoas, o projeto de um sistema de visão digital pelo qual o computador poderá reconhecer formas em três dimensões, um feito ainda difícil, mas fundamental para se criar um robô que “enxergue”. As pesquisas brasileiras, que incluem o intercâmbio de informações com o renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e com universidades alemãs, poderão ser úteis um dia na criação de ambientes imaginários a partir da captação de imagens de locais existentes. Reinventando a realidade neste diálogo franco com os computadores, os cientistas estão descobrindo um meio diferente de entender o que se passa a sua volta. É o que se poderia chamar ciência virtual, que vem abrir, assim, algo que o italiano Pirandello, que também escreveu Seis personagens em busca de um autor, reconheceria como novos mundos à procura de um criador.
Para saber mais:
(SUPER número 7, ano 4)
Divertimento levado a sério
O mundo imaginário dos videojogos — a brincadeira predileta de muitos técnicos de computadores — vai cada vez melhor. Pesquisando a criação e o manejo de gráficos nas telas, eles descobriram uma forma de diversão que não cessa de se renovar. Desde as antigas e robustas máquinas de fliperama até a última geração de pequenos aparelhos domésticos, várias mutações conquistaram pessoas de todas as idades. Hoje é possível atirar em personagens na tela, usando uma pistola especial ligada ao jogo. Ao apertar o gatilho, todo o cenário escurece por uma fração de segundo, destacando a luminosidade dos alvos acesos, a qual é captada pela pistola. Também se pode repetir na tela os movimentos da mão, gesticulando próximo a um sistema de espelhos, que capta os reflexos, ou ainda usando certas luvas de comandos, em contato via ultrasom com antenas sobre o televisor.
“Um tapete com células de pressão muito parecidas às usadas em algumas calculadoras faz um personagem da tela reproduzir a ginástica feita sobre o tapete”, acrescenta Gilson Lima, gerente de jogos da Gradiente, importadora do tapete e um dos dois fabricantes nacionais de videojogos de terceira geração. No Brasil, a pioneira foi a Philco, com os jogos simples de pingue-pongue ainda na década de 70; há sete anos, a última palavra era o Atari 2600 da Gradiente, em 1988, surgiu o Master System, da Tec Toy; agora chegou a vez do Phantom System. Lançado no ano passado, o aparelho utiliza a consagrada tecnologia japonesa Nintendo numa placa de circuito impresso equivalente à de pequenos computadores. Essa nova geração conta com uma memória muito maior, o que garante uma alta resolução gráfica e sonora. Segundo Gilson, é a perfeição do cenário gráfico, aliada à engenhosidade do roteiro da aventura que determina a maior ou menor aceitação dos mais de 400 jogos existentes para esse sistema.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês
O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017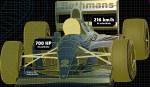 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna? A origem dos 50 sobrenomes mais comuns do Brasil
A origem dos 50 sobrenomes mais comuns do Brasil







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


