O jogo atômico do coreano
De perto, ninguém é anormal. A ciência explica as atitudes suicidas de Kim Jong-Il. E mostra que elas podem ser um elemento a favor do ditador

Eduardo Pegurier e Alexandre Versignassi
Dois criminosos são presos por furto, mas existe a suspeita de que um deles tenha matado alguém. A pena para o furto é de dois anos. A polícia os separa e barganha uma redução no tempo de xadrez: denuncie seu comparsa e pegue 6 meses de prisão, enquanto ele pegará 30 anos. Para os dois, em conjunto, o melhor é ficarem quietos e enfrentarem a pena de furto. Mas um não sabe o que o outro fará. Assim, por medo de traição, o resultado mais provável é um acusar o outro de assassinato. E os dois passarem o resto da vida presos.
Esse é um problema clássico das ciências sociais, o Dilema dos Prisioneiros. E sua lógica perversa é a mesma que transformou o mundo em refém das armas nucleares: quanto mais ogivas eu faço, mais você faz. Tanto que, no auge da Guerra Fria, EUA e URSS chegaram a ter mais de 70 mil bombas atômicas juntos – o suficiente para levar a nossa espécie a um fim tão trágico quanto o dos dinossauros. Várias vezes. Só que de lá para cá esse número vem baixando. A estimativa é que haja cerca de 20 mil armas nucleares no mundo (mais de 90% com os EUA e a Rússia e algumas centenas com outros países). E os dois lados já costuraram um acordo para que cada um fique com mais ou menos 2 mil ogivas na próxima década. Ainda é o suficiente para deixar o planeta mais sem vida que o olhar do Vladimir Putin, mas já é um começo. E tem mais: Barack Obama disse num discurso em abril que seu objetivo é livrar o mundo das armas atômicas.
Mas faltou combinar com um adversário. Enquanto Obama discursava sua utopia, Kim Jong-Il, o ditador da Coreia do Norte, fazia lançamentos experimentais de mísseis no Pacífico. Depois, testou pela segunda vez uma de suas biribinhas atômicas (bombas milhares de vezes mais fracas que as maiores de hoje, mas, ainda assim, atômicas). E deixou claro: não abre mão da bomba. Mostrou que é louco o bastante para desafiar um país com poder de fogo para varrer 100 Coreias do Norte do mapa de hoje para amanhã.
O pior é que, do ponto de vista científico, a atitude de Kim não é tão insana assim. Pelo menos é o que diria o Nobel de Economia John Nash (que inspirou o filme Uma Mente Brilhante). Nash é o maior expoente da Teoria dos Jogos, uma ciência que estuda o comportamento estratégico com modelos como aquele do dilema do prisioneiro. E ela ajuda a elucidar um pouco da mente do Querido Líder (como o ditador gosta de ser chamado).
Segundo a teoria, a estratégia de Kim é análoga a um chicken game (“jogo do covarde”): é aquele desafio em que dois carros vêm de direções opostas e aceleram em direção um ao outro. O covarde é o que desvia primeiro. O lance ali, então, é aguentar mais que o outro na trajetória suicida. E a melhor maneira de ganhar é óbvia: fazer o oponente acreditar que você não vai desviar de jeito nenhum, que está pouco se lixando para a morte. Como? Um jeito é ser suicida mesmo: colocar uma trava no seu volante e mostrá-la para o seu oponente antes do desafio. Sabendo que você foi louco o suficiente para fazer isso, ele vai desviar primeiro. E é assim que a Coreia do Norte atua no jogo atômico. Ao desafiar os EUA, ela mostra que o suicídio é uma opção. Que está pouco se lixando para a morte. É a trava no volante de Kim Jong-Il.
Foi mais ou menos o que aconteceu entre EUA e URSS ao longo da Guerra Fria. Naquele caso, os dois lados faziam de tudo para mostrar ao oponente que seu carro estava com o volante travado, que não mediriam consequências se fossem atacados. Num cenário assim, qualquer ameaça, por menor que seja, pode ser o bastante para que um dos lados consiga o que quer.
Para entender isso melhor, vamos voltar para 1962, quando a URSS tentou instalar mísseis em Cuba. Bastou um gesto menor de John Kennedy para mostrar sua trava no volante: fazer um bloqueio naval, que tentaria barrar os navios soviéticos. Os russos viram que teriam de abrir fogo contra a frota americana se quisessem chegar à ilha. E que isso, sim, poderia descambar numa guerra atômica. O líder soviético, então, não arriscou chegar tão perto e chamou seus navios de volta. Kennedy, no fim das contas, não precisou atacar ninguém para frear a Rússia, bastou mostrar que bastaria um trisco do inimigo para que o pior viesse. É o que o norte-coreano está fazendo com sua pose de linha-dura – avisa que talvez não valha a pena atacar seu país como se fosse um Afeganistão ou um Iraque. O preço pode ser alto demais. E isso deixa uma coisa clara: o mundo está mais perigoso do que naquela época.
Como amar a bomba
Quando a possibilidade de guerra atômica estava na mão de duas potências, elas lotaram o mundo de ogivas. Ok. Mas até existia uma certa calma. Para evitar situações como a de 1962, os dois lados sabiam que o melhor era ficar na sua. E essa atitude deixou o jogo atômico em equilíbrio. Um paradoxo: graças às bombas (e à racionalidade de seus donos), a 3ª Guerra Mundial não eclodiu. Mas isso acabou.
Racionalidade é algo que não dá para esperar de Kim Jong-Il. Nem de outros postulantes a país atômico, como o Irã. Muito menos de grupos terroristas, que podem simplesmente comprar bombas da Coreia do Norte por baixo dos panos.
E aí a conclusão é simples: um planeta livre de armas atômicas, como o que Obama disse sonhar, é impossível. E, mesmo que dê para vencer e desarmar esse e os próximos Queridos Líderes que surgirem, não há como desinventar a bomba. Um mundo sem ogivas seria só um mundo com medo de que algum maluco aparecesse com uma. Aí não tem jogo.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês
O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017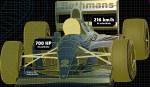 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna? A origem dos 50 sobrenomes mais comuns do Brasil
A origem dos 50 sobrenomes mais comuns do Brasil







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


