Os genes do fim: Desafio à morte
As descobertas sobre esse enigma da natureza indicam que o homem pode viver bem mais de um século.
Flávio Dieguez
Viver 200 anos em boa forma e partir tranqüilo, sem ter de enfrentar as angústias de prolongada decadência física, não é mais um desejo inatingível, um mistério que o homem almeja, mas sabe que nunca poderá desvendar. Trata-se de uma luminosa idéia, que toma forma cada vez mais nítida na cabeça de grande número de cientistas das mais diversas especialidades. Sem medo de incorrer no antigo pecado da hubris — nome que os gregos davam ao orgulho de saber demais —, eles afirmam que é possível driblar o envelhecimento e a morte. Como não podia deixar de ser, esse segredo parece estar inscrito nos genes, como se fosse um programa de computador. Quando chega a hora, o gene da morte entra em ação para desativar os mecanismos vitais e levar o corpo ao fim.
A entusiasmante alternativa é desativar as engrenagens letais, de modo que se prolongue o período de vida o máximo possível, como faz o biólogo americano Michael Rose, da Universidade da Califórnia. Um dos papas da longevidade, ele criou algo semelhante a um “elixir da juventude”, que por enquanto foi servido apenas a organismos tão modestos como as drosófilas, ou moscas das frutas. O resultado foram superinsetos, que vivem quase duas vezes mais que seus semelhantes naturais: em escala humana, seria como morrer perto dos 150 anos, já que nos países desenvolvidos a atual expectativa de vida é de 75 anos para os homens e 79 para as mulheres. Além disso, as supermoscas idosas são tão robustas quanto moscas ordinárias de menor idade.
É uma situação em que a própria humanidade gostaria de se ver, como diz o médico Michal Jazwinski, da Universidade Estado de Louisiana. “O ideal seria ter uma longa vida saudável e então partir rapidamente — morrer de botas, como eles dizem nos filmes de caubói.” Como sempre acontece, a meta da ciência é mais ambiciosa que uma simples extensão da vida das pessoas. Seu alvo maior é compreender por que todos os seres vivos têm de envelhecer e morrer, inexoravelmente. Mas é apenas natural que essa busca, de quebra, leve ao ideal esboçado por Jazwinski. Afinal, as descobertas estão se atropelando num ritmo impensável apenas quinze anos atrás.
“Só na década passada percebemos como era fácil postergar o envelhecimento”, comemora Rose. “E é isso que torna a pesquisa tão excitante — estamos fazendo coisas que funcionam.” Seu trabalho, de fato, é de uma simplicidade a toda prova: consiste em cruzar diversas linhagens de moscas e selecionar aquelas de vida mais longa. O problema é saber por que alguns insetos marcham com mais lentidão para o fim. A única pista encontrada por Rose são antioxidantes — substâncias que, de modo geral, protegem as células contra o excesso de reações com o oxigênio, mas são anormalmente ativas nas moscas de vida longa. Isso é curioso, pois o oxigênio que perambula em estado livre nos organismos é um notório vilão das células, onde danifica proteínas, gorduras e o próprio ácido nucléico, matéria-prima dos genes.
Como é um resíduo comum de diversas reações vitais, o oxigênio poderia ser o próprio motor do envelhecimento. Este, portanto, seria conseqüência natural da vida: à medida que o tempo passa, o acúmulo de oxigênio livre gera um número crescente de defeitos nas células. Até inviabilizar de vez o seu funcionamento. Uma bem-humorada analogia com a destruição dos metais, também causada pela oxidação, seria a seguinte: as pessoas não morrem; elas enferrujam. Nesse caso, o elixir da longevidade seria o poderoso antioxidante detecta do nas moscas, chamado superóxidodismutase e classificado na categoria das enzimas.
Nas moscas comuns, ele é produzido de acordo com certa fórmula, gravada em um gene, mas nas supermoscas esse gene deve ter se alterado por algum motivo e deu origem a uma enzima mais eficaz. Essa elegante teoria só não faz mais sucesso porque há diversos outros fenômenos associados ao envelhecimento, como o espantoso caso dos genes que “suicidam” células. Não há melhor expressão: entre outras coisas, esses genes podem fazer com que as célula defensoras do organismo passem a atacá-lo. Dependendo da idade, mais de 95% das células protetoras enlouquecem dessa maneira. Da mesma forma, quando uma lagarta está às vésperas da metamorfose, suas células musculares se tornam matadoras e destroem boa parte do organismo.
O resultado é a nova forma da lagarta: a borboleta. Para que o animal viva com seu novo figurino, imenso número de células tem de sucumbir — tal é a incômoda lógica que parece guiar esse fenôme-no. Há sérios indícios de que as inversões de comportamento celular são comuns no reino da vida. E há pelo menos um elo sugestivo com o envelhecimento: no cérebro de alguns portadores do mal de Alzheimer encontram-se traços de uma proteína que é produzida em abundância durante a degradação muscular das lagartas. Pode não ser mera coincidência, já que o mal de Alzheimer é caracterizado por maciça destruição de neurônios e é conhecido como a doença da velhice. Nos países ricos, ela incide tipicamente sobre 10% das pessoas acima de 65 anos, ou 20%, acima de 80.
A hipótese mais razoável é que a mesma engrenagem da metamorfose está presente na decadência dos processos vitais. E isso é importante, pois sugere que o envelhecimento, de alguma maneira, é imposto ao organismo. Não é algo que simplesmente acontece a ele — como o acúmulo de oxigênio livre nas células. “A morte não é passiva, mas ativa, como o suicídio”, resume o americano Robert Horvitz, do Instituto Tecnológico de Massachusetts. Explicando ainda melhor, as pessoas não morrem porque se tornam cada vez mais incapacitadas para reparar defeitos que o corpo acumula. Mas porque têm de seguir um programa cujo objetivo é dar fim à vida.
O suicídio celular, ou apoptose, em linguagem técnica, é um ramo florescente da pesquisa e também da economia americana. Empresas especializadas surgem todos os meses, na esperança de vender drogas que bloqueiem a matança programada de células, deslanchada por certas doenças. O próprio Horvitz, segundo a revista especializada Science, está lançando a Idun Pharmaceuticals para lidar com a morte de células no câncer, no sistema imunológico e no sistema nervoso. A Apoptosis Technology pretende comercializar uma proteína de nome TIA-1, descoberta por Paul Arderson, pesquisador do Instituto de Câncer Dana-Farber (que tem parte do capital da empresa).
A TIA-1 seria uma espécie de mensageira da morte, usada por células T do sistema imunológico para levar outras células ao suicídio. Há inúmeras outras proteínas que se imagina terem o mesmo papel e em alguns casos se identifi-caram os genes responsáveis pela produção de substân-cias desse tipo. Acredita-se, por exemplo, que um tipo de linfoma, câncer do sistema linfático, é causado por falha de um gene da apoptose: a pane permite que as células linfáticas se tornem “imortais” e se transformem em tumores malignos. É uma espantosa constatação: a morte programada é saudável e quando falha leva a uma doença terrível.
Aqui, é preciso separar bem os fatos: uma coisa é a pesquisa da apoptose em si mesma, na qual há preocupação exclusiva com um pequeno universo, o destino das células. Não se investiga o fenômeno da morte em seu sentido mais amplo. Outra coisa é tentar entender esse fenômeno com ajuda da apoptose, tarefa que a maior parte dos cientistas simplesmente ignora. Não é fácil, nem prático: ganha-se mais, em benefícios imediatos, pesquisando doenças. Mas é missão permanente da ciência investigar fenômenos fundamentais, como a morte. E esta pode ser compreendida a partir de uma simples célula, acreditam cientistas como James Smith, da Faculdade de Medicina Baylor, em Waco, no Estado americano do Texas.
O objeto de sua atenção é o chamado limite de Hayflick, de acordo com o qual toda célula pára de proliferar após se dividir em duas um certo número de vezes. Para uma célula do tipo dos fibroblastos humanos, que constituem os tendões e tecidos semelhantes, o limite foi fixado em 50 duplicações. Mesmo em condições ideais de laboratório, protegida contra interferências internas e bem-alimentada, a célula esbarra nessa intrigante barreira, descoberta em 1961 pelos americanos Leonard Hayflick e Paul Moorehead. Posteriormente, verificou-se que qualquer célula humana tem o seu limite característico.
Se entendermos por que as células deixam de proliferar, compreenderemos algo sobre o envelhecimento”, aposta James Smith. Naturalmente, como ele mesmo diz, será mil vezes mais difícil compreender o envelhecimento de um ser humano inteiro. Os primeiros passos, no entanto, são animadores. Sabe-se, por exemplo, que as células de indivíduos mais velhos têm um limite de proliferação mais curto. É como se o seu programa da morte já tivesse sido parcialmente rodado. Há indícios, também, de que os genes responsáveis por esse programa se localizam nos cromossomos humanos de números 1 e 4.
Um dos genes já investigados, conhecido pela sigla c-fos, age de maneira bastante suspeita: quando é desligado, dispara-se a máquina do envelhecimento. Smith acredita ter encontrado um outro gene, cuja função é justamente desligar o próprio c-fos. Para outros pesquisadores, a chave para o programa da morte estaria no telômero, fragmento de gene que marca o início e o fim dos cromossomos. Estranhamente, esse marcador genético fica mais curto cada vez que uma célula se multiplica, dividindo-se em duas. Como o telômero é finito, ele chegaria ao fim depois de encurtar um certo número de vezes, em cada duplicação celular.
Isso explicaria o limite de Hayflick e propiciaria mais um elo da corrente ligando o programa da morte e o câncer, já que o telômero das células cancerosas não se altera. Não é preciso lembrar que toda cautela é pouca quando se avaliam idéias que representam meras especulações. Estas são sempre criativas, mas não são teorias acabadas. Talvez a melhor descrição do estado atual da pesquisa seja a do pesquisador Huber Warner, do Instituto Nacional para o Envelhecimento, dos Estados Unidos: “Ainda estamos tateando. Mas com um mínimo de luz, e não em completa escuridão”. Portanto, não há realmente como prever até que ponto a vida humana poderá ser estendida, no futuro próximo.
O prazo de 150 ou 200 anos é apenas uma razoável medida daquilo que se pode obter para a longevidade, quando se tem em mente o que já se conseguiu, na prática, com as moscas e outros animais simples. É inegável, porém, que as respostas estão se tornando incomparavelmente mais precisas do que eram há míseros dez anos. E devem se tornar bem mais confiáveis a curto prazo, quando as experiências passarem a ser feitas com ratos, cujo organismo é mais parecido com o dos homens do que o das moscas. E esta é apenas uma das linhas de pesquisa atualmente em curso, sem que ninguém saiba de onde poderão vir os melhores resultados.
Alguns dizem que, desde já, se pode prever um teto de até 400 anos para a duração da vida humana, contra o máximo observado atualmente de mais ou menos 120 anos (75 anos é a expectativa de vida média). Sem dúvida, será preciso pesquisar várias décadas para obter um pequeno avanço nessa direção: por exemplo, para elevar o teto de 120 para 150 anos. Mas, ao mesmo tempo, espera-se que as diversas correntes de idéias consigam chegar a um denominador comum, proporcionando uma visão ampla sobre o significado da vida e da morte. São dois fenômenos opostos, aparentemente incompatíveis entre si. Mas sempre exerceu grande fascínio sobre a imaginação do homem o fato de andarem sempre juntos, como os dois lados de uma mesma moeda.
Só o futuro poderá dizer se é mesmo assim, mas essa impressão subsiste na idéia de que o corpo traz em si o cronograma do seu fim: de que há genes para organizar o desenvolvimento das células e também há genes para coordenar o seu desaparecimento. Talvez porque, em vez de ser mera negação, a morte seja um estranho artifício que a natureza criou para tornar possível a manutenção da vida. Daí o forte apelo intelectual da idéia da morte programada.
Se ela se confirmasse, mostraria uma ironia des-percebida no comovente enredo do filme O caçador de andróides, do diretor Ridley Scott, no qual o agente Rick, herói da história, escapa por pouco de ser destruído pelo andróide Batty, terrivelmente forte e astuto. Rick se salva porque os circuitos eletrônicos do andróide estavam programados para levá-lo à morte no prazo máximo de quatro anos. Ao pressentir o final, Batty desiste do golpe de misericórdia e apenas anuncia com tristeza: “Hora de viver, hora de morrer”. A ironia é que os engenheiros que projetaram o corpo de Batty — e o próprio Rick — também estariam programados pa-ra morrer. Eles apenas não sabiam disso.
Para saber mais:
A ameaça dos radicais
(SUPER número 11, ano 4)
Tudo beleza. A ciência dos cosméticos
(SUPER número 1, ano 11)

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017 Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia
Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês
O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês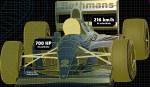 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


