De guerreiras a rainhas, de ativistas a presidentas e primeiras-ministras, as mulheres deste capítulo subverteram a ordem e as convenções sociais das épocas em que viveram para chamar atenção para suas lutas. Nem todas foram bondosas, mas suas histórias ajudaram a moldar o mundo.
Edição: Sílvia Lisboa | Textos: Juan Ortiz, Maurício Brum, Pedro Nakamura e Stéfani Fontanive |
Edição de Arte: Estúdio Nono | Design: Andy Faria | Ilustrações: Débora Islas e Cristina Kashima
Quando ela morreu, uma longa era na história da humanidade chegou ao fim também: o Antigo Egito enquanto uma potência relativamente independente.

Dezenas de dinastias haviam se sucedido nos últimos milhares de anos e, quando Cleópatra chegou ao poder, já eram os gregos que dominavam a região. A chamada dinastia ptolomaica, à qual ela pertencia, havia mudado muitas coisas – até mesmo a língua, que passou a ser a mesma de Atenas.
Cleópatra foi uma rara faraó que tentou reviver algumas tradições do passado: a única descendente dos gregos a aprender egípcio, ela também buscou usar sua influência (e sedução) para manter a autonomia do Egito. Graças a uma aliança com Roma, Alexandria foi reconquistada sob seu comando, e Cleópatra conseguiu reinar absoluta.
Ela se casou com Júlio César e teve o único filho biológico do lendário líder romano, que ganharia o nome de Ptolomeu Cesário. Vivendo em tempos turbulentos tanto para os egípcios quanto para os romanos, Cleópatra tentou se equilibrar em meio às disputas de poder da época, com diferentes doses de sucesso dependendo do tamanho da crise.
Quando César foi traído e assassinado em pleno Senado romano, ela tentou fazer de Cesário – então um menino de 3 anos – o seu sucessor, mas não foi ouvida. Em vez disso, foi nomeado um triunvirato com os senadores Otávio, Marco Antônio e Lépido. A rainha egípcia então se aproximou de Marco Antônio, com quem também manteve um relacionamento.
Roma, porém, seguia engolida pelo caos político. Novas guerras civis marcaram a disputa de poder entre os três líderes, e Otávio logo se tornou o mais forte deles, pronto para mandar sozinho. Encurralados, Cleópatra e Marco Antônio, que estavam em Roma, fugiram para o Egito, onde encontrariam seu fim: com tropas otavianas marchando sobre Alexandria, Marco se suicidou. Cleópatra também teria optado por tirar a própria vida alguns dias mais tarde – segundo a lenda, deixando-se picar por uma cobra.
Com o caminho livre pela frente, Otávio buscou se livrar de qualquer oposição futura: 11 dias depois da morte de Cleópatra, o agora faraó por descendência Cesário era assassinado, aos 17 anos. Oficialmente, foi o último dos faraós, embora já sem poder algum. Sua mãe havia sido a derradeira comandante do Egito livre.
O legado de Cleópatra permanece vivo na arte, na literatura e até no cinema. O fim da sua vida marcou uma passagem de bastão definitiva entre grandes reinos da Antiguidade: o Egito tornou-se uma mera província do que seria o Império Romano.
![]()
Villa Isabela é considerada a primeira cidade fundada por europeus nas Américas.

O povoamento, situado no norte da ilha de Hispaniola (hoje dividida entre República Dominicana e Haiti), não durou muito: em menos de dez anos, os próximos colonizadores se estabeleceriam em lugares mais promissores. Mas o nome ficou na história, assim como a pessoa que o inspirou: Isabel 1ª, a rainha de Castela.
O financiamento para a grande viagem de Cristóvão Colombo, que mudaria o mundo (e o mapa-múndi), foi o último grande ato de uma vida repleta de transformações que Isabel encabeçou. Até mesmo o seu casamento ajudou a alterar fronteiras: em 1469, juntou-se com Fernando 5º de Aragão, unindo as duas principais coroas da Península Ibérica e, na prática, reunificando a Espanha.
O casal ficaria conhecido como os reis católicos, uma alcunha que ganhou ainda mais força quando os dois garantiram o domínio da sua fé por toda a região. Sob os desígnios de Isabel, a Inquisição voltou com força total, comandada pelo temido frei Tomás de Torquemada. Judeus acabariam perseguidos e mais de 200 mil tiveram que fugir para manter a fé sem acabar na fogueira. Quem tentou ficar só podia escapar da morte renegando sua própria religião – tornaram-se os chamados “cristãos novos”.
Foi também em seu reinado que a Espanha expulsou definitivamente os mouros. Muçulmanos do norte da África que vinham ocupando a Península Ibérica há quase 800 anos, eles foram derrotados em Granada, seu último enclave, no dia 2 de janeiro de 1492. Um ano, aliás, repleto de acontecimentos: alguns meses mais tarde, em 12 de outubro, Cristóvão Colombo desembarcou no Novo Mundo, na mesma ilha onde Villa Isabela viria a ser fundada.
Colombo, genovês de origem, havia sido patrocinado por Isabel em seu projeto de dar a volta ao mundo até a Índia. Em vez disso, encontrou um continente inteiramente desconhecido – que a Espanha não tardou em tomar para si, aceitando apenas dividir parte do território com a outra grande potência naval da época, Portugal.
O domínio transatlântico iniciado no reinado de Isabel fez com que a Espanha se tornasse um dos impérios mais poderosos do mundo nos séculos seguintes. Hoje, mesmo sem a riqueza do passado, o legado espanhol segue presente na cultura de grande parte do mundo: o idioma castelhano é a língua oficial de 20 países, com mais de meio bilhão de falantes nativos.
![]()
Filha de nobres alemães com bem menos dinheiro do que o título sugeria, a pequena Sofia era ignorada pela mãe, que desejava um filho homem.

Filha de nobres alemães com bem menos dinheiro do que o título sugeria, a pequena Sofia era ignorada pela mãe, que desejava um filho homem.
Perdida no interior da Pomerânia, nada indicava que algo grande aconteceria para ela. Tudo mudou com uma carta vinda da Rússia: uma proposta de noivado com o futuro imperador, por sugestão da imperatriz Elizabeth. A mãe da jovem e a imperatriz eram amigas de longa data – Elizabeth a considerava parte da família por ter sido noiva de seu irmão, que faleceu antes do casamento.
Sofia chegou em São Petersburgo com 14 anos. Esforçou-se para aprender o idioma e a religião do seu novo país. Certa noite, para dominar mais rápido o russo, ficou estudando até tarde no frio, e contraiu pneumonia. A população ouviu sobre o episódio e passou a admirar a pequena princesa estrangeira. Sofia converteu-se à religião ortodoxa e mudou o nome para Catarina.
O casamento com Pedro 3º veio dois anos depois. Seu marido não nutria sentimentos por ela e nada aconteceu na noite de núpcias – nem nos anos seguintes. Passava por humilhações e privações. Nesse período, começou a colecionar amantes. Só produziu um herdeiro real após nove anos de casamento, mas há dúvidas sobre a paternidade da criança.
Quando Elizabeth morreu, Pedro 3º se tornou imperador. Ele desejava se casar com outra mulher, e deixava isso explícito: em um baile real, retirou a faixa dedicada especialmente a Catarina e deu para sua amante. A gota d’água para ela foi seu marido ameaçar prendê-la. Ela então passou a integrar o grupo que planejava tirá-lo do poder.
Catarina deu um golpe de estado e, mesmo sem sangue russo, tornou-se imperatriz com apoio da maioria da população. Meses depois, em circunstâncias misteriosas, Pedro III apareceu morto.
Em seu governo, ganhou o título de “déspota esclarecida”, conquistou territórios e modernizou a Rússia. Foi a primeira líder a anexar a Crimeia ao país, aumentou a coleção de artes do palácio, instaurou um sistema melhorado de ensino e criou a primeira escola para mulheres. Chegou até a discutir o fim da servidão dos plebeus do campo. Mas os benefícios aos nobres que não precisavam servir ao exército ou pagar impostos geraram revoltas camponesas – reprimidas militarmente.
Sobre sua vida pessoal, há uma certeza: amava sexo. Colecionava objetos eróticos e amantes. Quando enjoava, livrava-se deles – mas os deixava com uma pensão de agradecimento. Um dos homens chegou a tornar-se rei da Polônia. Teve mais três filhos, e devido a sua agitada vida amorosa, é difícil determinar suas paternidades.
![]()
“O sol nunca se põe no Império Britânico” virou um ditado comum no século 19. Em seu auge, o poder vindo de Londres se estendia sobre áreas tão distantes (e diferentes) como o Canadá, a Austrália, o Sudão ou a Índia.

Governando quase 420 milhões de pessoas espalhadas em protetorados e colônias em todos os continentes, os britânicos chegariam às vésperas da 1a Guerra (1914-1918) controlando um quarto da população e das terras do mundo – e a maior parte dessa incrível expansão se deu com uma mulher no trono.
Vitória não foi a primeira rainha britânica e, desde 2015, quando foi superada em duração por Elizabeth 2ª, também deixou de ter o reinado mais longo de seu país. Ainda assim, poucos monarcas foram tão influentes como Vitória, a mulher mais poderosa do século 19, que deixou marcas ainda presentes na política e na cultura. Foi ela, por exemplo, que iniciou a tradição de se casar usando branco, em uma época em que a maioria das noivas preferia vestidos coloridos. Na cerimônia, ela ainda exigiu que nenhuma convidada utilizasse a sua cor, para não roubar o seu destaque. A moda logo pegou no resto do mundo.
O amor entre Vitória e seu príncipe-consorte, Albert, foi avassalador – e raro em um período de casamentos arranjados. Em 20 anos, tiveram nove filhos. Quando Albert morreu em 1861, Vitória passou a vestir roupas pretas pelos 40 anos seguintes, até sua própria morte.
Mas sua importância foi muito além desse legado cotidiano. Ocupando o trono por quase 64 anos, ela foi o símbolo de uma modernização. Embora o poder real já estivesse reduzido no Reino Unido, com o Parlamento ditando a maior parte das ações desde 1688, foi Vitória que aprofundou um novo estilo de monarquia constitucional: com uma postura discreta, ela fortaleceu a ideia de que uma rainha (ou rei) deveria estar sempre acima das picuinhas dos partidos – o que nunca a impediu de atuar nos bastidores, onde defendeu posturas conservadoras e ajudou a estabelecer acordos de paz nas guerras europeias dos anos 1870.
Falecida em 1901, a rainha não viveu para ver seus descendentes diretos lutando na 1a Guerra: seu neto, o rei britânico George 5º–, era primo do czar Nicolau 2º, da Rússia, e do kaiser Guilherme 2º, da Alemanha. Um dos conflitos mais sangrentos já vistos começou, em parte, como uma briga familiar – e vovó Vitória não estava mais lá para acalmar os ânimos. Em menos de 15 anos, o Império Britânico começou a perecer.
![]()
Passado meio século de guerra, o reino do Ndongo, na atual Angola, estava prestes a ruir: Portugal vinha atacando seu território desde 1575, buscando alimentar o comércio de escravos.

Então, o rei pediu à sua irmã Jinga Mbande que chefiasse uma delegação para negociar um tratado de paz em 1622.
Pronto para ouvir as súplicas, o governador João Correia de Sousa aguardava em uma poltrona aveludada, certo de que a princesa sentaria no tapete colocado à sua frente. Mas a nobre africana não se curvou. Imediatamente, dirigiu o olhar para uma de suas servas, que simulou uma cadeira humana com as mãos e os joelhos apoiados no chão.
Agora, ambos estavam na mesma altura. Jinga permaneceu por várias horas nas costas da jovem, argumentando em um eloquente português que lhe fora ensinado por missionários. A cena impressionou os lusitanos e ajudou a obter termos favoráveis aos nativos. Seria a primeira grande cartada de Jinga para se tornar a mais respeitável soberana da região.
Após tirar o próprio irmão da jogada, reinou por quatro décadas. Seu temido exército era formado por adolescentes altamente treinados e uma rede de espiões. Assumiu diversos nomes e credos por estratégia política – inclusive “Ana de Sousa”, depois de ser batizada na fé católica. Teve vários maridos e concubinos, e exigia que usassem as mesmas roupas de suas guarda-costas femininas. A luta anticolonialista de Jinga foi resgatada nos anos 1960 e 1970 pelos movimentos de independência da Angola, que fizeram dela uma heroína nacional.
![]()
Por mais de 40 anos após a morte de Maomé, o profeta do islamismo, foi uma mulher quem ajudou a levar suas palavras cada vez mais longe: Aisha, a quem ele costumava recorrer em vida, quando precisava tomar decisões importantes.
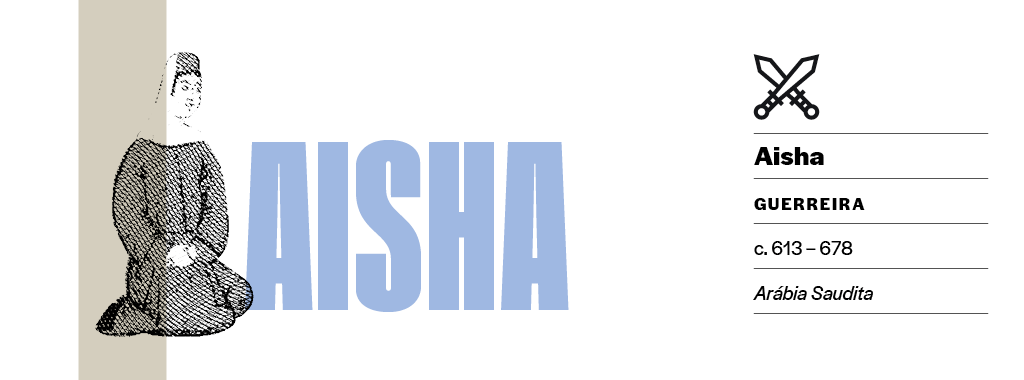
Ela havia sido a terceira de suas 13 esposas, e também a favorita – em geral, Maomé se casava com viúvas de seus seguidores próximos, para garantir o sustento delas. Com Aisha, porém, a conexão foi mais forte, e se refletiu na difusão da religião.
Após a viuvez, ela não se casou mais, e dedicou o restante da vida a promover o Islã: foi conselheira de Abubacar (seu pai), o primeiro califa a governar após a morte de Maomé, e de seu sucessor, Omar. A mais proeminente mulher do mundo árabe em seu tempo, ela também fez oposição àqueles que considerava inadequados para a fé: em uma das guerras de sucessão, chegou a pegar em armas, ocupou uma cidade e mandou executar mais de 600 homens.
Aisha acabaria derrotada na chamada Batalha do Camelo, no ano 656, e faria uma mudança definitiva: levaria adiante os ensinamentos de Maomé não mais pela força, mas por meio da educação. Ela passou a dar aulas de caligrafia e história e também ensinou a recitar o Corão, que sabia de memória. Dedicava-se especialmente às mulheres, mas atendia a todos: com o tempo, ganhou a alcunha de mãe dos crentes. Hoje, com quase 2 bilhões de seguidores, a fé propagada por Aisha é a segunda maior do planeta, logo atrás do cristianismo – e a que mais cresce.
![]()
A trágica história de Joana D’Arc começa com uma criança pobre e analfabeta no interior da França do século 15, continua com ela se tornando heroína de guerra ainda na adolescência, desemboca em uma morte precoce, queimada na fogueira pela Inquisição…

e, mais tarde, culmina com ela sendo recuperada pela própria Igreja que a condenou: séculos após a morte, até santa ela virou.
Nascida no vilarejo de Domrémy, Joana D’Arc não sabia ler nem escrever, mas teve uma formação católica dada pela sua mãe. Assim, quando disse ter ouvido vozes pela primeira vez, aos 13 anos, não teve qualquer dúvida: tratava-se de emissários de Deus, mais exatamente o arcanjo São Miguel e as santas Margarida de Antioquia e Catarina de Alexandria – e o trio vinha com uma missão.
A ordem era salvar a França de seus invasores, colocando o “verdadeiro rei” no trono. O país estava então mergulhado em um interminável conflito com a Inglaterra, que ficaria conhecido como a Guerra dos Cem Anos (1337-1453): uma longa briga pela sucessão à coroa francesa, cujo capítulo mais recente havia sido um tratado de 1420 que considerava o inglês Henrique 5º como senhor também da França, ignorando o pleito de Carlos 7º, o francês pretendente ao trono.
Isso não caiu bem entre os moradores do norte da França, incluindo os de Domrémy, muitos dos quais seguiam leais a Carlos. Supostamente guiada pelos céus, Joana se dirigiu ao próprio rei e pediu um regimento militar. Garantia a Carlos que o veria coroado em breve e, contra todos os conselhos, o monarca decidiu pagar para ver: Joana D’Arc foi integrada ao exército e recebeu os soldados que pediu.
Ela venceria o cerco de Orléans em julho de 1429, apenas nove dias após chegar à cidade, abrindo caminho para o triunfo final das tropas leais a Carlos. Duas décadas e meia mais tarde, os franceses acabariam vencendo a longa guerra, expulsando os britânicos e garantindo que nunca mais um inglês dominasse o país.
Joana D’Arc, porém, não viveu para ver tudo isso. Meses após a coroação de Carlos 7º, foi capturada por tropas inimigas e entregue a Pierre Cauchon, um bispo amigo dos ingleses. Acusada de heresia, mas na realidade julgada por razões políticas, foi condenada. Seria queimada pela Inquisição aos 19 anos e esse poderia ser seu triste final.
Mas, em 1456, um julgamento post mortem virou o jogo de vez: Joana D’Arc foi reconhecida como mártir da fé católica e redimida para sempre. No século 20, 500 anos após sua morte, também seria canonizada.
![]()
Manuela León nasceu, cresceu e morreu na vila de Punín, região central do Equador.

Indígena de origem Puruhá, aturou por 30 anos os abusos contra seu povo: eram obrigados a trabalhar de graça na construção de estradas pelo país, tinham que dar 10% de sua produção para os coletores de dízimo – fora as extorsões –, e as mulheres ainda sofriam estupros de milicianos.
Em dezembro de 1871, Manuela se uniu aos indígenas rebeldes e comandou a tomada de seu vilarejo. Cravou sua lança no peito de um tenente, arrancou os olhos dele e mandou sua tropa atear fogo nas casas dos brancos. A cena assustou o governo, que reagiu decretando estado de sítio em toda a província de Chimborazo e reprimiu a rebelião com força máxima. Aos poucos, os 10 mil soldados indígenas viraram desertores, e Manuela foi capturada pelos inimigos.
Cerca de 200 membros da comunidade assistiram à execução de sua líder guerreira em praça pública. Manuela León foi amarrada a um pelourinho e fuzilada pelas forças do presidente equatoriano Gabriel García Moreno. Nas atas oficiais, os carrascos acharam melhor chamá-la de “Manuel”. Mas a história oral dos nativos não deixou que apagassem seu nome. Manuela virou exemplo de resistência dos povos originais das Américas, humilhados mesmo após as independências nacionais da região. Em 2010, ela foi declarada heroína do Equador pelo Congresso do país.
![]()
Aos 14 anos, a catarinense Anita Maria de Jesus Ribeiro parecia ter seu destino traçado: casada com um sapateiro, não deveria ter uma história de vida muito diferente da de tantas mulheres de seu tempo – casar, ter filhos, ficar em casa costurando.

Às vésperas de fazer 18, porém, libertou-se radicalmente das convenções da época: em julho de 1839, conheceu o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi e largou tudo para seguir os ideais do amado.
O casal lutou ao lado dos farroupilhas, os rebeldes gaúchos que, em 1836, fundaram uma república independente no Sul. Na batalha naval de Laguna, ela usou um pequeno barco para transportar munição em meio ao fogo cruzado. Em Curitibanos, caiu prisioneira, mas conseguiu escapar e reencontrou Giuseppe. Meses depois, em Mostardas, teve de fugir de uma tropa imperial com o filho de apenas 12 dias no colo.
Juntos, Anita e Giuseppe seguiriam lutando pelas causas que julgavam justas: em 1841, combateram ao lado dos uruguaios contra a invasão argentina. Em 1848, viajariam à Itália e se tornariam heróis da reunificação do país, recebendo estátuas dos dois lados do Atlântico. Ela acabaria conhecida como a “Heroína de Dois Mundos” – título também dado ao marido.
Anita faleceria jovem, encerrando aos 27 anos uma vida intensa que tomou rumos impensáveis algum tempo antes. Grávida do quinto filho, ela fugia das tropas austríacas que tentavam tomar Roma e derrotar a causa dos Garibaldi. Morreu livre.
![]()
Quando soube que o soldado Medeiros era, na verdade, uma mulher, seu comandante ficou indignado. Mas deu o braço a torcer: era uma combatente importante demais para se abrir mão.

Maria Quitéria tinha 30 anos quando deixou a casa do pai para se tornar a primeira militar mulher do Brasil. Queria defender a independência proclamada em 7 de setembro de 1822. A conquista de autonomia em relação a Portugal encontrou oposição na metrópole e rendeu uma série de batalhas pelo Brasil.
Buscando manter as mãos em cidades estratégicas, os lusitanos assumiram o comando de Salvador, ex-capital da Colônia. No interior a resistência era mais forte – e Feira de Santana, terra natal de Maria Quitéria, foi uma das cidades mais aguerridas.
Ouvindo que as tropas precisavam de homens, ela decidiu que também podiam contar com uma mulher: pegou a farda do cunhado, encurtou o cabelo e se uniu ao regimento de artilharia. Sem medo, participou de algumas das principais batalhas e liderou campanhas para capturar reféns.
Maria Quitéria ganharia o epíteto de heroína da Independência e foi condecorada pelo imperador Dom Pedro 1º, que também assinou uma carta ao pai dela, pedindo que perdoasse a filha pela fuga de casa. Em 1996, foi declarada patrona do Quadro Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro. Hoje, seu retrato pode ser visto em todos os estabelecimentos militares do País.
![]()
Guaibimpará conheceu o náufrago português Diogo Álvares em 1510, quando ele estava prestes a ser morto pelos nativos.
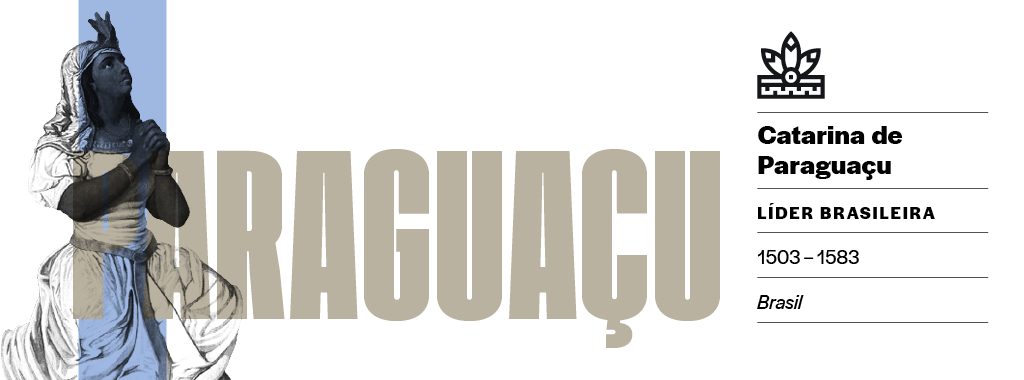
Filha de um influente cacique tupinambá, a menina de 7 anos intercedeu pela vida do europeu, apelidado pelos indígenas de Caramuru (“homem de fogo”). O forasteiro acabou aceito pela tribo e adotou a tradição poligâmica. Uma das companheiras foi justamente sua salvadora.
Em 1528, o casal cruzou o Atlântico rumo à França, onde ela foi batizada e recebeu o nome de Catarina do Brasil. Álvares era parceiro de franceses contrabandistas de pau-brasil.
De volta a Paraguaçu, atual território baiano, Catarina promoveu matrimônios entre nativas e brancos – o que evitava que seu povo fosse ainda mais dizimado, embora facilitasse a dominação cultural. Quando Álvares foi aprisionado por rivais portugueses, ela liderou tropas para resgatá-lo. Patrocinou a construção da Igreja e Abadia de Nossa Senhora da Graça, em Salvador. Catarina de Paraguaçu entrou para a história como a “mãe do Brasil”, a figura feminina mais antiga da nação e a primeira brasileira a ter influência política após o “descobrimento”.
Pelo menos, essa é a versão oficial – que sempre tratou melhor indígenas que abriram mão de seus costumes. As outras, dependentes da tradição oral indígena, foram apagadas pela cruz e esquecidas pelo tempo.
![]()
A norte-americana Dorothy Stang chegou à Amazônia brasileira em 1966 como missionária da Congregação Irmãs de Notre-Dame de Namur.

Desembarcou no Maranhão e depois migrou para Anapu, no sudeste do Pará, Estado que mais desmata no Brasil. Na época, era comum que freiras e padres das alas progressistas da Igreja migrassem rumo a países menos desenvolvidos para ajudar pobres a lutar pelos seus direitos.
O Brasil se encontrava em plena ditadura e começava a tomar forma o projeto dos militares de povoar a Amazônia, cujo lema era “Integrar para não entregar” – já se sabia do enorme potencial econômico da floresta e da cobiça estrangeira. Para dar cabo da proposta, o governo concedeu terras a fazendeiros e empresários de outros Estados dispostos a “desenvolver” a região. Sem controle algum, teve início uma ocupação predatória, que incentivou o desmatamento e o garimpo.
Dorothy, ou Doti como era chamada, inquietava-se com a destruição da floresta de um lado, e a miséria dos povos nativos de outro. Na época – como agora –, havia um discurso recorrente: não era possível desenvolver a Amazônia sem grandes obras, já que o povo precisa de emprego. Doti achava isso um equívoco: havia sim modos de gerar renda sem derrubar a floresta. Dedicou sua vida a provar que isso era possível.
Organizou trabalhadores e gestou uma nova proposta de reforma agrária de cunho ambiental. Seu carisma a ajudou a articular forças ao redor do seu projeto, batizado de Projeto de Desenvolvimento Sustentável, os PDS, e a convencer o governo a destinar grandes áreas ao projeto.
Ela era incansável. Atravessava os grotões amazônicos em motos para se reunir com camponeses, e depois enfrentava 600 km de Anapu a Belém do Pará, para se reunir com promotores e diretores do Incra, o órgão agrário do Brasil. Sua semente vingou: ela conseguiu a concessão de duas áreas que somam 60 mil hectares no Pará para assentar colonos com compromisso de conservar a floresta. Mas entrou em rota de colisão com grileiros. Foi assassinada em fevereiro de 2005. Sua morte gerou uma comoção internacional que fez o governo brasileiro acordar para a necessidade de conter o desmatamento e combater a grilagem. Ainda hoje os PDS criados por ela resistem no coração da Amazônia.
![]()
A história de Rigoberta Menchú começou a ser conhecida pelo resto do mundo nos anos 1980, após ela fugir da perseguição em seu país natal e se asilar no México.
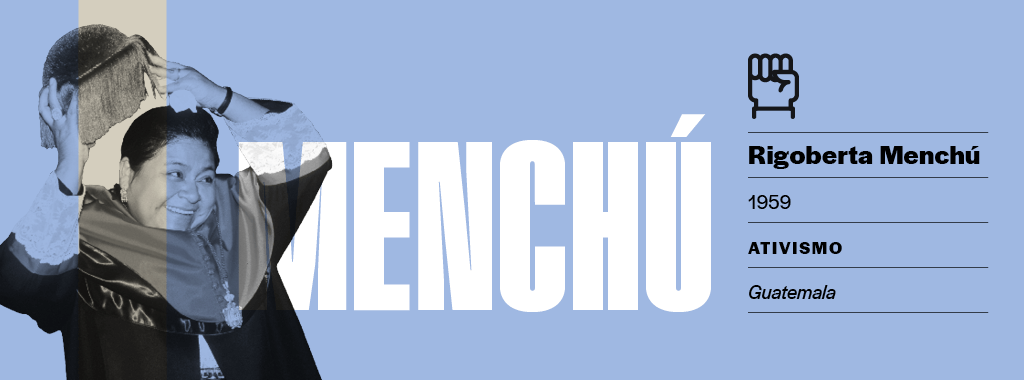
Publicada em inglês alguns anos mais tarde, sua autobiografia revelou uma trajetória de dor, pobreza, sofrimento e lutas – que era, também, a história de seu próprio povo, os indígenas maias que ainda restavam na América Central.
Na Guatemala, eles ainda são uma das etnias mais representativas do país, e cerca de 40% da população tem alguma ascendência maia. Mas, nos anos em que Rigoberta estava crescendo, eles não eram apenas marginalizados por conta de um longo preconceito herdado dos tempos coloniais: também se tornaram alvo de perseguição política. O país vivia então uma longa guerra civil, que se estendeu dos anos 1960 até 1996, e o governo acreditava que os povos indígenas apoiavam – sem exceção – as guerrilhas rurais que ganhavam força no interior guatemalteco. Na prática, o discurso de combater os movimentos armados em nome da segurança nacional serviu também para promover a limpeza étnica e o branqueamento do país.
Durante os conflitos, Rigoberta viu seus familiares pegarem em armas para resistir à violência do governo militar. Ela perdeu a mãe, o pai, um irmão e um primo nas mãos da repressão, todos eles se tornando números a mais na lista de vítimas do chamado “holocausto silencioso” da população maia. Diante da indiferença do resto do mundo, algumas estimativas falam em mais de 160 mil indígenas mortos durante o período mais intenso do genocídio, entre 1981 e 1983.
Optando por uma resistência pacífica aos horrores que testemunhou, Rigoberta Menchú fugiu para não engrossar as valas comuns de seu país. Nas décadas seguintes, ela se tornaria uma pedra no sapato do governo, liderando manifestações, trazendo novas denúncias à imprensa estrangeira e organizando coletivos de ajuda mútua. Em 1992, ela ganhou o Nobel da Paz, usando o dinheiro do prêmio para criar uma fundação pelos direitos de indígenas e mulheres na Guatemala.
“Eu acordava todos os dias e me perguntava: ‘o que vou fazer para incomodá-los (o governo) hoje?’”, recordou. Seu ativismo ajudou a atrair os olhos do mundo para a causa do povo maia, pressionando por políticas de reparação após o fim da guerra civil. Ainda hoje, lembra o mundo (e o próprio país) que os povos pré-colombianos ainda vivem no continente, e seguem tendo direitos ignorados pelos poderosos: “nós não somos vítimas do passado, ruínas na floresta ou em zoológicos. Somos pessoas que querem ser respeitadas, e não vítimas de intolerância ou racismo”.
![]()
Era difícil crescer como uma jovem pashtun no Vale do Swat, ao norte do Paquistão. Ainda mais quando o Talibã começou a intimidar qualquer um – e qualquer uma – que contrariasse sua rígidas regras morais.

Mulheres não podiam estudar e ponto. Mas uma garota paquistanesa estava determinada a romper a censura: seu nome era Malala, o mesmo de uma lendária guerreira afegã.
Praticamente criada na escola do pai, professor e ativista da região, a menina circulava pelas salas de aula antes de saber falar. Aos 7 anos, já era uma aluna brilhante que ajudava os colegas com as tarefas. Não fazia o tipo introvertida, tinha uma oratória invejável e, ao contrário do costume local, dispensava o véu no rosto. Aos 11 anos, virou fonte de um jornalista da BBC, a quem contava sobre as escolas destruídas, os ataques de homens-bomba e as proibições dos talibãs. Seus relatos foram transformados em um blog assinado sob o pseudônimo de “Gul Makai” em 2009. Mas suas denúncias anônimas não davam suficiente repercussão, e Malala decidiu falar diante das câmeras para pressionar as autoridades. “Não é só por mim, mas por todas as mulheres que lutam pelos seus direitos e têm o desejo de estudar”, disse em uma coletiva de imprensa. O grupo terrorista achou que ela tinha ido longe demais.
Em 9 de outubro de 2012, a estudante voltava para casa quando dois sujeitos pararam seu ônibus escolar. “Qual de vocês é Malala?”, perguntou um deles. Ao reconhecer a única aluna com a face à mostra, o homem deu três tiros. A primeira bala entrou perto do olho esquerdo dela e as outras atingiram os braços de duas colegas. Como o estado de Malala era crítico, teve que ser levada de helicóptero para um hospital militar, onde passou por uma cirurgia no crânio. Depois, foi transferida para uma clínica no Reino Unido. As três garotas sobreviveram.
Desde o ataque, Malala percorre o globo promovendo os direitos das mulheres, discutindo assuntos geopolíticos com chefes de estado e defendendo a educação das crianças. Seu livro autobiográfico Eu sou Malala (2013) vendeu milhões de cópias ao redor do mundo. Aos 17 anos, ela se tornou a pessoa mais jovem da história a receber o Nobel da Paz, concedido em 2014. Paquistaneses mais conservadores diziam que ela era apenas uma menina que não sabia de nada. Hoje ela tem 22 e estuda filosofia, política e economia na Universidade de Oxford, na Inglaterra.
![]()
A primeira Constituição republicana do Brasil, de 1891, tinha uma ambiguidade que deixou muitas mulheres esperançosas: após décadas de voto restrito a homens ricos (o chamado voto censitário), o novo texto não deixava claro que participar das eleições era exclusividade deles.

A Carta lavava as mãos para a questão – simplesmente dizia que os eleitores aptos eram os maiores de 21 anos. E ponto.
Na prática, porém, o texto apenas empurrava o problema com a barriga: coube aos deputados e senadores escrever uma lei eleitoral mais clara e, quando chegou a hora de complementar as regras, os homens mantiveram todo o poder. Quando a professora Leolinda Daltro percebeu que o tema seria logo varrido para baixo do tapete, decidiu que o único caminho era agir de forma enfática. Convenceu suas alunas a segui-la, pintou faixas e cartazes, e marchou pelas ruas pelo voto feminino.
Uma versão brasileira das suffragettes que vinham fazendo barulho no mundo anglófono, Leolinda nasceu na Bahia, mas já vivia no Rio quando começou sua atuação política mais famosa – antes de militar pelos direitos das mulheres, ela já havia se destacado no ativismo defendendo que indígenas recebessem uma educação laica. Em 1910, para pressionar ainda mais pela causa sufragista, Leolinda fundou e liderou o Partido Republicano Feminino, uma organização considerada clandestina na época.
A luta de Leolinda inspirou outras mulheres a enfrentar as leis da época, como a bióloga paulista Bertha Lutz, que organizou o primeiro congresso feminista do Brasil, e a professora potiguar Celina Guimarães Viana, que em 1927 se tornou a primeira mulher a se registrar para votar, aproveitando uma nova lei estadual no Rio Grande do Norte – seu voto, porém, seria posteriormente anulado pelo Senado, que seguia sem aceitar a igualdade de homens e mulheres perante a lei. O voto feminino só viria a ser autorizado no Brasil cinco anos depois. Já nas primeiras eleições com participações de mulheres, em 1933, Leolinda Daltro se lançou candidata a deputada federal para a nova Assembleia Constituinte de Getulio Vargas. Em seu santinho, anunciava a quem ainda não a conhecia: “a sua campanha feminista precedeu à de todas as senhoras que se apresentam como leaders do feminismo”.
Leolinda não chegou a ser eleita, e faleceu pouco depois, mas sua semente tinha rendido frutos: naquela mesma votação, a médica paulista Carlota Pereira de Queirós tornou-se a primeira mulher brasileira a ingressar na Câmara.
![]()
Em 1963, a Ku Klux Klan explodiu uma igreja em Birmingham, Alabama.
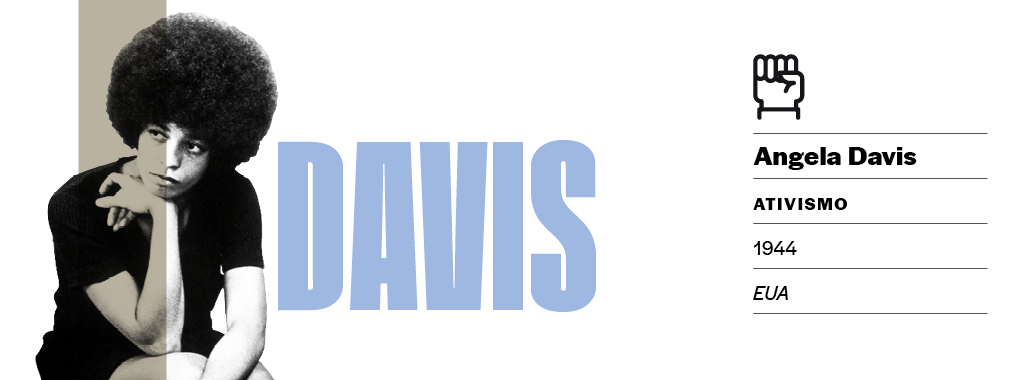
No atentado, quatro meninas entre 11 e 14 anos morreram e 22 pessoas se feriram – todos negros. Nascida na cidade, Angela Davis conhecia as garotas mortas. Havia crescido perto da mesma igreja, em um subúrbio “de cor” onde a KKK costumava jogar bombas nas casas, para intimidar os moradores. Não à toa chamavam seu bairro de Dynamite Hill.
Filha de pais militantes pelos direitos dos negros, Davis nasceu em um EUA que permitia por lei a segregação racial. Inconformada, desde adolescente esteve em protestos e organizou grupos de estudos, sendo várias vezes presa pela polícia. Como queria ir à universidade, precisou se mudar para o norte do país.
Lá, a pensadora negra se aprofundou em filosofia e língua francesa. Suas boas notas logo lhe renderam bolsas de estudo pela Europa, em faculdades de Paris, Frankfurt e Berlim. De volta aos EUA, prestigiada e doutora, Davis se tornou professora universitária na Califórnia, aos 25 anos. Porém, um ano após assumir o cargo, foi demitida por ser filiada ao Partido Comunista.
Impedida de lecionar, resolveu se dedicar totalmente à militância, sobretudo contra o racismo do sistema prisional americano. Começou a acompanhar como o judiciário do país julgava acusados negros, e logo a opressão racial desse sistema se voltou contra ela.
Em 1970, integrantes dos Panteras Negras, movimento que defendia a resistência armada contra a opressão de negros, entraram armados em um tribunal que julgava um caso considerado injusto pelo movimento. A operação deu errado, com juízes e jurados sendo mortos, e o FBI quis usar o desastre para perseguir Angela. Mesmo sem provas sólidas, acusaram a ativista de ser cúmplice da ação e a prenderam – o que rendeu um grande movimento pela libertação da filósofa, inocentada e solta em 1972.
Além de incansável militante, Angela também é reconhecida como uma das principais teóricas do feminismo interseccional, que analisa a sociedade capitalista como uma estrutura que cruza opressões de raça, classe e gênero.
Ironicamente, a prisão de Angela pelo FBI ocorreu antes da dos terroristas que explodiram a igreja de sua cidade, em 1963. Só após o movimento negro sacudir a hipocrisia da época que os responsáveis pela explosão em Birmingham seriam condenados. O primeiro em 1977 e o último dos acusados somente em 2002 – todos brancos.
![]()
Em 1943, após pagar a sua passagem para tomar um ônibus, a costureira Rosa Parks ouviu uma ordem indigesta: devia descer e entrar pela porta dos fundos, dirigindo-se ao lugar dedicado aos negros.

Como estava na lei e ela não podia se atrasar, decidiu seguir a norma – mas, antes que pudesse entrar novamente, o motorista arrancou a toda velocidade e a deixou a pé.
Rosa Parks entraria na história graças a sua resistência às leis segregacionistas justamente dentro de um ônibus, mas não naquele dia. Na ocasião, tudo o que restou foi a indignação, e um par de decisões: ao ser abandonada na parada, ela prometeu nunca mais entrar num ônibus dirigido por aquele motorista, e também que passaria a se esforçar cada vez mais para nenhum negro ser humilhado daquela forma no futuro. No fim daquele mesmo ano, Rosa entrou na NAACP, a Associação Nacional pelo Avanço das Pessoas de Cor, e logo virou secretária da organização.
Na década seguinte, ela se tornaria uma ativa defensora do fim das leis Jim Crow, que garantiam direitos (e espaços) muito diferentes para brancos e negros no sul dos EUA. Ela vivia em Montgomery, no Alabama, um dos epicentros da segregação. Mas o momento definitivo da sua militância aconteceria 12 anos depois, em um ônibus dirigido pelo mesmo motorista que ela havia jurado evitar – e no qual acabou entrando sem se dar conta.
Era 1º de dezembro de 1955, e Rosa Parks já estava sentada nos lugares destinados às pessoas “de cor”. Mas, algumas paradas depois, o veículo lotou. A lei da época exigia que, nesses casos, os negros deveriam ficar em pé, cedendo lugar aos brancos. Todos os outros presentes se conformaram. Rosa, não. Ficou sentada. Sua resistência rendeu voz de prisão na hora: pela antiquada legislação do Alabama, motoristas de ônibus ganhavam poder de polícia caso vissem “crimes” acontecendo dentro dos carros que dirigiam.
O caso repercutiu no país inteiro e a transformou em um símbolo da luta por igualdade. Os negros de Montgomery boicotaram o transporte coletivo, caminhando de um lugar a outro enquanto a lei não caísse, e levando o sistema ao colapso. Um pastor até então pouco conhecido se solidarizou com a causa: Martin Luther King Jr.
Não era apenas por lugares nos ônibus. Negros eram impedidos de usar os mesmos bebedouros que brancos e também não podiam votar. Embora a luta contra o racismo persista até hoje, a última lei abertamente segregacionista dos EUA cairia em 1965, dez anos após Rosa Parks se recusar a ficar em pé.
![]()
Após meses buscando seus filhos desaparecidos, sem sucesso, um grupo de mulheres argentinas decidiu reclamar diretamente ao governo.

Era um ato de coragem: o país vivia sob uma das ditaduras mais violentas da América Latina, e qualquer questionamento podia ser punido com a morte. Estima-se em mais de 40 mil as vítimas do regime militar do país hermano. Azucena Villaflor, uma telefonista ligada ao movimento sindical, seria uma das mães – e também uma das vítimas.
Como as manifestantes eram senhoras de meia-idade, os soldados em frente ao palácio presidencial reagiram, de início, com menos brutalidade que o normal. Disseram que aglomerações não eram permitidas e que elas deveriam “circular”. E foi o que fizeram: a partir daquele dia (e ainda hoje) elas se reuniram todas às quintas-feiras na Praça de Maio, em frente ao palácio de governo em Buenos Aires, pedindo justiça para os seus filhos desaparecidos. Logo, ficaram conhecidas como as Mães da Praça de Maio.
O movimento, pacífico, tornou-se um incômodo constante aos militares. No coração da capital argentina, as mães expunham ao mundo uma realidade que os poderosos preferiam ocultar: os desaparecidos não eram necessariamente guerrilheiros diabólicos que queriam destruir o país, como dizia a propaganda oficial – eram maridos, pais, filhos, e seu sumiço não seria aceito em silêncio.
Conforme as manifestações cresciam, também a violência repressiva ganhava força. Azucena era uma das fundadoras do movimento, que ajudou a iniciar após a prisão de seu filho, Néstor, e da namorada dele. Transformada em alvo, foi sequestrada por um grupo paramilitar ligado à Marinha, em 10 de dezembro de 1977, justamente a data consagrada como o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Aprisionada e torturada, Azucena foi assassinada – acredita-se que tenha sido vítima dos chamados “voos da morte”, em que prisioneiros eram jogados no mar a partir de helicópteros e aviões, aparecendo “afogados” nas praias. Enterrada sem identificação, Azucena se tornou ela própria uma desaparecida política. Seus restos mortais seriam localizados em 2005.
Mesmo com as várias tentativas de intimidação, as mães inspiradas por Azucena e outras pioneiras seguiram lutando por justiça e reparação. Aquelas senhoras enlutadas que, sem armas na mão, tentavam derrubar um regime sanguinário, se tornaram o símbolo mais poderoso contra os generais. Hoje, Azucena Villaflor dá nome a escolas e ruas na Argentina. Jorge Rafael Videla, general que mandava no país quando ela foi morta, morreu na prisão em 2013. Cumpria uma pena perpétua.
![]()
Estilista consagrada, a mineira Zuleika Angel Jones já havia organizado inúmeros desfiles de moda em sua carreira.

Seus desenhos eram cultuados no Brasil e no exterior e nada indicava que aquele evento seria diferente dos anteriores. Talvez mais importante do que a maioria, pois celebrado no Consulado Brasileiro em Nova York, uma das capitais mundiais da moda, mas ainda assim uma passarela como tantas outras.
Em 13 de setembro de 1971, porém, quando o desfile começou, a vida de Zuzu Angel já havia sido transformada de forma brutal e irreparável. Cinco meses antes, seu filho, Stuart, havia sido capturado pela ditadura brasileira, torturado e estava desaparecido. Stuart Angel estudava economia no Rio de Janeiro e militava no Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), que fazia oposição armada ao regime, e sua mãe jamais pôde enterrá-lo – ou mesmo ter uma confirmação oficial da sua morte.
Nova York então viu um desfile diferente: em uma das peças, a mais marcante, as estampas tradicionais haviam sido substituídas por símbolos da repressão – quepes militares, um jipe, um soldado fardado, um canhão. Ao fim da exibição, Zuzu Angel falou à imprensa internacional e cobrou justiça para o filho. Ela sabia que Stuart provavelmente havia sido assassinado, mas queria poder se despedir dele – direito que lhe foi negado até o fim.
Nascida no interior de Minas Gerais, mas vivendo no Rio desde a juventude, Zuleika de Souza Netto virou Angel após seu casamento com o norte-americano Norman Angel Jones, em 1947. Com um estilo que utilizava materiais típicos do vestuário brasileiro, estampas de papagaios e borboletas, além de pedras e conchas, seu trabalho ganhou repercussão fora do País. Após a morte do filho, utilizou sua fama para denunciar, no exterior, a violência da ditadura brasileira – tornando-se símbolo das mães que choravam no Brasil e se convertendo, ela própria, em um alvo dos militares.
Zuzu Angel morreu aos 54 anos, no que foi chamado pelas fontes oficiais de um “acidente automobilístico”. Uma versão que, já na época, havia sido questionada – pouco antes, ela havia deixado na casa de Chico Buarque uma carta-denúncia: “se eu aparecer morta, por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho”. Após a ditadura, investigações comprovaram as suspeitas: agentes da repressão haviam perseguido seu carro e o jogado para fora da pista, na saída do túnel carioca que hoje leva o nome da estilista.
![]()
A lei, datada de 7 de agosto de 2006, está nos livros como a de número 11.340, mas poucos brasileiros a conhecem dessa forma.

Lei Maria da Penha é como foi batizado o dispositivo legal que criou proteções especiais às vítimas de violência doméstica no País. Antes, esses crimes eram considerados de menor potencial ofensivo e o fato de terem acontecido em ambiente familiar não era considerado agravante.
O nome da lei não é à toa: foi resultado de uma luta de duas décadas da farmacêutica cearense que, após sofrer uma dupla tentativa de feminicídio em 1983, passou a buscar reparação contra o então marido – encontrando, nos tribunais, uma quantidade surpreendente de obstáculos para a punição.
O relacionamento dos dois havia começado nos anos 1970. Maria da Penha estava cursando o mestrado na USP quando conheceu o colombiano Marco Antonio Heredia, também estudante. Os dois se casaram, tiveram três filhas, e voltaram para Fortaleza, a cidade natal dela.
Com o tempo, o marido passou a agir com violência, e Maria da Penha entrou no círculo vicioso experimentado por muitas vítimas: esperando que o companheiro mudasse e temendo o impacto do fim da relação sobre as crianças, silenciou sobre o que sofria.
As agressões que mudaram a situação quase lhe custaram a vida. Em 1983, Marco Antonio deu um tiro nas suas costas, deixando-a tetraplégica. À polícia, disse que havia sido um assalto. A perícia desmentiu a versão, mas, na época, isso fez pouca diferença: ele seguiu em liberdade, recebendo-a em casa após a alta. Poucos dias depois, tentou matá-la de novo – eletrocutando-a durante o banho.
Ela sobreviveu, separou-se e passou a caminhar pelos labirintos do Judiciário. Descobriu um sistema que fazia o máximo para dificultar a vida das vítimas. O caso só começou a ser julgado oito anos após o primeiro tiro. O ex-marido foi inicialmente sentenciado a 15 anos de prisão, mas a pena foi suspensa. Ele só seria preso em 2002, após o caso ganhar repercussão internacional, mas permaneceria em regime fechado por apenas 16 meses.
Vendo como seu agressor seguia livre, Maria da Penha buscou instâncias internacionais. Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou o Estado brasileiro pela omissão diante da violência doméstica, um vexame mundial. Ela foi indenizada pelo governo e os esforços pela criação de uma lei específica finalmente dariam resultado.
Hoje, ficou mais fácil denunciar e levar o processo contra violência adiante. Estima-se que, desde 2006, a lei tenha contribuído para salvar mais de 300 mil vidas no Brasil.
![]()
Em novembro de 1893, a Nova Zelândia se tornou o primeiro país do mundo a aceitar o voto feminino, uma decisão revolucionária para a época e que logo inspiraria mulheres de outros lugares a entrar na luta pela democracia.

Kate Sheppard foi uma das pioneiras pela mudança: meses antes, ela havia reunido o maior abaixo-assinado da história de seu país – mais de 32 mil nomes ao longo de 270 metros de papel, apoiando a causa sufragista.
Ela havia passado a vida escutando que mulheres deveriam cuidar dos maridos e dos filhos, deixando a política para os homens. Mas nunca esmoreceu: viajou ao redor da Nova Zelândia, organizou comícios, pressionou parlamentares e escreveu artigos em jornais.
Nascida na Inglaterra, ela se mudou na juventude para Christchurch, uma das maiores cidades neozelandesas. Iniciou sua militância em 1885 e logo virou uma das vozes mais ouvidas da causa, escrevendo panfletos de grande repercussão.
Mesmo após alcançar o sufrágio universal no país e ver esse direito se espalhar pelo mundo nos anos seguintes, Kate seguiu ativa na luta por direitos. Embora já pudessem votar, as mulheres ainda levariam duas décadas e meia para poder se candidatar a cargos públicos.
Kate viveria o bastante para ver Elizabeth McCombs se tornar a primeira mulher eleita ao Parlamento.na Nova Zelândia.
![]()
Com a morte de Jawaharlal Nehru, primeiro-ministro desde a independência do país 17 anos antes, sua filha única, Indira Gandhi, foi a escolhida para substituí-lo, em 1966.

Para os colegas de partido, Indira seria popular, por conta do pai, e facilmente manipulável, por ser mulher. Mas após eleita, uma surpresa: Gandhi (sem parentesco com o Mahatma) traiu aliados, centralizou poderes e esmagou minorias.
Carismática em público e autoritária nos bastidores, Indira baseou seu populismo na defesa da maioria hindu. Apoiada pela então União Soviética, implementou medidas socialistas, estatizou bancos, indústrias e aliviou a fome no país. Também venceu uma guerra contra o Paquistão e ganhou o apoio das massas por isso. Contudo, em 1975, a líder foi acusada de fraude eleitoral. Ela então declarou estado de sítio e prendeu adversários para se manter no poder. Dois anos depois, convocou eleições e perdeu, mas voltou ao cargo em 1979, eleita pelo povo em um novo pleito.
A única mulher a liderar a Índia manteve o posto até morrer: em 1984, após mandar invadir um templo Sikh e prender separatistas, levou 25 tiros de seus próprios seguranças, membros dessa minoria religiosa. Como reação ao assassinato, hindus lincharam siques por todo o país, em um dos maiores massacres religiosos da história indiana.
![]()
Se há uma figura feminina sinônimo de poder no século 21, é Angela Merkel.

Com fama de durona, mas sempre democrática, a chanceler germânica chegou a ser chamada de nova “líder do mundo livre” por alguns jornais estrangeiros – um título normalmente atribuído ao presidente dos Estados Unidos.
Merkel, porém, cresceu com pouca democracia: o Muro de Berlim foi erguido quando ela tinha 7 anos, e a pequena Angela passou toda a juventude no que então era a Alemanha Oriental. Doutora em química, ela inicialmente passou longe da política: com os caminhos fechados pela ditadura socialista, preferiu seguir a carreira acadêmica, e só começou a ganhar proeminência no final dos anos 1980, tornando-se uma das lideranças jovens que pediam a reunificação das Alemanhas.
Foi com o furacão de mudanças que começou a tomar conta do país que Merkel passou, pouco a pouco, a abandonar a vida universitária e trilhar cada vez mais firme os caminhos do poder. Em 1989, o Muro caiu. No ano seguinte, a Alemanha voltou a ser uma só e Angela Merkel concorreu para seu primeiro cargo eletivo no “novo” país, entrando no Parlamento.
Ascendendo pouco a pouco no Partido Democrata-Cristão, foi ministra de Mulheres e Juventude e, posteriormente, de Meio Ambiente – até se tornar o principal nome da sigla e assumir como primeira-ministra em 2005. Enfrentando testes como a crise econômica mundial de 2008 e a falência de países-membros da União Europeia, como a Grécia, além do influxo de refugiados do Oriente Médio no continente, Merkel se tornou a líder incontestável do bloco. Enquanto a crise se espalha entre seus vizinhos, a Alemanha de Merkel cresce fortalecendo suas exportações. Suas políticas de austeridade nem sempre foram populares, mas o êxito econômico dentro da Alemanha lhe garantiu sucessivas reeleições.
Ela assumiu o governo com a maior taxa de desemprego desde que Hitler chegou ao poder nos anos 1930 (13%), e, em 2019, reduziu o número para 3%, a menor proporção desde a reunificação. Mesmo em um período de crises, o PIB alemão cresceu a uma média de 2% ao ano na última década.
Em um país historicamente marcado pelas ditaduras sanguinárias de outros tempos, Merkel alcançou o protagonismo por meio da paz e da modernização.
![]()
Ela já havia servido dois mandatos como primeira-ministra do Paquistão quando, em campanha para voltar ao cargo em 2007, foi assassinada durante um comício.

Dezenove anos antes, Benazir Bhutto havia se tornado a primeira mulher a governar um país muçulmano, provocando reações radicais de grupos fundamentalistas.
Vivendo em uma sociedade conservadora e machista, Benazir precisou equilibrar os anseios de abertura com as tradições locais: seu casamento foi arranjado (apesar disso, dizia ter a grande sorte de a “química acontecer”), mas, por outro lado, desde cedo seu pai deu margem para que ela seguisse na política. O pai, Zulfikar Ali Bhutto, um rico latifundiário sunita, havia estudado em Oxford, tinha simpatia por ideias ocidentais e foi, ele próprio, primeiro-ministro entre 1973 e 1977.
Quando Zulfikar foi derrubado por um golpe e executado dois anos mais tarde, Benazir assumiu a liderança do partido. Perseguida pelos inimigos da família, precisou se exilar pela primeira vez, na Inglaterra. Mas, no fim dos anos 1980, o clima político havia virado novamente: Benazir regressou ao país e foi recebida por um milhão de apoiadores em Lahore, considerada a metrópole mais cosmopolita do país. O retorno triunfal abriu caminho para sua vitória eleitoral de 1988.
No entanto, a instabilidade política, a constante atuação de grupos terroristas e as fugas do país natal para se proteger acabariam se tornando uma constante na biografia da mulher mais poderosa do mundo islâmico no século 20. Atacada pela oposição e acusada de corrupção, Benazir via suas tentativas de fazer reformas que garantissem mais direitos para as mulheres serem sabotadas pelos adversários.
Em um país que havia sido fundado justamente pela religião – o Paquistão era parte da Índia e, na época do fim do colonialismo britânico, foi desmembrado para que os muçulmanos da região não se tornassem uma minoria entre hindus e budistas –, a agenda modernizadora de Benazir não caía bem entre seus opositores mais ferrenhos. Além disso, seus governos coincidiram com a ascensão do Talibã, que passou a aterrorizar o interior repleto de aldeias remotas.
Perseguida, Benazir voltou a se exilar em 1999 e seu marido, que não conseguiu escapar, foi preso. Oito anos mais tarde, ela voltou, mas não pôde concluir seu objetivo. Mesmo correndo risco de vida, insistiu em ir às ruas e falar às multidões. Em 27 de dezembro de 2007, foi baleada por um terrorista ligado ao Talibã. Fora de seu país, ela se tornou um símbolo da esperança por governos seculares em países muçulmanos. Mas, no Paquistão, nenhuma outra mulher voltou a ter o seu poder.
![]()
“Evita” Perón foi, provavelmente, a primeira-dama mais poderosa da história.

Sem um cargo formal, mas, na prática, sendo tão decisiva quanto uma ministra para as políticas de aumentos salariais e direitos femininos, ela se tornou uma figura fundamental para sustentar o governo do marido, o presidente argentino Juan Domingo Perón. Ao morrer com apenas 33 anos, Eva também manteve seu culto: até hoje, sua figura cristalizada em uma eterna juventude aparece em retratos espalhados por toda a Argentina, quase como uma santa local.
Ela nasceu muito longe dessa badalação toda, em um povoado chamado Los Toldos, e passou seus anos iniciais em Junín, uma localidade não muito distante da capital. A ascensão de Eva Duarte (o “Perón” só viria após o casamento) ao estrelato – e ao poder – começaria após ela se mudar para Buenos Aires, aos 15 anos, em busca do sonho de se tornar atriz. No início, conseguiu emprego em radionovelas, mas seu talento a transformou numa estrela de cinema. Em 1945, Eva e Juan Domingo se casariam, iniciando a dobradinha mais famosa do peronismo. Militar de carreira que vinha se tornando cada vez mais influente, ele chegaria à presidência no ano seguinte.
“Evita” virou o rosto público do novo governo e, valendo-se de seu carisma para dobrar os poderes mais tradicionais da Argentina, ajudou a implantar leis trabalhistas e ganhou a simpatia do movimento operário.
Em 1951, nas primeiras eleições com sufrágio universal – outra conquista que ela ajudou a impulsionar –, Evita havia se tornado tão popular que muitos queriam vê-la como vice na chapa do marido. Mas, pressionada pelas disputas políticas e com a saúde debilitada, desistiu de concorrer.
Perón venceria outra vez, mas a primeira-dama já vinha lutando contra um câncer de colo uterino. Ela morreu em 26 de julho de 1952, provocando uma comoção inédita no país. Conta-se que até 2 milhões de pessoas foram às ruas da capital acompanhar o cortejo fúnebre e que todos os floristas de Buenos Aires fecharam as portas: ficaram sem ter o que fazer por dias, após vender seus estoques inteiros para a multidão enlutada.
Evita virou uma figura tão cultuada que, após a derrubada de Perón por um golpe em 1955, seu corpo foi retirado do país – o novo governo queria expurgar os símbolos do peronismo, ainda hoje influente nas eleições argentinas. Nos anos 1970, o corpo foi finalmente sepultado no mausoléu da família, em Buenos Aires.
![]()
Desde a revolução que colocou os comunistas no comando da China, em 1949, os homens dominaram a política local. Apenas uma mulher se destacou: Wú Yí, que ganhou fama pela capacidade de diálogo para resolver crises.

Sua carreira começou para valer em 1989, quase três décadas após entrar no Partido Comunista Chinês, quando se tornou vice-prefeita de Pequim. Em um momento de convulsão social, adquiriu proeminência ao convencer mineradores a interromper um protesto e voltar ao trabalho, evitando um massacre prometido pelo governo.
Seu nome se destacou fora do país em 2003, quando virou ministra da saúde. A China passava por um surto de gripe aviária. Para encontrar uma saída, Wú rompeu o sigilo da ditadura chinesa e abriu os dados internos sobre a doença, entrando em contato com a Organização Mundial da Saúde, ministros americanos e europeus.
Pela forma como lidou com a crise, foi escolhida vice-primeira-ministra da China. Até hoje, a única mulher a ocupar o cargo. Em sua nova posição, causou polêmica ao interceder pela médica Gao Yaojide, que deveria ir aos EUA receber um prêmio pelos serviços prestados no combate à aids, mas foi proibida pela cúpula do governo. Wú Yí, pessoalmente, fez com que a viagem fosse liberada.
Mas sua grande característica, sua abertura ao diálogo com “inimigos” e sua fama começaram a incomodar outros líderes comunistas. Em 2007, quando era considerada a segunda mulher mais poderosa do mundo (atrás apenas de Angela Merkel), Wú Yí foi obrigada a se aposentar.
![]()
A oposição dizia, pejorativamente, que ela era a “viúva chorosa” e seu gabinete não passava de uma “cozinha”.

Conhecida como uma dona de casa, ela se lançou na política após o assassinato de seu marido, o primeiro-ministro Solomon Bandaranaike. Com discursos emotivos, ideias socialistas e uma plataforma que pregava os direitos das mulheres e das crianças, Sirimavo ganhou fama de estadista e arrastou multidões. O sucesso inicial de seu governo ajudou a romper preconceitos quanto à capacidade de uma mulher de governar.
Seu segundo mandato, porém, foi mais acidentado. Nos anos 1970, Bandaranaike não conseguiu evitar que um barril de pólvora herdado do marido explodisse em suas mãos: as políticas segregacionistas implementadas por Solomon mergulharam o país em um conflito étnico entre a maioria cingalesa e a minoria tâmil. A guerra civil deixou mais de 60 mil mortos – e o cessar-fogo só veio em 2009, quase uma década após a morte de Sirimavo.


