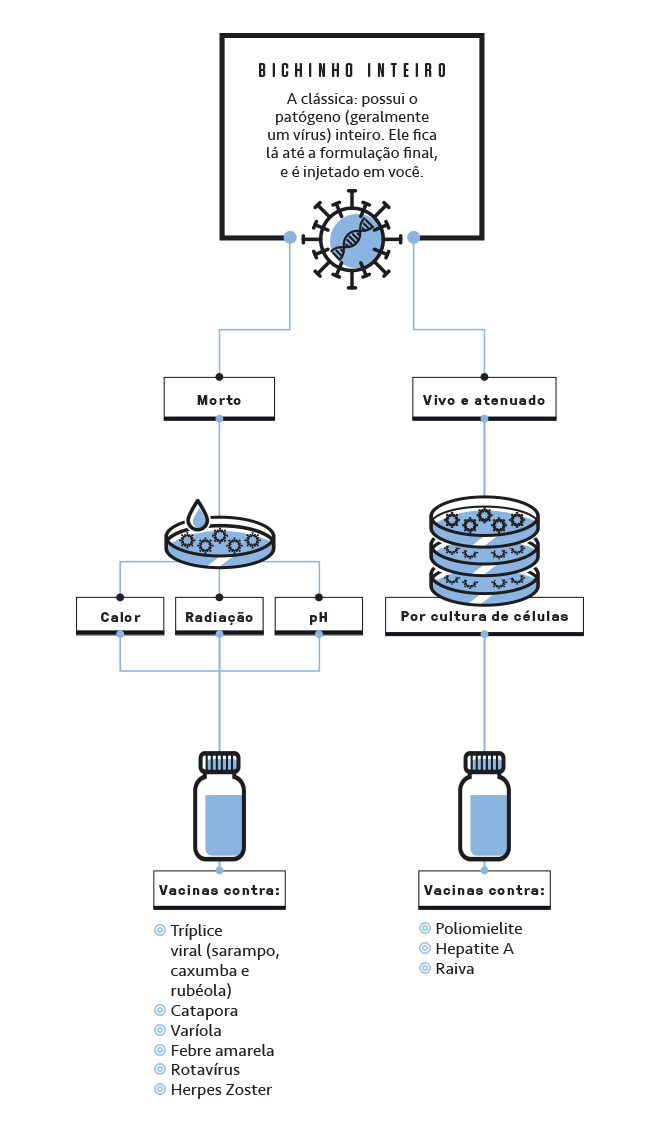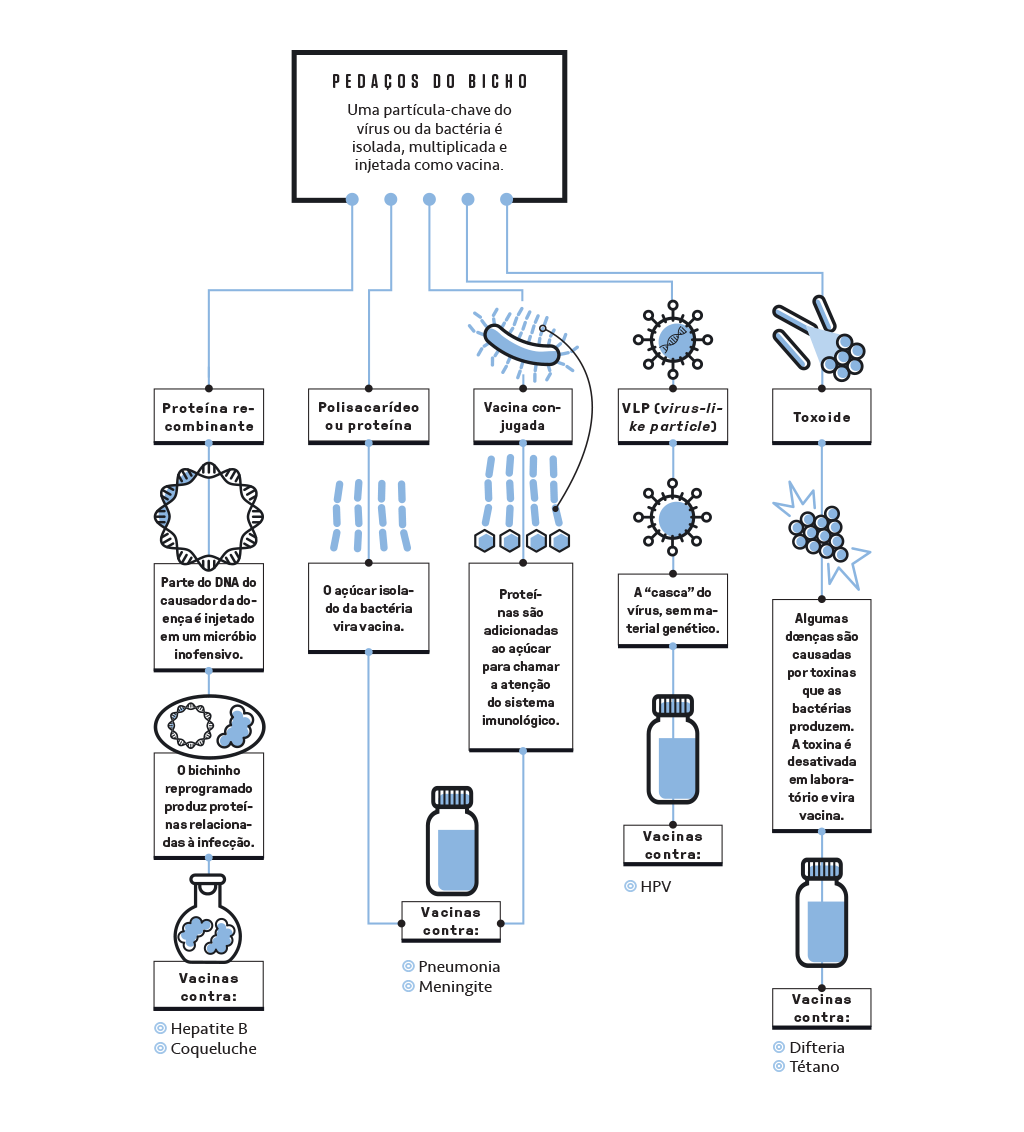Texto: Ana Carolina Leonardi | Design: Juliana Caro
A vacina é um daqueles heróis com um passado obscuro. Por ano, ela previne 3 milhões de mortes ao redor do mundo, segundo a OMS, e oferece proteção para mais de 30 doenças. Poucos investimentos trouxeram um custo-benefício tão bom ao longo da história da humanidade: controle de epidemias, redução da mortalidade infantil, e uma economia brutal para os serviços de saúde.
Acima de tudo, porém, a ciência da vacina chama a atenção pela elegância. Se há uma novidade na microbiologia, existe alguém pensando em como usá–la para criar uma vacina melhor – seja para doenças novas, inéditas na carteira de vacinação, ou para aquelas cuja imunização poderia ser mais eficiente. Por essas, a vacina costuma ser o creme de là creme das ciências da saúde. Mas nem sempre foi assim.
A ideia de vacina existe há mais de mil anos. Mas, nos seus primórdios, a vacinação era indubitavelmente bruta. E arriscada. Eram meios desesperados para situações desesperadas. A história da vacina começa com a varíola, uma doença viral (hoje, erradicada) cujas epidemias aterrorizaram gerações. As primeiras tentativas de provocar, de propósito, versões mais brandas da doença para proteger indivíduos saudáveis teria ocorrido ainda no século 10, na Índia e na China. Já os métodos que eles utilizavam… Bem, eram engenhosos por um lado, e bizarros por outro.
A varíola forma pústulas vermelhas na pele. Quando as pústulas de um doente estavam quase secas, a casquinha do machucado era retirada, macerada até virar um pó a ser inalado pela pessoa que queria se proteger. Outro método era cortar a mão ou braço do indivíduo saudável, e colocar ali um emplastro embebido em secreção da pústula. Se tudo desse certo, essa nojeira toda causava uma forma branda da doença, garantindo a criação de anticorpos capazes de enfrentar a versão pesada da varíola.
Esse último método ficou conhecido como variolação ou inoculação – e foi usado no mundo todo até o final do século 18. Era mais perigoso que as vacinas atuais, já que causava infecções fatais em três em cada cem pessoas. Mas era bem mais seguro que a varíola, que matava dois a cada dez contaminados.
Um dos primeiros governantes a apoiar publicamente a variolação foi o imperador chinês K’ang Hsi, que reinou até 1722. Ele subiu ao trono criança – o pai morrera de varíola. Também contaminado, o imperador sobreviveu, cheio de cicatrizes das pústulas no rosto. Quando adulto, não teve dúvida: mandou variolar todos os filhos e parentes próximos.
A essa altura, a variolação já era feita por curandeiras na Turquia. Quem achou o negócio interessante foi a aristocrata Lady Mary Montagu, mulher do embaixador inglês. Ela levou a variolação para o Reino Unido – e começou sua “campanha” inoculando a própria filha de 2 anos.
Outros apoiadores célebres incluem a Rainha Catarina 2a da Rússia – cuja variolação rolou em segredo, com o médico sobreavisado de que, caso ela morresse, ele teria que fugir do país imediatamente – e o político americano Benjamin Franklin.
Nessa época, o medo da inoculação já era bem estabelecido – e as fake news “antivaxxers” já corriam soltas. Em 1736, Benjamin Franklin perdeu um filho de 4 anos. O rumor que se
espalhou era de que a causa da morte teria sido variolação.
Franklin precisou ir a público para desmentir o boato. Explicou que o filho morreu de varíola mesmo – porque o próprio Franklin sentiu medo de vaciná-lo. Dali em diante, Benjamin seria um dos maiores apoiadores da imunização como política pública de saúde:
“Faço isso em nome de outros pais, que evitam a inoculação por supor que nunca perdoariam a si mesmos se um filho morresse no processo. Meu exemplo mostra que o arrependimento é o mesmo [ao se perder um filho para a doença]”.

É quase na virada do século 19 que vem à tona a vacina tradicional – e a própria palavra “vacina” –, com o trabalho do médico inglês Edward Jenner. Ele verificou que uma doença que afligia vacas podia ser transmitida a humanos: pústulas nas tetas dos bovinos doentes acabavam provocando feridas nas mãos das pessoas responsáveis pela ordenha. O mais incrível, porém, é que a tal doença da vaca tornava os ordenhadores imunes à varíola.
Hoje, sabemos que a enfermidade da vaca – a varíola bovina – pertence à mesma família do vírus humano. Jenner não sabia, mas percebeu que injetar a secreção das pústulas bovinas em humanos era mais seguro e mais eficiente que a variolação. Nascia assim a primeira vaccina (do latim vaccinus, “que vem da vaca”). Ele seguia o seguinte processo: retirar a secreção de varíola bovina do bicho, inseri-la em um ser humano, esperar a reação, e aí usar a secreção dessa pessoa – um vírus “humanizado” – para inocular a próxima pessoa. E outra, e outra. As primeiras vacinas, portanto, eram passadas de braço em braço.
Nos anos seguintes, porém, cientistas perceberam que depois de passar por tanta gente, a vacina ia perdendo a potência (provavelmente, porque àquela altura o vírus já tinha aprendido a lidar com uma série de sistemas imunológicos diferentes). As secreções paravam de causar reações, e também de fornecer proteção antivaríola. E aí eles precisavam retornar à fonte animal. A transmissão de braço em braço tinha ainda um outro defeito: acabava transmitindo outras doenças, como sífilis e hanseníase.
Na Itália, o médico Gennaro Galbiati descobriu que era possível reinfectar a vaca com a secreção de pústulas humanas, e aí manter o vírus humanizado em circulação sem precisar ser repassado de pessoa em pessoa. Com essa descoberta, os produtores de vacinas passaram a criar animais com o único propósito de servir como incubadores de vírus.