Texto: Guilherme Eler | Ilustração: Leandro Lassmar | Design: Carol Malavolta | Edição: Ana Carolina Leonardi
“É como se fosse uma biblioteca”, conta Luiz Simone enquanto caminha entre as estantes de seu laboratório no Museu de Zoologia da USP, onde trabalha há 16 anos. Em vez de armazenarem clássicos da literatura, as prateleiras estão repletas de itens que já foram vivos um dia. Polvos, ostras, mariscos, lulas, caramujos de todos os tipos ficam aprisionados em frascos com álcool. Um incontável estoque de conchas, cuidadosamente etiquetadas em potes plásticos, enchem centenas de gavetas de metal. É mesmo uma biblioteca – de moluscos.
O acervo possui 140 mil volumes diferentes, nacionais e importados, e é a maior coleção do Brasil dedicada a esses animais. Sua função principal é servir como um catálogo, um verdadeiro checklist da biodiversidade de invertebrados molengas de praias, mangues, cavernas e onde mais decidirem se esconder.
Como se fossem obras de referência, os bichos guardados ali podem ser consultados por qualquer cientista que queira entender mais a fundo as espécies já conhecidas pelos humanos. “Imagine se cada pesquisador que precisasse estudar uma espécie tivesse que ir até a natureza coletá-la?”, diz Simone.
Mas bancos do tipo podem também revelar espécies totalmente novas, que ninguém fazia ideia que existiam – e estavam escondidas bem debaixo do nariz dos cientistas.
O trabalho de descrever novas espécies na maioria das vezes não é concluído pelo mesmo cientista que se embrenhou em matas densas ou mergulhou em águas profundas atrás desses animais desconhecidos. O mais comum é que as amostras coletadas em missões do tipo sejam levadas para laboratórios e, então, passem por análises mais aprofundadas.
Em coleções mantidas por museus e universidades, esses animais aguardam placidamente a chegada dos experts em colocar ordem na bagunça: os taxonomistas. É ofício deles definir, a partir de diferentes critérios, se uma determinada amostra merece fazer parte do acervo – e, principalmente, se representa ou não algo novo. O trabalho é volumoso: pelo menos 5 mil lotes de moluscos chegam à coleção todo ano.
Mas como é possível saber que uma espécie é única, diferente de qualquer outra que já foi descrita? Em alguns casos, um olho treinado consegue entender logo de cara quando se trata de uma novidade. “Vai muito da experiência da pessoa. Eu lido com moluscos há quase 50 anos. Comecei criança, colecionando conchas, tinha por volta dos 10 anos e já sabia classificação zoológica. Eu não era normal”, brinca o pesquisador.
Quando a aparência do bicho – fatores como o tamanho da cabeça, formato dos dentes, penagem ou características da concha – não acusa nenhum ineditismo, o negócio é apelar para outros critérios. Novas espécies podem se acusar a partir de características como os seus hábitos alimentares, suas pegadas, o ninho onde vivem ou sua voz, por exemplo.
O problema é que, na maioria das vezes, tudo que os cientistas têm em mãos é um animal no interior de um vidro – sem um passado que possa fornecer dicas sobre sua origem. Sendo assim, a forma mais precisa de classificá-lo é investigar sua genética.
A ferramenta mais certeira para definir se uma espécie é igual a outra é a partir do sequenciamento de seu código genético. Para isso, costuma-se utilizar o método de “código de barras” (também conhecido por seu nome em inglês, barcoding). Ele consiste em analisar uma pequena sequência do DNA presente em um mesmo gene de dois indivíduos diferentes.
Mesmo o exame minucioso dos genes também não é garantia de sucesso absoluto. “Já vi barcoding de dois bichos serem diferentes e eles reproduzirem entre si, gerarem descendentes férteis. Também já peguei uma ostra do Brasil e outra da África e o barcoding deu exatamente igual”, conta Simone.
O nível de exigência faz o processo se arrastar ao longo de, no mínimo, um ano. “O normal é que dure dois ou três anos [até que se publique um artigo descrevendo uma nova espécie].” Ainda assim, o volume de novas descobertas impressiona: Simone estima já ter descrito quase 300 espécies, gêneros ou famílias de moluscos inéditos. O mais curioso é que cerca de 70% delas, segundo seus cálculos, estavam escondidas em coleções zoológicas. “Mas a gente não está aqui só para descrever bicho novo. O nobre da taxonomia é fazer revisões. Pegar um determinado gênero ou família, checar tudo e arrumar a casa”, completa o cientista. “Se eu parasse com as minhas outras obrigações e só descrevesse novas espécies, seriam umas 300 por ano, com facilidade.”


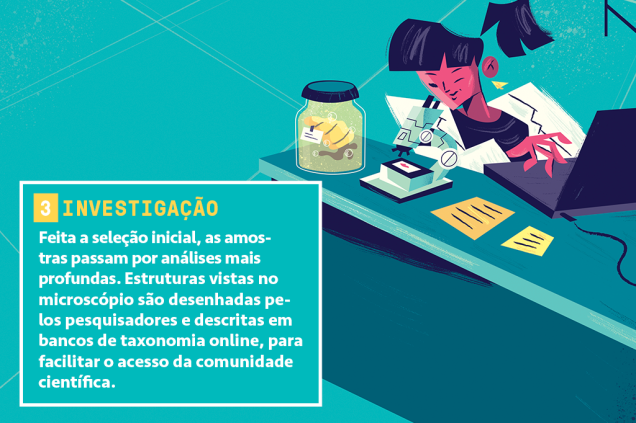





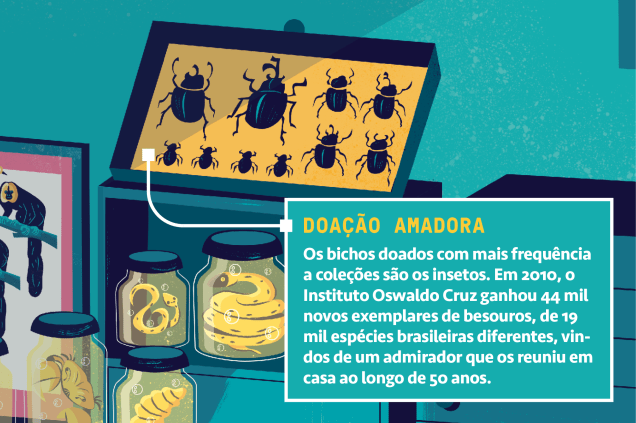
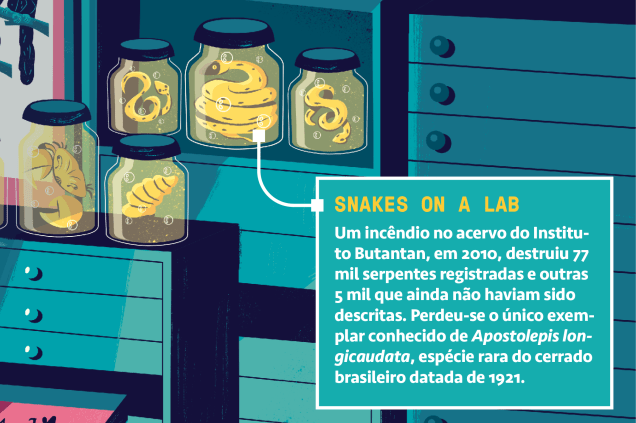



![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


