Como a crença em Iahweh evoluiu durante a ascensão e queda das monarquias de Israel e Judá.
Texto: Reinaldo José Lopes | Edição de Arte: Estúdio Nono / Cris Kashima
Design: Andy Faria | Imagens: Getty Images
e os adoradores de Iahweh continuassem a ser simples plantadores de cevada e pastores de ovelhas analfabetos, a deidade que hoje é objeto da fé de bilhões de pessoas mundo afora teria pendurado suas chuteiras há muito tempo, sendo lembrada apenas como mais um deus tribal obscuro do Oriente Próximo antigo. Mas a vida do povo de Israel acabaria passando por transformações profundas, e a visão que os israelitas tinham do próprio Iahweh inevitavelmente também seria transformada. Boa parte da motivação por trás dessas mudanças radicais provavelmente tem de ser colocada na conta dos reis israelitas, que transformaram um amontoado de tribos numa nação. Ou em duas – há controvérsias.
Escrevo isso porque, assim como ocorre no caso do Êxodo e da conquista de Canaã, existe um abismo considerável entre o que a narrativa bíblica conta sobre as origens da monarquia israelita, de um lado, e o que os dados arqueológicos e históricos têm mostrado nas últimas décadas, de outro.
De acordo com os chamados livros históricos do Antigo Testamento, os “filhos de Israel” passam vários séculos de sua vida na Terra Prometida organizados de forma tribal. No entanto, segundo o livro dos Juízes, as tribos não cumprem a orientação divina de exterminar todos os cananeus que encontrarem e passam a ser influenciadas pelos costumes pagãos de seus novos vizinhos. Por isso, a ira de Iahweh se abate sobre os israelitas, que começam a ser derrotados em batalha e são oprimidos pelos cananeus.
Tentando sair desse atoleiro, os israelitas pedem ao profeta Samuel que providencie um rei para eles. O primeiro rei, Saul, começa bem, mas se torna uma decepção, desobedecendo o Senhor. Cabe então a Samuel ungir, em segredo, um novo rei, o jovem pastor David, da tribo de Judá.
Após muitas peripécias, David finalmente assume o trono e governa as tribos de Israel por décadas. O rei acabaria se tornando o modelo de todos os governantes futuros, graças à sua devoção completa a Iahweh. Mas é com seu filho e sucessor, Salomão, que o reino alcança o auge. Salomão obtém de Iahweh a permissão para construir o Templo de Jerusalém, faz aliança com o Egito e a Fenícia, constrói um palácio suntuoso e cidades fortificadas.
Salomão, porém, ao desposar princesas estrangeiras, deixou-se seduzir também por deuses pagãos, despertando a fúria de Iahweh. O Senhor anuncia que os descendentes de Salomão continuarão a reinar sobre a tribo de Judá em Jerusalém, mas serão punidos com a perda do domínio sobre todas as demais tribos, com exceção da de Benjamim. Dali por diante, os israelitas ficariam divididos entre dois Estados monárquicos: Israel, o reino do Norte, e Judá, o do Sul.
Primazia nortista
Durante séculos, poucos historiadores discordavam da trama básica da história israelita que expus para vocês nos últimos parágrafos. Infelizmente para quem tenta defender a historicidade de cada detalhe da Bíblia, os dados arqueológicos mais recentes indicam que talvez nunca tenha havido um grande reino congregando todas as tribos israelitas. Isso porque, entre os anos 1000 a.C. e 900 a.C., a época do suposto domínio de David e Salomão, só havia grandes assentamentos no norte do território israelita, com baixíssima população em Judá, no sul. Não faria sentido que o punhado de habitantes de Judá dominassem seus primos muito mais numerosos e urbanizados do norte.
Isso significa que David e Salomão foram inventados pelos autores bíblicos? Provavelmente não. Inscrições em aramaico na chamada estela de Tel Dan, feitas entre 150 e 200 anos depois da época em que eles teriam vivido, mencionam a “Casa de David” (ou seja, a dinastia fundada por esse rei), e não há razões para duvidar que um guerreiro desse nome de fato conseguiu dominar os demais chefes tribais de sua região lá pelo ano 1000 a.C. Faz mais sentido imaginar que as tribos da região montanhosa passaram por um processo gradual e desigual de centralização política, o qual conduziu primeiro à formação do reino de Israel e, um pouco mais tarde, à do reino de Judá.
Ao rei o que é do rei, a Deus o que é de Deus
Seja como for, o fato é que a presença de um rei faz muita diferença, do ponto de vista religioso e das próprias ideias sobre Deus. Na prática, o principal impacto da presença de um monarca pode ser definido com uma única palavra: centralização. Quando você começa a conceber o culto divino como uma das funções básicas de um Estado centralizador, uma possibilidade forte é a transformação dos sacerdotes e funcionários dos templos, os sujeitos diretamente responsáveis pelas atividades religiosas formais, em funcionários públicos de alto escalão.
Uma vez que o rei e seus asseclas resolvem controlar o culto à divindade, surge a possibilidade de conflito entre a “religião oficial” e as manifestações religiosas populares, ou mesmo entre sacerdotes e leigos “reformistas” e o culto capitaneado pela monarquia. Conflitos desse tipo, de fato, marcam o texto bíblico.
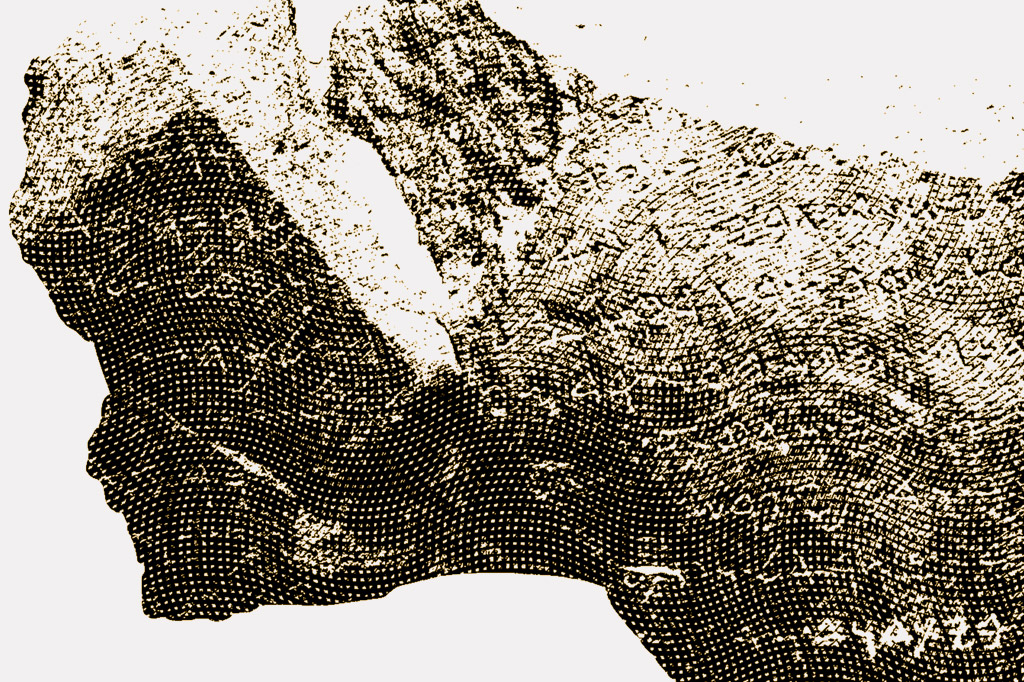
A convergência entre a figura de Iahweh e certas divindades mais antigas, como Baal, indica que um dos papéis originais do Deus bíblico é o de deidade guerreira — não é à toa que um dos epítetos mais comuns dele no Antigo Testamento é “Senhor dos Exércitos” (subentenda-se aqui tanto “exércitos celestes” quanto “exércitos de Israel”). Surge, assim, uma teologia monárquica na qual a promessa de vitória e domínio é transferida do povo como um todo para o rei. E o governante passa a ser visto como uma espécie de filho adotivo de Deus, conforme mostram, mais uma vez, alguns salmos.
Pode ser só coincidência, mas é intrigante que vários dos povos vizinhos e contemporâneos do Israel bíblico – lugares como Moab e Amon, do lado leste do Rio Jordão – também parecem ter abraçado um único grande deus nacional como seu protetor, assim como Iahweh era o soberano divino dos israelitas. Isso não significa que eles abandonassem totalmente o culto de outros deuses, mas há evidências de que eles direcionaram a maior parte de suas energias religiosas para a adoração desse deus principal, de tal forma que até seus panteões tinham um número restrito de divindades.
O empate com os assírios

A inscrição que narra o que aconteceu na batalha de Qarqar fala de uma vitória do monarca assírio Salmaneser 3º, mas o fato é que nem Hadadezer nem Acab perderam o trono depois da suposta derrota, e Salmaneser 3º precisou voltar com seus exércitos à Síria várias vezes nos anos seguintes, sem nenhum resultado muito claro.
Isso levou muitos historiadores modernos a argumentar que, na verdade, a atuação de Acab foi decisiva para que a Assíria não transformasse a Palestina em quintal de seu império em meados do século 9º a.C. Nada mal para um rei de um Estado tão pequeno.
De volta ao mapa
A verdade é que não temos indicações arqueológicas seguras sobre quais deuses eram cultuados, e de que maneira, nos primeiros séculos de existência dos reinos israelitas. O que se pode afirmar com certeza é que, tanto no Norte quanto no Sul, havia uma multiplicidade de centros de culto religioso, caracterizados principalmente pelos altares nos quais os sacerdotes sacrificavam animais e queimavam incenso.
Do mesmo modo, existem alguns elementos de cultura material que lembram detalhes da religião cananeia – estatuetas de touros que podem ter ligação com El ou Baal, imagens femininas flanqueadas por árvores que talvez tenham algo a ver com a deusa Asherah. Entretanto, de forma geral, a religião de Israel parece ter sido relativamente anicônica, ou seja, não muito amiga do uso de imagens dos deuses.
Seja como for, não dá para deixar de lado o impacto da nova organização política israelita sobre a situação religiosa da região, e é nesse sentido que coisas um bocado importantes começam a acontecer, ao que tudo indica, nas décadas entre 900 a.C. e 850 a.C. Nesse período, depois de séculos de silêncio sobre a terra de Canaã nas inscrições dos países vizinhos, a área volta a ser citada em textos contemporâneos, especialmente da Assíria, império dominado por uma aristocracia guerreira que ficava no norte do atual Iraque.

O interessante é que, nos pontos em que os textos da Assíria mencionam as monarquias israelitas, a cronologia bate relativamente bem com o que a Bíblia diz nos livros dos Reis, no Antigo Testamento. Juntando, portanto, os textos bíblicos, os relatos assírios e a arqueologia, dá para reconstruir o que provavelmente aconteceu no antigo Israel a partir dessa época.
O mero fato de os israelitas serem citados nas fontes assírias sugere um aumento de sua relevância internacional durante esse período. E atenção: durante cerca de um século, a Assíria só percebe a existência de Israel, o reino do Norte – Judá ainda não está no radar deles. Esse dado casa bastante bem com os achados arqueológicos na Palestina, os quais indicam que, nessa época, o aumento populacional continua, acompanhado de mais urbanização e da construção de palácios e cidades fortificadas no Norte, como Samaria, a nova capital do reino.
São sinais clássicos de fortalecimento do poder monárquico, e tanto os textos assírios quanto a Bíblia associam esse momento de consolidação à “Casa de Omri”, ou seja, à dinastia fundada pelo rei israelita com esse nome, que teria reinado em torno de 880 a.C.
Considerado o fundador da cidade de Samaria, Omri foi sucedido por seu filho Acab, monarca que é uma das estrelas das inscrições assírias – no papel de vilão. É que, nessa época, o Império Assírio estava tentando estender seus tentáculos rumo ao Mediterrâneo, provavelmente com o intuito de controlar rotas de comércio, e entrou em colisão com Israel e outros reinos da Palestina, do Líbano e da Síria.
Resultado: surgiu uma coalizão desses Estados de médio porte, cujo objetivo era barrar o avanço assírio. Os principais exércitos desses aliados eram justamente os de Acab (10 mil soldados de infantaria e 2 mil carros de guerra) e os do rei Hadadezer de Damasco (1.200 carros de guerra, 1.200 cavaleiros e 20 mil soldados de infantaria) – tudo isso segundo o relato assírio sobre a batalha de Qarqar, que se deu em 853 a.C., na Síria.
Não é brincadeira juntar 2 mil carros de guerra para enfrentar uma força imperial. Trata-se de uma indicação bastante clara de que o reino governado por Acab tinha muitos recursos à disposição do monarca. De fato, esse parece ter sido o período no qual os israelitas definitivamente deixam de ser um povo unicamente montanhês e estendem seus domínios para os vales férteis de Canaã e para a costa do Mediterrâneo.

O reino do Norte, em outras palavras, tomou conta das regiões agrícolas mais produtivas da Palestina, o que, óbvio, resultou numa quantidade muito maior de riquezas fluindo para os cofres da monarquia e num maior engajamento no comércio internacional e na diplomacia com as demais nações emergentes da região. De quebra, é quase certo que Israel tenha incorporado ao seu território gente que ainda estava fortemente ligada ao sistema tradicional das cidades-Estado cananeias, uma população que provavelmente nunca tinha cultuado Iahweh.
O problema é que, tanto no mundo antigo quanto hoje, crescimento econômico e poderio diplomático-militar são benefícios que afetam uma nação de modos desiguais. Isso significa, entre outras coisas, funcionários reais extraindo tributos (provavelmente em espécie, ou seja, em produtos agrícolas); a aplicação da corveia, ou seja, o uso da população livre para realizar obras públicas com pagamento irrisório.
Mais: para famílias de agricultores que não conseguiam pagar suas dívidas, uma economia “de mercado”, integrada às rotas de comércio do Mediterrâneo, muitas vezes significava o risco de perda de suas terras e a miséria, quando não a escravidão como forma de saldar a dívida. Há boas razões para acreditar que esse conjunto de transformações sociais de grande escala teve um papel crucial, ainda que não único, no surgimento do fenômeno da profecia israelita, responsável por dar uma guinada na compreensão tradicional de Iahweh e dos demais deuses.
Tudo indica que os profetas israelitas eram únicos e inovadores em certos aspectos, como em sua tendência a desafiar o poder dos reis e da classe sacerdotal, suas denúncias contra a injustiça social e sua defesa intransigente do javismo, ou seja, da exclusividade do culto a Iahweh.
Os profetas israelitas também já foram chamados de conservadores radicais – a ideia é que seu radicalismo consistia em tentar de todas as maneiras reconduzir o povo de Israel de volta à pureza original da aliança celebrada com Deus no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. A radicalidade dos sujeitos continua sendo indiscutível, mas o que descobrimos sobre a história israelita até agora indica que faz mais sentido considerá-los como inovadores, e não como conservadores.
A ascensão da Casa de Omri é marcada, nos relatos bíblicos, pela atuação do profeta Elias e de seu discípulo Eliseu, javistas extremamente zelosos. Além de ameaçar constantemente Acab e seus herdeiros com a vingança divina por causa das transgressões religiosas e éticas do rei, Elias e Eliseu vagam pelo território israelita e pelas regiões vizinhas realizando milagres. Mas a principal tarefa de Elias é confrontar os adoradores do deus Baal, cujo culto teria se espalhado entre os israelitas, segundo a narrativa bíblica, graças à influência da princesa fenícia Jezabel (ou Jezebel), mulher do rei.
Como vimos, a Casa de Omri conseguiu colocar Israel no mapa diplomático e militar do Crescente Fértil. O casamento de Acab com Jezabel, filha do poderoso rei de Sidon, uma das grandes cidades-Estado marítimas da Fenícia, provavelmente é um capítulo dessa ascensão. Os fenícios, claro, não eram adoradores de Iahweh: eram etnicamente cananeus, nunca tinham rompido com a tradição politeísta original da região e tinham Baal como divindade governante de seu panteão.
É possível que Acab tenha decidido solidificar sua aliança com os fenícios por meios -teológicos, transformando Baal no novo chefão do panteão israelita e destronando Iahweh – ou, no mínimo, que ele tenha promovido a adoração ao Senhor da Tempestade com um vigor até então inexistente na história de Israel. Se essa reconstrução do que aconteceu estiver correta (e é preciso admitir, de novo, que não dá para ter certeza), a jogada diplomática do rei teria sido a gota d’água que desencadeou a resistência profética.
O certo é que essa rebeldia dos profetas se manteve até no período de maior prosperidade de Israel, o reinado de Jeroboão 2º (783 a.C.–743 a.C.). Foi durante essa fase áurea, quando o reino alcançou sua maior dimensão graças a uma aliança com a Assíria e à canibalização do território de nações vizinhas que tinham se oposto ao império mesopotâmico, que atuaram Amós e Oseias, os mais antigos entre os chamados profetas literários, ou seja, que deixaram profecias registradas por escrito.
Amós e Oseias não são nem de longe tão famosos quanto alguns dos profetas que vieram depois, como Isaías e Jeremias, mas isso não é motivo para subestimar a obra deles. O primeiro é o que realmente inaugura o tema sombrio que será um dos refrãos dominantes da profecia israelita pelos séculos seguintes: a injustiça social e as transgressões religiosas de Israel levarão à destruição do reino, ao massacre do povo nas mãos de exércitos estrangeiros e ao exílio.

Amós também é um dos pioneiros de uma ideia que acabaria se tornando um dos pontos-chave do monoteísmo: a de que rituais religiosos não adiantam nada se as obrigações éticas não estão sendo cumpridas. Oseias, por sua vez, provavelmente é o gênio literário responsável por criar outra das concepções mais influentes do monoteísmo, enxergando a aliança entre Deus e seu povo como um casamento humano, no qual Israel desempenha o papel da esposa infiel, e Iahweh, o de marido traído com outros deuses, como Baal.
Na mesma época em que os profetas ativos no reino do Norte sonhavam em acabar com o “adultério” de Israel e Baal, no entanto, uma região no extremo sul da esfera de influência israelita recebia visitantes que deixaram escritos misteriosos – textos que, para alguns estudiosos, mostram que Iahweh não era casado com Israel, simplesmente porque já tinha uma esposa divina.
Deusa ou símbolo?
Estamos falando da deusa cananeia Asherah, a mulher de El segundo as narrativas de Ugarit. A situação, no caso do suposto casamento dessa senhora divina com o Senhor, é complicadíssima, controversa e intrigante. Os indícios mais famosos da crença num relacionamento entre os dois vêm de um sítio arqueológico com o nome impronunciável de Kuntillet ‘Ajrud, localizado na parte leste do deserto do Sinai.
Acredita-se que Kuntillet ‘Ajrud era um “caravançará”, ou seja, um local onde as caravanas que atravessavam o Sinai faziam um merecido pit stop. O lugar continha várias vasilhas grandes de cerâmica e pedra que, ao que tudo indica, foram ofertadas para um pequeno templo ou santuário do caravançará. Alguns desses vasos contêm as seguintes inscrições: “Abençoo-te por Iahweh de Samaria e sua Asherah” ou “por Iahweh de Temã e sua Asherah”.
Há uma briga acadêmica aparentemente interminável em torno do significado da expressão “sua Asherah”. Por um lado, de fato, a deusa cananeia é mencionada na Bíblia como uma das divindades estrangeiras com as quais o povo de Israel andava “traindo” o Senhor, mas o mais interessante é que Asherah – ou às vezes asherim, “as asherahs”, no plural – normalmente é citada junto com Baal. O Antigo Testamento diz ainda que uma imagem de Asherah teria sido colocada, em dado momento, no interior do próprio Templo de Jerusalém.
Outros achados arqueológicos, como uma grande quantidade de estatuetas femininas nas quais o contorno dos seios e do quadril são exagerados ou ressaltados, seriam indicações de que teria havido uma espécie de culto doméstico à fertilidade feminina nos reinos israelitas, no qual Asherah desempenharia o papel principal.
Há alguns problemas consideráveis nessa interpretação dos dados, contudo. Além de ser um nome próprio da deusa, o termo asherah também era um substantivo comum que designava um objeto “cúltico” (ou seja, usado em cerimônias religiosas), uma espécie de poste de madeira ou árvore estilizada que, originalmente, funcionava como símbolo da presença divina. A questão aqui, no fundo, é gramatical, por incrível que pareça.

Ocorre que, em hebraico – ao menos no hebraico bíblico que os estudiosos de hoje conhecem – a expressão “sua Asherah” só faz sentido se a palavra for um substantivo comum, e não um nome de pessoa (ou entidade divina). Portanto, o significado real da frase seria “Iahweh e seu poste de madeira”, “Iahweh e seu objeto cúltico”.
Bizarro, não? Talvez fique um pouco menos esquisito se a gente levar em consideração a tendência da época, presente inclusive em religiões pagãs, de divinizar – tratar como deuses separados – as características, atributos ou partes de um deus. É a ideia de hipóstases, ou manifestações separadas, de uma entidade divina, que às vezes ganham vida própria.
No próprio Antigo Testamento, a “Glória do Senhor” ou o “Nome do Senhor” parecem ser tratados de forma semi-independente de vez em quando. Nesse caso, a asherah – com letra minúscula – de Iahweh poderia ser tratada como uma das atribuições do Deus de Israel (sua capacidade de abençoar a fertilidade humana, talvez?), que seria representada pelo poste de madeira com esse nome.
Catástrofe e reforma
Os profetas que vociferavam contra a injustiça social e a idolatria do reinado de Jeroboão 2º acabariam vendo suas previsões de julgamento divino se concretizarem duas décadas depois da morte do monarca. Os executores da sentença divina, segundo a perspectiva deles, foram os assírios.
Ao que parece, a partir de 740 a.C., a Assíria entrara numa nova fase de fúria expansionista, e o império mesopotâmico perdera a paciência com seus aliados e vassalos da costa do Mediterrâneo. Em vez de se contentar com uma hegemonia relativamente branda e a cobrança de impostos, os reis assírios do fim do século 8º a.C. decidiram controlar bem mais de perto a economia e a política da Síria e da Palestina, exigindo tributos mais altos e depondo sumariamente qualquer soberano local que ousasse desafiá-los.
Os reis de Israel começaram a articular uma aliança de resistência com outros Estados da região. Mas não tinham a habilidade de Acab, e a Assíria se tornara um império muito mais militarizado, eficiente e impiedoso do que fora no passado. Quando o derradeiro rei do Norte tentou pedir socorro ao Egito, a Assíria resolveu dar um basta definitivo na insolência de Samaria.
O fim do reino de Israel veio em 722 a.C. Os relatos bíblicos dão a entender que toda a população do Norte foi transplantada para a Mesopotâmia, enquanto imigrantes pagãos do Oriente passaram a ocupar a região de Samaria, transformando-se, com o passar dos séculos, nos samaritanos, que viviam brigando com os judeus da época de Jesus.
Os números, porém, não batem – calcula-se que a soma das deportações assírias corresponda, no máximo, a 20% da população original do reino de Israel. Os assírios só teriam se dado ao trabalho de deportar quem valia a pena – a elite (para evitar novas rebeliões), soldados (como vimos, eles foram incorporados ao exército de Sargão), artesãos qualificados.
Os camponeses, por exemplo, ficaram em Israel, o que significa que a maior parte dos samaritanos da época de Cristo provavelmente descendia dos israelitas originais. Mas tudo indica que muita gente também fugiu rumo ao Sul, para o reino de Judá.
Isso porque, justamente no final do século 8º, Jerusalém tem um crescimento urbano explosivo – calcula-se que a área ocupada por construções cresça cerca de dez vezes, e que a população da cidade aumente 15 vezes no espaço de poucas décadas. A explicação mais provável é que refugiados do reino de Israel tenham conseguido se mudar para lá.
Trata-se de um processo que não é um simples inchaço na quantidade de gente: a época de que estamos falando é a primeira na qual o território dominado por Jerusalém apresenta características claras de um Estado próspero e centralizado, com economia complexa, construções monumentais, inscrições etc.

A sobrevivência e a prosperidade de Judá no exato momento em que Israel foi devastada não são casuais. O que acontece é que, enquanto os soberanos do Norte tentavam resistir aos assírios e, ao que parece, até tentaram incluir Judá à força na sua coalizão rebelde, os reis judaítas resolveram jurar fidelidade ao império – e foram recompensados por isso. Como bons vassalos, os moradores de Judá foram integrados à densa rede de comércio internacional explorada pela Assíria.
Em tempos de guerra e transformação social, porém, não são só as pessoas que migram – as ideias também viajam junto com elas. A Bíblia que temos hoje é basicamente um produto “made in Judá”, mas ela está repleta de temas e ideias que estão profundamente ligados ao reino do Norte – ou, para ser mais exato, ao grupo radical e minoritário do reino do Norte que defendia a adoração “monogâmica” de Iahweh.
Os primeiros sinais disso provavelmente podem ser atribuídos ao reinado de Ezequias (de 715 a.C. a 686 a.C.). É com esse rei que a crença de que o Templo de Jerusalém era o único local aceitável para o culto ao Senhor parece ganhar força, e há indícios de que ele teria destruído, ou ao menos aposentado, templos javistas fora da capital de Judá. O governo de Ezequias também foi o palco de uma rica atividade profética, tendo como principal expoente o célebre Isaías.
O projeto de Ezequias parece ter sido tanto religioso quanto político. O rei de Judá aguardou o momento oportuno – uma fase de relativa fraqueza assíria – para se rebelar, junto com outras monarcas da região. Péssima ideia: o exército assírio arrasou a zona rural judaíta e várias cidades importantes do reino. Jerusalém, porém, escapou da destruição após o pagamento de pesados tributos.
Nas gerações seguintes, os herdeiros de Ezequias fariam de tudo para não seguir os passos do rei, mantendo relações cordiais com seus senhores assírios e, ao que parece, retomando o politeísmo à moda antiga no Templo de Jerusalém. O ímpeto reformista, no entanto, voltaria com tudo com a chegada ao trono de Josias, bisneto de Ezequias, que reinou de 640 a.C. a 609 a.C.
Josias começou sua carreira como um rei-menino de apenas 8 anos de idade. Após governar Judá por 18 anos, Josias recebeu de um de seus escribas uma notícia intrigante: um antigo rolo de papiro com os ensinamentos da Torá, a lei divina, dados por Deus a Moisés, tinha sido descoberto nos recintos do Templo de Jerusalém.
A descoberta levaria Josias a implementar um vasto programa de reformas religiosas, abolindo toda forma de idolatria e de culto a qualquer deus que não fosse Iahweh e centralizando definitivamente o culto ao Senhor no templo da capital.
As reformas adotadas pelo rei têm inúmeras semelhanças com os principais pontos do livro bíblico do Deuteronômio, o qual afirma ser uma coletânea dos últimos discursos pronunciados por Moisés antes da morte do profeta. Por isso, a maioria dos estudiosos atuais propõe que o rolo de pergaminho achado no templo era uma espécie de “primeira edição” ou versão 1.0 do Deuteronômio.
Isso significa que, de alguma forma, um texto escrito pelo próprio Moisés ficou perdido por séculos, até ser redescoberto pela corte de Josias? Muito provavelmente não, porque o texto do Deuteronômio parece ser um documento profundamente influenciado pelos javistas radicais que andavam circulando por Judá a partir do século 8º a.C. Pode ser que se trate de um documento da época de Ezequias, o bisavô do soberano.

O indício mais curioso da origem relativamente recente do texto é a existência de vários paralelos entre o Deuteronômio e os tratados de vassalagem assírios — ou seja, os documentos oficiais do império que serviam para que um rei dominado pela Assíria jurasse fidelidade a figuras como o poderoso Sargão e seus sucessores.
Mas o que é realmente interessante não é essa semelhança, mas sim o que o autor fez com o modelo literário que herdou. Isso porque o Deuteronômio inverte totalmente a lógica imperial. Em vez de um rei-fantoche jurando fidelidade a um rei todo-poderoso, o que temos é um povo, como um todo, jurando fidelidade a Deus – algo que não tem precedentes claros no mundo antigo.
As leis codificadas pelo Deuteronômio também representam uma reforma social e econômica de consequências amplas, garantindo os direitos das viúvas, dos estrangeiros e dos órfãos, impedindo a formação de latifúndios e incentivando a alforria dos escravos de origem israelita após seis anos de serviço. Talvez o mais surpreendente, porém, seja o fato de que o texto explicita que o rei também está sujeito a essas leis, como qualquer outro israelita, e estabelece limites (vagos, é verdade) para a quantidade de esposas e riquezas que o monarca deve ter.
De novo, aqui, a visão da natureza de Deus não é facilmente distinguível do projeto político e social. Josias colocou suas reformas em prática num momento em que parecia possível dar um novo rumo ao reino de Judá, porque o poderio assírio estava entrando em declínio e, desta vez, para valer — o império acabaria sendo destruído pelos babilônios em 605 a.C.
É impossível saber o que aconteceria se Josias tivesse conseguido levar avante seu projeto até o fim. Em 609 a.C., ele foi morto num confronto com os exércitos do Egito, aliados dos assírios. A crença de que Iahweh protegeria Jerusalém para sempre estava para ser duramente testada.


