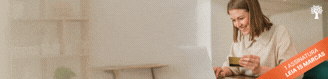A rotina de vida e morte no Hospital Colônia de Barbacena, onde o descaso das autoridades matou 60 mil pessoas.
Texto: Leonardo Pujol | Edição: Bruno Garattoni | Design: Estúdio Nono | Fotos:Arquivo Abril/Luiz Alfredo
À força, de trem, amontoadas, famintas. Era assim que a maioria das pessoas chegava àquele campo de concentração. O padrão de desembarque não mudava: conduzidos em fila indiana até a triagem, os indivíduos tinham roupas, calçados e objetos pessoais confiscados pelos guardas. Em seguida, eram separados de acordo com sexo, idade e características físicas. Os homens tinham o cabelo raspado e recebiam uniformes idênticos que, com o tempo, viravam trapos. Em vez de providenciarem roupas novas, os vigias obrigavam as pessoas a ficarem nuas, mesmo em noites geladas. Por esse motivo, era normal que dormissem aglomeradas nos pavilhões. Ou mesmo no pátio. Já a comida, tão ruim e escassa, desesperava os prisioneiros a ponto de fazê-los comer ratos e beber a própria urina. Os mais resistentes eram forçados a trabalhar como escravos. Muitos morriam. O ambiente parece com o dos campos nazistas de Auschwitz, na Polônia, construídos na década de 1930. Mas esse palco do terror ficava bem longe da Europa. Estava em Barbacena, cidade de 125 mil habitantes no interior de Minas Gerais.
“O que acontece no Colônia é a desumanidade, a crueldade planejada. Tira-se o caráter humano da pessoa, e ela deixa de ser gente.” A afirmação é de Ronaldo Simões Coelho, médico que ajudou a denunciar o dia a dia do Hospital Colônia de Barbacena. Seu depoimento é um dos tantos recuperados pela jornalista Daniela Arbex no livro Holocausto Brasileiro, de 2013. A obra é um profundo mergulho na história do maior e mais brutal hospício do País. Nele, morreram pelo menos 60 mil pessoas.
O manicômio tinha 16 pavilhões distribuídos em uma área equivalente a um campo de futebol. A inauguração do complexo aconteceu em 1903. Naquela época, médicos e políticos optavam por construir instituições psiquiátricas fora de grandes centros urbanos. Nos anos seguintes, mais seis sanatórios foram instalados no município – o que levou Barbacena a ganhar o apelido de Cidade dos Loucos.
Estima-se que só 30% dos internos tinham doenças mentais. Os outros eram homossexuais, negros, prostitutas e militantes políticos.
Projetado com apenas 200 leitos, o Colônia – como era chamado – chegou a abrigar 5 mil pessoas ao mesmo tempo. A maioria estava longe de sofrer de doenças mentais. Estima-se que apenas 30% delas sofriam de distúrbios psiquiátricos. O restante era formado por uma massa de “indesejados”: homossexuais, mendigos, negros, pobres, epiléticos, prostitutas, militantes políticos, mulheres confinadas para que seus maridos vivessem com amantes e até mesmo filhas de fazendeiros desvirginadas antes de casar. Longe da proposta inicial, o hospital cumpria a função de higienizar a sociedade. Isso se tornou ainda mais evidente a partir da década de 1930, quando Getúlio Vargas sancionou uma lei que permitia a internação compulsória “mediante simples atestação médica”.