Francisco Botelho
Altas horas da noite, o crítico e jornalista norte-americano Henry Louis Mencken acendia um charuto, sentava-se em frente à máquina de escrever e dava início a seu entretenimento favorito. Golpeando as teclas num ritmo frenético, em meio a intermináveis baforadas, ele se lançava em mais uma sessão de diatribes e impropérios: o alvo de seus ataques, dependendo do dia e do estado de espírito, podia ser algum escritor de talento duvidoso, a moral da classe média americana, o New Deal – política norte-americana de investimentos em obras públicas para enfrentar a recessão na década de 30 – ou a humanidade como um todo. De tempos em tempos, Mencken fazia uma pequena pausa, lia o que acabara de escrever, dava um tapa na perna e soltava uma gargalhada. Depois de recuperar o fôlego, suspirava com satisfação e começava o próximo parágrafo.
A cena, descrita por um colega de trabalho, é perfeita para ilustrar a obra e a personalidade de Mencken, um dos grandes mitos do jornalismo norte-americano e um dos maiores críticos da mentalidade do seu país. Fustigou sem piedade as instituições, as crenças e os costumes de seus conterrâneos. Inimigo jurado de toda forma de puritanismo, atacava a moral burguesa, onde quer que a encontrasse. E poucas coisas lhe davam mais prazer que assistir, com um olhar lânguido e complacente, à indignação generalizada que seus textos despertavam.
Mencken nasceu em Baltimore, em 1880, e ali ficou até o fim da vida, em 1956. Suas palavras, no entanto, alcançavam os quatro cantos dos Estados Unidos, levadas por revistas como Smart Set e American Mercury. Pródigo, abundante, ele escreveu durante quatro décadas e incomodou na mesma medida em que foi lido por todos – até por aqueles que o detestavam.
No auge da sua carreira, ele se tornou algo como o superego do seu país – uma espécie de “má consciência” nacional, pronta a denunciar toda espécie de mesquinharia e provincianismo. Sua inteligência transgressora tornou-o o ídolo de muitos; outros tantos, talvez a maioria, jamais perdoaram sua iconoclastia. Entre seus admiradores, encontrava-se o crítico Edmund Wilson – um dos maiores pensadores norte-americanos, autor de Rumo à Estação Finlândia, que cresceu lendo os textos de Mencken na revista Smart Set e para sempre o consideraria uma de suas influências decisivas. O escritor F. Scott Fitzgerald, que devia às resenhas literárias de Mencken muito da sua fama, apontava o “Sábio de Baltimore” como um dos maiores inspiradores da Geração Perdida – o grupo de jovens intelectuais americanos que, no período do pós-guerra, dedicou-se a retratar a “morte de todos os deuses” e o esgotamento dos antigos ideais.
Mencken jamais se sentiu à vontade com essa posição de guru intelectual: afinal, sempre esforçou-se em evitar o proselitismo e poucas coisas o deixavam mais desconfiado que a unanimidade – mesmo quando ela estava do seu lado.
Hoje, muitos o vêem como o exemplo do intelectual cético e belicoso, descrente de todas as convicções, avesso a certezas absolutas e a tudo o que possa servir de obstáculo para o uso da razão. Suas armas foram o cinismo e a hipérbole. Seu legado, a sugestão de que o homem é uma criatura desastrada e que só a cultura é capaz de redimi-lo. Em uma entrevista, no final da vida, disse que “a humanidade sofre de uma idiotice patológica; ela jamais será feliz”. No entanto, seu vigoroso ceticismo guarda espaço para uma firme, ainda que discreta, esperança: “Acredito que é melhor ser livre do que ser um escravo. Acredito que é melhor dizer o que se pensa do que mentir. E acredito que é melhor saber do que ser um ignorante”.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês
O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017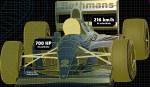 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna? Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia
Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


