As raízes do neonazismo
Setenta anos após o fim da Segunda Guerra, a ideologia torta de Adolf Hitler continua viva. Ela só mudou de cara.

Faz mais de 70 anos que Hitler enfiou uma bala na cabeça com sua pistola Walther 7,65 mm. Mas a semente do nacional-socialismo continua germinando. Nas últimas duas décadas, cerca de 180 pessoas foram mortas em ataques de grupos de extrema-direita na Alemanha. Gangues neonazistas mataram mais gente no território alemão do pós-guerra que qualquer outro grupo, incluindo os radicais islâmicos e os de extrema-esquerda.
Mas o neonazismo vai bem além dessa violência pura e simples. Ele é o nazismo “de cara nova”. Uma cara encoberta, maquiada. O neonazismo contém o mesmo discurso de ódio da versão original, só que adaptado aos novos tempos. Seus seguidores em geral não se dizem nazistas. São “libertadores”, “nacionalistas”, “guerreiros da nação”, defensores de seu país e da sua cor. “Não somos racistas, somos orgulhosos”, diz uma página brasileira do Facebook que defende a superioridade branca, com ataques a negros e índios.
Na Alemanha, o Partido Nacional Democrático (NPD) propõe a expulsão de ciganos e turcos, mas garante que é só isto: nacionalista e democrático. Ilias Kasidiaris, porta-voz do partido grego Aurora Dourada, já elogiou Hitler no Parlamento e tem uma suástica tatuada no braço. Mas ele também jura que não é nazista. Só quer tirar a Grécia da crise.
Muitos neonazistas não falam em “pureza racial”, mas em “pureza cultural”. E não perseguem só judeus, gays ou testemunhas de Jeová, mas também imigrantes, muçulmanos, negros, pobres ou qualquer outra minoria que ameace sua identidade “superior”.
Os alvos variam conforme o país. Na Ucrânia, o batalhão Azov e outras milícias neonazistas combatem separatistas pró-russos. Na Mongólia, o agrupamento Dayar Mongol, que exibe uma suástica em sua bandeira, ameaça raspar a cabeça de mulheres que dormirem com homens chineses.
Na Polônia, palco das piores atrocidades da SS, hooligans neonazistas vão aos jogos de futebol distribuindo socos em qualquer gay ou mestiço que encontram pela frente. Nos EUA, o Movimento Nacional Socialista (NSM) defende a deportação de todos os latinos do território americano.
Integrantes do Movimento de Resistência Finlandês (SVL) têm se envolvido em ataques cada vez mais violentos contra gays e oponentes políticos. O mesmo acontece com os skinheads da Tercera Fuerza, na Colômbia, e com os membros da rede Combat 18 – espalhados pela Inglaterra, Austrália, Sérvia, Rússia e uma dezena de outros países.
Algumas células terroristas de extrema-direita se dedicam a matar estrangeiros. É o caso do trio alemão autointitulado “Clandestinidade Nacional-Socialista” (Nationalsozialistischer Untergrund ou NSU). Entre 2000 e 2007, o NSU matou dez pessoas – oito turcos, um grego e uma policial alemã – bem debaixo do nariz das autoridades. Beate Zschaepe, de 39 anos, única sobrevivente do trio, entregou-se à polícia em 2011 e virou ídolo da cena neonazista.
No Brasil, grupos como Carecas do ABC e White Power escolhem suas vítimas de forma aleatória. Alguns perseguem gays, outros nordestinos, negros, judeus, bolivianos ou usuários de drogas. Isso quando seus integrantes não se matam em disputas entre as facções.
A brutalidade faz parte dos códigos das gangues neonazistas. Quando a polícia desarticula alguma delas, em geral encontra panfletos e CDs de músicas militantes ao lado de um arsenal de facas, bastões e gás pimenta.
A Freie Netz Süd (“Rede Livre do Sul” ou FNS), maior organização neonazista alemã, possuía até granadas de mão quando foi desmantelada em julho de 2014 pela polícia da Bavária. As autoridades alemãs estimam que a FNS tinha 300 integrantes alemães e checos, divididos em 20 subgrupos vinculados ao partido grego Aurora Dourada e ao partido húngaro Jobbik.
Mas a nebulosa neonazista não termina aí. Além dos partidos e das gangues, ela inclui bandas musicais como a Escuadrón 88 (Uruguai); grafiteiros como os da Militia (Itália); centros de pesquisa como o Instituto de Revisão Histórica (EUA); revistas como a Ciudad de los Césares (Chile); redes de promoção de eventos, música e pancadaria como a Blood & Honour (Inglaterra); sites como Stormfront e Radio Islam; e por aí vai.
Alguns desses grupos usam o número 88 – uma abreviação de Heil, Hitler!, já que “h” é a oitava letra do alfabeto. Outros empregam o número 18, em alusão às iniciais de Adolf Hitler. Mas aos olhos do Führer, claro, muitos desses fiéis seguidores seriam tão desprezíveis quanto as minorias que eles perseguem.
Vários skinheads que surram gays em São Paulo são mulatos. E bem poderiam ir direto para as câmaras de gás se vivessem no 3o Reich. Neonazistas ucranianos, russos e poloneses são eslavos – um povo considerado sub-humano por Hitler. Até mesmo os integrantes do grupo Portugal Hammerskin (PHS), que se dizem a elite da supremacia branca, não possuem exatamente o biótipo de homem ariano que Hitler buscava.
A rigor, portanto, a maioria desses bandos não poderia ser chamada de neonazista. São de extrema-direita, fascistas, xenófobos, antissemitas. Mas o ponto é: todos eles adaptam de alguma forma a receita de salvação nazista, preservando seus ingredientes fundamentais.
O nacionalismo, por exemplo. Como você viu ao longo deste livro, o nacionalismo não é mero amor à pátria. É uma defesa ferina da identidade nacional que pressupõe a glorificação do “Nós” e a exclusão de “Eles”. Por isso desemboca em violência – sobretudo em tempos de crise. E, no mundo do século 21, o nacionalismo de uma tribo serve para promover os objetivos de outra. Partidos neonazistas se aproveitam do conflito do Oriente Médio para alentar a discriminação de judeus em seus países. E assim requentam outro ingrediente da receita nazista: o antissemitismo. O partido húngaro Jobbik, por exemplo, propõe que deputados judeus sejam excluídos do Parlamento da Hungria como resposta aos ataques israelenses a Gaza.
No resto da Europa, o conflito entre palestinos e israelenses tem motivado o maior surto de antissemitismo desde a Segunda Guerra Mundial. Em julho de 2014, oito sinagogas foram incendiadas na França em apenas uma semana. Mercados e farmácias foram saqueados nos subúrbios de Paris sob os gritos de “degolem os judeus”. Ainda em julho, um café da Bélgica exibiu um cartaz em francês e turco dizendo: “Cães são permitidos, judeus não”. E na cidade alemã de Wuppertal, a sinagoga Bergische – que havia sido queimada na Noite dos Cristais e reconstruída após a guerra – foi incendiada por coquetéis molotov.
Enquanto as chamas ardiam na Alemanha, manifestantes marchavam por cidades europeias entoando bordões como “Hamas, Hamas, judeus para o gás”. Hitler jamais teria sonhado com passeatas assim: ativistas de esquerda – que ele tanto odiava – gritando palavras de ordem que ele tanto aplaudia.
Gritos de ordem desse tipo também eram impensáveis nos anos 50 e 60, quando os neonazistas começaram a botar suas mangas de fora. Vamos rastrear os passos deles para entender como essa semente voltou a germinar.
Este texto é um trecho do livro Nazismo – Como Ele Pôde Acontecer, publicado pela SUPER.
A hibernação do ódio
O nazismo não acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Apenas hibernou. Nos primeiros anos do pós-guerra, quando ser extremista era motivo de vergonha, o neonazismo foi brotando aos poucos na Europa entre as correntes de direita mais radicais.
Em boa medida, ele ganhou impulso graças aos velhos nazistas que sobreviveram aos expurgos da Alemanha Ocidental. Como vimos no capítulo anterior, o processo de “desnazificação” da Alemanha foi bastante limitado. Nem poderia ser de outro jeito: a necessidade de cientistas, advogados, médicos e outros profissionais era grande demais para que o país abrisse mão de todo mundo. Assim, muitos nazistas convictos ingressaram no serviço público alemão após a guerra e aproveitaram os novos cargos para manter vivas suas ideias.
Foi o caso de Hans Globke, um dos autores das Leis de Nuremberg e colaborador de Adolf Eichmann. Globke virou assessor do chanceler alemão Konrad Adenauer nos anos 50. Em meio ao anticomunismo da Guerra Fria, o caráter nazista desses agentes ficou em segundo plano. E o próximo passo deles foi criar organizações de fachada para conquistar seguidores.
O alemão Partido Nacional Democrático (NPD) e o Movimento Social Italiano (MSI), por exemplo, eram agrupamentos nazifascistas que se escondiam atrás de nomes simpáticos. Alguns dos novos membros eram jovens convencidos de que deveria haver uma luta de vida ou morte contra os comunistas. Mas também havia quem defendesse a Terceira Posição – a ideia de que seus países deveriam seguir uma ideologia alternativa, que não fosse de esquerda nem de direita.
Ou seja: uma “terceira via” econômica que mesclasse elementos do capitalismo e do comunismo, a exemplo do programa de 25 pontos do NSDAP. Um dos grandes defensores da Terceira Posição foi Otto Ernst Remer, que tinha uma história de lealdade incondicional a Hitler. Quando era major da Wehrmacht, ele prendeu os militares que planejaram assassinar o Führer em julho de 1944 na Toca do Lobo, o QG do Líder na Prússia Oriental. Em retribuição, Hitler o promoveu a coronel e depois a major-general.
Após a guerra, Remer escapou da desnazificação e fundou o Partido do Reich Socialista (Sozialistische Reichspartei, SRP) nos moldes do NSDAP. O partido arrebanhou 11% dos votos na Baixa Saxônia em 1951, mas foi banido no ano seguinte. Remer fugiu então para o Egito, onde virou assessor de segurança do presidente Gamal Abdel Nasser. E em 1956 se mudou para a Síria para se tornar sócio de Alois Brunner, outro fugitivo nazista, vendendo tecnologia alemã de armamentos a países árabes. Remer seria uma peça-chave do neonazismo, como veremos adiante. Mas ele ainda esperaria o momento certo para voltar à Alemanha.
O revisionismo
Além de fundar partidos, os neonazistas buscaram reabilitar a ideologia de Hitler. E para isso recorreram a uma teoria pseudocientífica, o revisionismo, que acusava os vencedores da guerra de contar a história à sua maneira. O pai do revisionismo foi o historiador francês Paul Rassinier. Ele havia sido prisioneiro político dos nazistas, mas defendeu o 3º Reich após a guerra, negando o Holocausto.
“Eu estive lá e não havia câmaras de gás”, ele dizia. Claro: Rassinier esteve em Buchenwald, um campo de concentração situado na Alemanha e que de fato não possuía câmaras de gás. Os campos de extermínio ficavam na Polônia ocupada, como Auschwitz e Treblinka, dotados de câmaras de gás e crematórios.
Mas os livros delirantes de Rassinier conquistaram leitores na Europa e foram traduzidos nos EUA pelo historiador Harry Elmer Barnes – também adepto de teorias da conspiração. Barnes dizia que os julgamentos de nazistas como Eichmann eram uma “tramoia sionista” e descrevia os Einsatzfgruppen como “guerrilhas”.
Outro revisionista americano, Francis Parker Yockey, tinha ideias ainda mais estranhas. Ele defendia uma união totalitária entre a extrema-direita, a URSS e governos árabes para derrotar o “poder judaico-americano”. Yockey foi preso pelo FBI por fraude, com três passaportes falsos, e se matou na prisão com cianeto em 1960. Mas seu livro Imperium se tornou objeto de culto dos neonazistas.
Na América Latina, um dos principais discípulos de Rassinier foi o brasileiro Siegfried Ellwanger Castan, fundador da editora gaúcha Revisão. Castan foi denunciado diversas vezes à justiça pelo conteúdo racista das obras que publicou. Entre elas, o livro de sua autoria Holocausto Judeu ou Alemão?, em que afirmava que as câmaras de gás eram uma grande mentira e que a vítima do Holocausto havia sido a Alemanha.
Novo alvo: o imigrange
Nos anos 60, o neonazismo deu um salto com a crise do colonialismo europeu. Grupos como o Occident e o Exército Secreto Francês (OAS) atraíram nacionalistas frustrados pela derrota da França nas guerras de independência da Indochina (1946-54) e da Argélia (1954-62). O OAS perpetrou atentados contra argelinos e tentou assassinar o presidente francês Charles de Gaulle por permitir a descolonização.
Pierre Sidos, fundador do Occident, era filho de um membro da Milice – a brigada paramilitar francesa que caçou membros da Resistência durante o nazismo. Sidos prosseguiu com as ideias do pai, recrutando universitários para combater os manifestantes que pediam reformas no Maio de 68. De Gaulle proibiu o Occident, mas vários de seus membros integraram o partido de extrema-direita Frente Nacional, fundado por Jean-Marie Le Pen em 1972.
Le Pen ficou famoso por suas duras posturas contra os imigrantes, a integração europeia, o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para ele, as câmaras de gás foram um “mero detalhe” da História.
No início dos anos 70, o neonazismo já tinha florescido ao redor do mundo – mas continuava sendo um fenômeno marginal. Os partidos neonazistas eram grupelhos semelhantes ao velho DAP: muita ideologia e pouca projeção política. Até que veio uma crise de grandes proporções.
Em outubro de 1973, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidiu reduzir a produção do óleo e embargar as vendas para os Estados Unidos e a Europa, que haviam apoiado Israel contra o Egito e a Síria na Guerra do Yom Kipur.
O choque do petróleo fez o preço do barril triplicar e jogou os europeus na recessão. Em meio ao caos, os nacionalistas concentraram seus ataques contra os imigrantes, sobretudo de origem árabe. Le Pen e seus seguidores alertavam para o “perigo” dos estrangeiros vindos das ex-colônias francesas no norte da África.
A xenofobia também atraiu jovens desempregados e sem perspectivas para as filas da extrema-direita. Foi o caso dos skinheads, uma tribo formada nos anos 60 na Inglaterra por jovens de classe baixa que curtiam ritmos como ska e reggae.
Os skinheads originais não eram racistas (muitos eram negros jamaicanos), mas alguns deles atacavam gays e asiáticos. E, na recessão dos anos 70, uma ala do movimento se vinculou ao partido neonazista inglês National Front (NF), que promovia a superioridade branca. Uniões desse tipo se espalharam pela Europa. É que os partidos de extrema direita precisavam de militância – e a encontraram nas gangues.
Gritos de guerra xenófobos entraram para o repertório dos hooligans, que já eram conhecidos por deixar um rastro de vandalismo e pancadaria.
O jornalista americano Bill Buford conviveu durante quatro anos com hooligans do Manchester United, na década de 80, e viu como eles eram facilmente recrutados pelo NF. Mas nem todos os brutamontes que surravam estrangeiros estavam desempregados. Muitos aderiram à violência xenófoba por pura sede de adrenalina.
Foi o caso de Mick, o primeiro hooligan que Buford conheceu. “Ele parecia um eletricista perfeitamente feliz, com um enorme maço de dinheiro no bolso para comprar passagens e ver os jogos”, recordou Buford.
Foi nesse clima exaltado que Ernst Remer voltou à Alemanha, após seu longo exílio no Oriente Médio. Em 1983, Remer fundou o Movimento de Libertação Alemão, que reunia 23 grupos neonazistas. O movimento tinha apenas uns 1.500 integrantes no total, mas treinou uma nova geração de adoradores de Hitler. Por isso Remer é hoje conhecido como o “padrinho dos neonazistas”.
Para não ser preso por incitação ao racismo, Remer mudou-se para a Espanha, onde continuou promovendo suas ideias até morrer, em 1997. E, enquanto cooptavam as gangues, os partidos de extrema direita seduziram os eleitores. Em 1984, por exemplo, a Frente Nacional obteve quase 11% dos votos dos franceses e elegeu dez membros no Parlamento Europeu. Um deles foi Dominique Chaboche, antigo membro do grupo Occident.
Para recuperar terreno, partidos de esquerda também assumiram o discurso xenófobo e racista. Entre eles o Partido Socialista (PS) francês e o Partido Comunista Italiano (PCI), que acusaram os imigrantes de macular a cultura nacional.
O objetivo era frear a debandada de eleitores para a direita, mas o resultado foi desastroso. “A esquerda não conquistou eleitores e teve que se ‘direitizar’ cada vez mais”, diz o historiador Luiz Dario Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Àquela altura, o discurso extremista havia deixado de ser vergonhoso para se tornar aceitável. A negação do Holocausto virou o esporte favorito dos radicais da direita e da esquerda, enquanto Israel emergia como o seu alvo mais frequente.
Os neonazistas também reeditaram Os Protocolos dos Sábios de Sião, a bíblia do antissemitismo, acusando os judeus de tramar a dominação de seus países. E com uma inovação: eles adotaram o acrônimo ZOG – Zionist Occupied Government para se referir aos “governos ocupados por sionistas”.
Rede mundial
No fim dos anos 80, as células neonazistas haviam formado uma rede internacional. Ela era articulada, entre outros, pelo alemão Michael Kühnen, o norueguês Erik Blücher e o belga Léon Degrelle.
Ex-general de Hitler, Degrelle vivia na Espanha e liderava o Círculo Espanhol de Amigos da Europa (Cedade) – um grupo de extrema direita que também criou bases em Buenos Aires, Quito, La Paz e Montevidéu. Depois de passar anos atacando os homossexuais, Kühnen revelou que era gay em 1986, quando estava na prisão por incitar à violência. Ele morreu em decorrência da aids, em 1991, e o neonazismo na Alemanha foi levado adiante por Christian Worch – famoso por organizar a marcha anual à tumba de Rudolf Hess, o vice de Hitler.
Nos EUA, a rede neonazista cresceu graças a Willis Carto, fundador do Instituto de Revisão Histórica (IHR) e do extinto Liberty Lobby – que publicava o jornal antissemita Spotlight. Timothy McVeigh, o terrorista que em 1995 detonou um caminhão-bomba em frente a um edifício em Oklahoma City, deixando 168 mortos e 700 feridos, era leitor assíduo do Spotlight. McVeigh inclusive colocou anúncios no jornal para vender munição.
A nebulosa totalitária também incorporou elementos religiosos. Grupos de extrema direita europeus, em geral católicos, começaram a se vincular a radicais islâmicos. O Cedade, por exemplo, criou laços com o wahhabismo, uma doutrina extremista ensinada em mesquitas e escolas religiosas (madrassas) que o reino saudita constrói ao redor do mundo. Nessas madrassas estudariam o terrorista egípcio Mohamed Atta, um dos líderes do 11 de Setembro, e o inglês Shehzad Tanweer, um dos suicidas do ataque ao metrô de Londres, em 2005.
No Leste Europeu, a grande explosão do neonazismo veio após a caída da URSS, em 1991. O império soviético desmoronou deixando um rastro de pobreza e desemprego – e os grupos nacionalistas até então sufocados pelo regime puderam despontar. Foi o caso da Unidade Nacional Russa (UNR), uma organização política e paramilitar que defendia um país de russos “puros” sob a condução espiritual da Igreja Ortodoxa Russa. A bandeira da UNR era vermelha e branca, com uma suástica estilizada no centro. O grupo foi banido, mas seu líder, Alexander Barkashov, continuou articulando grupos nacionalistas.
Com o fim do comunismo e a social-democracia desmoralizada, os neonazistas também começaram a ter sucesso nas urnas. Na Dinamarca, por exemplo, o Partido Popular (PP) obteve 13 cadeiras no Parlamento em 1998. E continuou crescendo até se tornar o terceiro maior do país. Ao contrário do Partido Nazista, que levava baderneiros para seus comícios, políticos de legendas como o PP passam a imagem de bons mocinhos.
Como diz o jornalista americano Martin A. Lee, o ressurgimento do fascismo na Europa pós-guerra fria não foi orquestrado por um ditador seguido por homens com camisas pardas e braçadeiras com suásticas.
“Uma nova geração de extremistas de direita, sintetizada pelo Führer do Partido da Liberdade austríaco, Jörg Haider, adaptou sua mensagem e seus modos aos novos tempos”, afirma Lee.
Haider foi eleito duas vezes governador do estado da Caríntia, na Áustria, e só não foi mais longe porque morreu num acidente de carro em 2008. Mas outros líderes como ele têm chegado lá.
Este texto é um trecho do livro Nazismo – Como Ele Pôde Acontecer, publicado pela SUPER.
Nazismo de botox
O ruído era ensurdecedor. Jovens de camisas negras se aglomeravam na praça fazendo a saudação Heil, Hitler! e entoando a Canção de Horst Wessel, o hino do Partido Nazista.
Num bar a metros dali, intelectuais vociferavam contra gays, culpavam os estrangeiros pelo desemprego e advertiam sobre a “conspiração judaica” que levou o país à ruína. Essa cena bem poderia ter ocorrido na Berlim dos anos 30. Mas aconteceu em 4 de junho de 2014 em Atenas, berço da democracia, durante um ato do partido neonazista grego Aurora Dourada.
Nas eleições de maio para o Parlamento Europeu, o partido obteve quase 10% dos votos e elegeu três deputados.
“Somos a terceira força política do país. Somos o futuro da Grécia”, disse o porta-voz Ilias Kasidiaris, aquele que tem uma suástica tatuada no braço mas jura que não é neonazista.
No resto da Europa, agremiações da extrema-direita também festejam a presença recorde no Parlamento Europeu – uma instituição que a maioria delas rejeita, pois são contra a integração do continente.
Na Alemanha, o Partido Nacional Democrático (NPD) conseguiu pela primeira vez um assento no Parlamento Europeu. Na Áustria, o Partido da Liberdade obteve 20% dos votos, enquanto o dinamarquês Partido Popular arrebatou 27%. Já a Frente Nacional francesa teve 25% dos votos. Ou seja: um em cada quatro franceses votou no partido de Jean-Marie Le Pen, hoje com 85 anos.
Durante a campanha, o garoto-propaganda de Le Pen foi o ebola.
Isso mesmo: Le Pen disse num ato em Marselha que o vírus mortal poderia conter a explosão demográfica no mundo e acabar com a ameaça dos imigrantes. “Monsieur Ebola (Senhor Ebola) pode resolver o problema em três meses”, disse Le Pen.
Outros partidos nazifascistas também têm triunfado Europa afora. O Ataka (“Ataque”) é hoje o quarto maior partido da Bulgária, com 23 cadeiras no Congresso. Seu líder, Volen Siderov, ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais em 2006. Na Hungria, o Jobbik superou os 20% dos votos nas eleições legislativas de abril de 2014, firmando-se como o terceiro maior partido no Parlamento. Só para lembrar: os nazistas conseguiram menos de 3% dos votos em 1928, apenas cinco anos antes da ascensão de Hitler.
Na Argentina, o recém-nascido partido Bandera Vecinal (“Bandeira dos Vizinhos”) foi homologado na justiça em junho de 2014, com 4 mil membros. Seu líder, Alejandro Biondini, ficou conhecido por fazer a saudação nazista e exibir suástica em atos políticos 15 anos atrás. Tanto fez que sua antiga agremiação, o Partido Nuevo Triunfo, acabou proibido. Mas agora Biondini está de volta – e, claro, também jura que não é neonazista. O Bandera Vecinal é um partido mais nanico que o extinto Prona, do brasileiro Enéas Carneiro, mas o reconhecimento legal permite que Biondini seja candidato a presidente em 2015.
O sindicalista argentino Luis D’Elia está na outra ponta do espectro político. Marxista e peronista, ele lidera uma organização de piqueteiros – desempregados que bloqueiam ruas de Buenos Aires – e foi subsecretário de Terras do ex-presidente Néstor Kirchner, morto em 2010.
Mas Biondini e Luis D’Elia têm uma coisa em comum: ambos negam o Holocausto. Em 2007, D’Elia visitou o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad (outro negador do extermínio nazista) para prestar apoio a seu programa nuclear.
Redes sociais
A internet está mudando o comportamento dos neonazistas. Antes as gangues espancavam um sujeito e saíam correndo. Hoje elas espancam e depois postam a foto no Facebook. Foi o que fez em 2013 o skinhead Antonio Donato, de Belo Horizonte: ele enforcou um morador de rua no bairro da Savassi e postou a foto para que seus amigos curtissem. Donato foi preso com outros dois membros de seu grupo, mas acabou solto logo em seguida.
As páginas das redes sociais também permitem a confraternização mundial dos neonazistas. Uma delas, que já tinha 135 mil likes em julho de 2014, traz fotos de skinheads de lugares tão diferentes quanto Indonésia, Canadá e Belém do Pará.
Um dos primeiros sites de ódio foi o Stormfront, criado em 1995 por Don Black, ex-líder da Ku Klux Klan. Hoje o Stormfront conta com 250 mil membros e um fórum online com mais de 9 milhões de posts. A nebulosa virtual inclui o site Radio Islam, que dissemina propaganda antissemita em 23 idiomas. Esses portais seguem a tática de Hitler: usar a democracia para propagar mensagens antidemocráticas. “Como a liberdade de expressão é um dos bens mais apreciados em qualquer democracia, ela não pode ser regulada de antemão. Cada caso tem que ser analisado”, diz Sergio Widder, representante do Centro Simon Wiesenthal para a América Latina.
E, como nenhum país preza a liberdade de expressão mais do que os EUA, muitos neonazistas hospedam seus sites exatamente em território americano. Os países escandinavos também viraram refúgio de extremistas que camuflam crimes de racismo alegando liberdade de expressão.
Da mesma forma, redes de skinheads como Combat 18 e Blood & Honour aproveitam as leis liberais da Inglaterra e de outros países democráticos para difundir suas mensagens de ódio por meio de DVDs e shows de música. “Precisamos achar respostas que se adaptem aos novos desafios. Não podemos confrontar o nazismo do século 21 da mesma forma que nos anos 80”, diz Widder.
Encontrar essas respostas é mesmo difícil numa era em que a xenofobia existe até em governos democráticos – a França, por exemplo, expulsou mais de 20 mil ciganos nos últimos anos.
Faz mais de 70 anos que Hitler enfiou aquela bala na cabeça. Mas algumas cenas do passado insistem em voltar. De novo e de novo.
Então melhor não nos esquecermos das consequências que essas cenas tiveram lá atrás. Senão, corremos um risco intolerável: ver tudo aquilo acontecer de novo.
Este texto é um trecho do livro Nazismo – Como Ele Pôde Acontecer, publicado pela SUPER.



 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês
O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017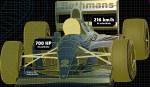 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna? Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia
Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


