Minha primeira vez
Foi igual perder a virgindade. Já fazia quase dez anos que eu escrevia sobre carro elétrico sem nunca ter tocado em um – do mesmo jeito que, quando eu tinha 15 anos, já fazia quase uma década que fazia sexo solitário pensando nas meninas, sem nunca ter tocado em uma (brigado por ter me tirado […]
Foi igual perder a virgindade. Já fazia quase dez anos que eu escrevia sobre carro elétrico sem nunca ter tocado em um – do mesmo jeito que, quando eu tinha 15 anos, já fazia quase uma década que fazia sexo solitário pensando nas meninas, sem nunca ter tocado em uma (brigado por ter me tirado dessa, Gisele, onde quer que você esteja).
E brigado também pros caras da Quatro Rodas, que estão aqui ao lado da redação da Super e me emprestaram o carro elétrico da frota deles por uns dias. Depois de tantos anos assistindo Top Gear e levando a Quatro Rodas pro banheiro, achei que o meu primeiro encontro com um elétrico seria, bom, eletrizante.
Mas não. É que olhando pro bichinho ninguém dá muita coisa mesmo. O elétrico deles não é assim um Tesla, mas um Nissan Leaf – um hatch bonitinho, mas quase indiscernível de outro Nissan, bem mais pedestre, o Tiida; ou, forçando um pouco, de um Honda Fit. Ou seja: mesmo sem estar a venda no Brasil, o Leaf chama tanta atenção na rua quanto um motoboy.
Só que tem um lobo debaixo dessa pele humilde. Nos meus anos de sexo solitário com carros elétricos, já tinha aprendido que eles não são só coisas silenciosas e sem escapamento. Sabia eles têm tem uma característica que nenhum carro motor a combustão interna consegue emular: entregam toda a potência que Deus lhes deu instantaneamente.
Assim: imagina uma bicicleta. Você senta, coloca na marcha mais leve e sai pedalando. Ela aumenta a velocidade devagarinho, e você vai mudando para as marchas mais pesadas. Só aí que ela começa a correr de verdade. Agora pega a mesma bicicleta, deixa numa marcha mais dura e sai pedalando de pé. O que acontece? Graças aos músculos extras que você usa quando tira a bunda do selim, mais a gravidade, a força de cada pedalada quadruplica, e a bicicleta começa a correr na hora. Com bastante treino, testosterona sintética e EPO, você sobe uma ladeira desse jeito tão rápido quanto o Lance Armstrong.
Essa é a grande diferença do motor elétrico para o normal. Enquanto o de combustão se comporta igual uma bicicleta comum (precisa de trocas de marcha para andar mais rápido), o elétrico é uma bicicleta travada o tempo todo na marcha mais dura, e com um monstro botando força no pedal. No jargão dos entendidos, isso chama “torque instantâneo”.
Mas saber do torque instantâneo é uma coisa, sentir na vida real, outra.
Moro em Perdizes, o bairro mais montanhoso fora da Suíça, e o Leaf rasgava rua acima como se estivesse deslizando ladeira abaixo. Não é que o elétrico sobe rápido. É mais do isso. Ele deleta uma dimensão de espaço. O bicho simplesmente não discerne o que é reta, o que é subida, o que é descida: vai sempre no mesmo pau. Triscou de leve o pé no acelerador, o carro pula de 40 km/h para 70 km/h numa pirambeira desgraçada tão instantaneamente quanto se estivesse em queda livre. Acelerar um elétrico é revogar a Lei da Gravidade.
Chupa, Isaac Newton.
“Tô me sentindo numa montanha russa”, me disse a Cris, uma colega jornalista pra quem dei carona num dos dias de teste, enquanto o carrinho deixava todos os primos bebedores de combustível comendo poeira ladeira acima. “De novo! De novo!”, demandou a Helena, minha sobrinha de 4 anos, depois de sentir pela primeira vez a torção gravitacional que nasce numa dessas aceleradas de torque instantâneo.
E olha que a potência dele, no papel, é ordinária: 110 cavalos, igual a de qualquer carrinho 1.6. A diferença é que 110 cv entregues numa paulada só transformam o troço numa Maserati de 500 cv. Uma Maserati de pobre, porque, torque à parte, a velocidade final é de cento e poucos quilômetros por hora, igual qualquer banheira – meio que nem um caminhão: tem todo o torque do mundo, mas não corre de verdade. Mas até aí tudo bem. Se você pegar uma Maserati e testar a velocidade final dela numa via pública, você é um criminoso comum. Um José Maria Marin. Tem mais é que apodrecer na cadeia mesmo. Mas dentro s do que dá para fazer sem matar ninguém, um elétrico substitui bem uma Maserati, uma Lamborghini, uma Bugatti. Não exatamente o Leaf, porque 110 cv dele podem até vetar a Lei da Gravidade de vez em quando, só que não fazem muito mais milagres. Mas se você imaginar o que um elétrico com mais cavalaria pode fazer, sai de baixo. O Model S, da Tesla, tem 400 cv. Aí, chupa Ferrari.
Não que as montadoras de supercaros estejam vacilando. Ferrari, Porsche e McLaren já fabricam carros que combinam dois motores: um elétrico, para dar torque instantâneo, e um normal, anabolizado como sempre, para passar de 350 km/h sem chiadeira. Juntando tudo, dá mil e tantos cavalos. É mais do que um motor de treino da Fórmula-1 dos anos 80, a coisa mais espetacular em termos de potência bruta que já saiu de um dinamômetro.
Mas de volta ao mundo real. Um motor elétrico moderno, como esse do Leaf, é algo simplesmente melhor que qualquer motor a combustão interna já feito. É mais esperto, mais divertido, e sem as frescuras e complicações de seus pares movidos a gasolina. Sem falar que são mais baratos, quebram menos…É óbvio: o motor a combustão está a dois passos virar o novo disco de vinil – um produto de nicho, só para fanáticos (tipo eu, hehe). Fora essas aberrações, vai ser tudo elétrico. Ainda bem.
Só falta uma coisa nessa história: combinar com a ciência. Porque se o motor elétrico é a solução, a bateria continua sendo um problemão. Para começar, custa caro pra cacete. O “tanque de gasolina” do Leaf é um assoalho forrado de baterias de iPhone. Milhares, que formam pilhas de 30 centímetros debaixo dos bancos. Por essas, um Leaf custa nos EUA quase o preço de uma Range Rover Evoque: US$ 30 mil (e isso porque elétrico lá quase não paga imposto). Um Tesla, então, sai por US$ 85 mil. Ou seja: se você quiser importar um Model S, pagando os impostos e tudo o mais, vai torrar por baixo R$ 500 mil – automóvel com preço de imóvel; pára tudo.
E tem outra: os elétricos são traíras. Você confia na bateria do seu celular? Eu também não. Até por isso quase todo mundo anda com carregador no porta-luvas, na bolsa… Mas um carro elétrico, vamos lembrar, é basicamente uma cordilheira de iPhones empilhados com quatro rodas espetadas. Quanto tempo essa cadeia de baterias leva para carregar? 20 horas.
Dá para reduzir bem esse tempo usando adaptadores que transformam uma tomada numa Itaipu, mas mesmo assim o tempo mínimo para uma recarga parcial é de três horas. Menos que isso, esquece. Por essas, qualquer elétrico tende a ficar mais tempo carregando do que rodando.
Não tem como ser diferente. É que o lítio está para o mundo das baterias como a democracia está para os sistemas de governo: é o pior material para estocar energia, à exceção de todos os outros conhecidos pela humanidade. Mas, enquanto não existe nenhuma urgência em substituir a democracia por alguma coisa melhor a ser inventada, com as baterias de lítio a história é outra: ou a gente arranja outro jeito de estocar energia da tomada ou ferrou. Já estão pesquisando outros materiais para fazer bateria, tipo o grafeno, um composto artificial que suporta 10 vezes mais energia, não pesa quase nada e carrega no mesmo tempo que o frentista leva para encher o seu tanque. Mas a coisa ainda está bem no começo. Não conte com baterias de grafeno antes de você receber sua aposentadoria integral do INSS.
Até existe alguma esperança. A Tesla mesmo está gastando dois rins e uma córnea numa fábrica gigante de baterias de lítio, capaz de dobrar a produção mundial delas. Isso baratearia os elétricos na marra, por puro excesso forçado de oferta. Mas nem por isso o lítio vai deixar de ser uma tecnologia defasada. No fim das contas, é como se os fabricantes de carruagens do século 19 tivessem investido na maior criação de cavalos da história, poucas décadas antes de seus produtos caírem no limbo da obsolescência.
Não tem mesmo outro caminho para o lítio. Uma vez saí do trabalho com o Leaf me dizendo, no painel, que tinha carga para 130 quilômetros – e a bateria estava cheia. Mas o carro não me avisou que só conseguiria rodar esses 130 km se eu dirigisse que nem uma freira holandesa – holandesa, sim, porque além de rodar devagar precisaria fazer um trajeto completamente plano, que não demandasse grandes doses de energia. Aí só se você morar na Holanda, na Patagônia… Em algum lugar bidimensional mesmo, daqueles tão planos que dão vertigem. Andando na velocidade que todo mundo anda, e mandando Isaac Newton à merda em cada uma das ladeiras de Perdizes, a autonomia foi bem outra. Olha só: são quatro quilômetros da Abril até a minha casa. Mas, quando estacionei lá no alto do meu morro, sobravam só 103 km. 27 quilômetros de autonomia tinha ido pro espaço. Se eu tivesse um compromisso mais tarde, meio longe de casa, não teria como saber se o carro teria gás para ir e voltar, independentemente da autonomia que aparecesse no painel. Também não daria tempo de carregar a bateria, já que isso levaria pelo menos 3 horas. Pior: recarregar nem era uma opção. Não por culpa do carro, mas da vida: a garagem do meu prédio, como qualquer garagem de prédio, não tem tomada. Ou eu carregava o carro na Abril mesmo ou nada.
Não tem muito segredo, então: o Leaf é um estorvo encarnado, como qualquer tralha com bateria de lítio é, e sempre será. Mas ele também foi o meu melhor brinquedo desde a espingarda laser do Battlestar Galactica, que ganhei quando tinha 6 anos. Passei quatro dias especialmente felizes com ele. E queria mesmo é que tivessem sido 500.
Te amo.
Alexandre


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017 O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês
O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia
Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia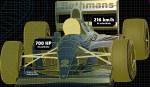 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


