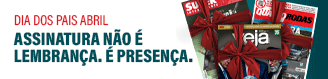Uma nação chamada Europa
Doze países preparam-se para inventar um continente sem fronteiras a partir de 1993. Mas essa grandiosa obra de engenharia política enfrenta agora insuspeitadas dificuldades.
Luiz Weis, Pedro de Souza, Gisela Heymann e Jáder de Oliveira
Com sua eloqüência arrebatada, o escritor francês Victor Hugo proclamava em 1848: “No século XX, existirá uma nação extraordinária. Ela será grande, o que não a impedirá de ser livre. Ela será ainda mais que uma nação: será uma civilização. Ela será ainda melhor que uma nação: será uma família…”. Exatamente 109 anos e duas guerras mundiais depois, sem contar as que sangraram apenas o solo europeu, o esboço dessa nação grande, livre, civilizada e familiar materializou-se em assinaturas e apertos de mão.
Em 1957, representantes de seis países Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo—assinaram em Roma o tratado de fundação da Comunidade Econômica Européia (CEE), ou simplesmente Comunidade Européia (CE), como se diz hoje, um espaço ainda picotado por fronteiras políticas, mas franqueado ao comércio liberto de barreiras alfandegárias. O Tratado de Roma—a ser atualizado em dezembro próximo, na cúpula de Mastricht, Holanda—poderá ser venerado um dia como o marco mais importante da história européia. Até porque a construção de uma Europa unificada não tem sido nem simples nem rápida—e sobram incertezas.
A coluna dos ganhos registrou em 1973 a adesão da Grã-Bretanha, Irlanda e Dinamarca ao Mercado Comum Europeu, como o sistema se tornara conhecido. Nos anos 80, Grécia, Espanha e Portugal incorporaram-se à Europa dos portos abertos, abrindo caminho para que ao menos uma parte do sonho generoso de Victor Hugo pudesse espraiar-se por 2,2 milhões de quilômetros quadrados, do Tejo ao Reno, do Mar Egeu ao Mar do Norte. Atualmente, estão na fila de espera por um lugar no clube europeu Suécia, Austria, Turquia, Chipre e Malta. Reivindicam alguma forma de associação Polônia, Checoslováquia e Hungria.
Mas a transformação da Europa numa comunidade política—uma federação de Estados e línguas, uma Suíça tamanho família, com uma só moeda, um só parlamento, um só presidente, uma só diplomacia e um só sistema de defesa — continua tolhida pelo medo medo de países como Inglaterra, Dinamarca e Portugal de perder um pedaço de sua soberania. As palavras federação e federalismo, objeto de acalorados debates nesse último verão europeu, parecem dar alergia aos britânicos.
A 1° de julho de 1987, os doze parceiros resolveram marcar a data para a culminação do processo de integração econômica iniciado três décadas antes. Dele resultará muito mais do que o maior mercado consumidor do mundo, uma Europa de 320 milhões de habitantes, que reúne também a maior coleção de cintilantes indicadores de qualidade de vida. Se nenhum terremoto político puser o Velho Mundo de ponta-cabeça, até o primeiro dia de 1993 deverão estar suprimidas todas as barreiras físicas, técnicas, legais e fiscais que ainda entravam a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais na Comunidade Européia.
Isso quer dizer, por exemplo, que ir de Munique, na Alemanha, a Milão, na Itália, será tão simples como deslocar se de Blumenau a Caxias do Sul. Ninguém pedirá ao viajante que mostre o passaporte ou abra as malas para inspeção. Quer dizer também que um dentista francês terá as mesmas facilidades que um colega espanhol para montar consultório em Barcelona. Um arquiteto grego poderá projetar um conjunto de escritórios para uma incorporadora holandesa que pretenda instalar se em Lisboa. Aconchegado numa poltrona, em seu apartamento, um dinamarquês poderá sintonizar a BBCTV de Londres para ver a final da Copa da Inglaterra de futebol. Se decidir passar as férias na Grécia, poderá comprar um bilhete aéreo Copenhague—Atenas por uma agência belga de turismo. Poderá ainda fazer um seguro-saúde numa companhia luxemburguesa, que cobrirá uma consulta médica em Paris. Um irlandês poderá abrir uma conta remunerada num banco alemão, recebendo as mesmas taxas de juros pagas aos correntistas locais. E por aí vai.
O presidente da Comissão Européia, o braço executivo da Comunidade, é o eurovisionário francês Jacques Delors para quem “o objetivo central é a união política”. A direção da CE funciona em Bruxelas, na Bélgica, onde trabalham os eurocratas—16 000, pelas últimas contas—, administrando um orçamento de dar inveja a muitos países. Nunca antes, provavelmente, a não ser na China dos mandarins, tantos funcionários nomeados tiveram tamanha oportunidade de esculpir o destino de uma parcela do mundo. Os políticos se reúnem em Estrasburgo, na França, sede do Parlamento Europeu, que pouco apita. Alemanha e Itália querem fortalecer esse legislativo para compensar o poder de Bruxelas. A França não se anima muito: prefere um macroparlamento, do qual fariam parte o de Estrasburgo e os congressos nacionais.
As divergências que não são resolvidas por bem em Bruxelas acabam em Luxemburgo, onde foi instalada a Corte Européia de Justiça. Ali se dirimem pendências que vão desde a publicação, ou não, de fotos de mulheres seminuas nos jornais (como fazem os tablóides sensacionalistas ingleses) ao tamanho dos copos de chope nos bares, passando pela abertura do comércio aos domingos—e muito menos. Um acordo de última hora por exemplo poupou assoberbados juizes de se pronunciar sobre uma letra e um til. É que a Espanha foi acusada de bloquear as importações de teclados de computador que não contivessem o sinal ñ, o mesmo usado em España. Depois de contatos informais com os fabricantes, as autoridades espanholas declararam o ñ são e salvo e levantaram a proibição. O problema é que muitas vezes as decisões dos magistrados de Luxemburgo não são obedecidas. Só a Itália ignorou no ano passado 22 sentenças. como a que derrubava o veto local à importação de queijos que não tivessem determinada taxa de gordura.
O processo de acertos pretende ser o mais amplo e minucioso possível: cada pais deverá incorporar à sua legislação até o fim de 1992-daí a expressão Europa 92—282 medidas específicas. Os parceiros da CE se digladiam civilizadamente, virando pelo avesso cada mínimo aspecto que possa emperrar o mecanismo de total supressão de fronteiras. Não surpreende, portanto, que daquelas 282 provisões, 84 nem haviam ainda sido aprovadas pelo conjunto dos parceiros até julho último. E das 126 leis destinadas a institucionalizar o regime de mercado único, só 37 já tinham sido baixadas por todos os Doze.
Harmonizar normas a serem respeitadas por uma dúzia de países, que falam nove línguas diferentes, abrigam populações de origens e interesses heterogêneos, cujos governos seguem distintas políticas sociais e praticam incentivos diversos à atividade econômica e cujas riquezas, enfim, se distribuem de maneira desigual, é rigorosamente aquilo que se pode imaginar— a maior complicação. Haja detalhes. “Quando se fala em geléia, o inglês se refere a um tipo de alimento completamente diferente do produto de mesmo nome na Alemanha”, exemplifica o sociólogo francês Gerard Mermet, autor de minuciosos estudos sobre a Comunidade. “Até isso foi tema de debates.”
Na Europa de 1993, uma dona de casa que quiser reforçar o lanche dos pimpolhos com um pote de geléia de morangos terá à disposição, em qualquer supermercado, artigos procedentes de toda a Comunidade, classificados em dois tipos básicos: simples e extra. A diferença entre ambos, devidamente regulamentada está no volume de polpa de fruta em cada pote. A geléia extra deve conter no mínimo 45%, ao passo que a comum pode ter menos do que isso e ainda 10% de açúcar. O fabricante está obrigado a mencionar, no rótulo, o tipo de geléia. E ainda sete outras informações, entre elas, o tratamento a que o alimento foi submetido e o seu peso liquido, em gramas e mililitros—menos na Grã-Bretanha e na Irlanda, onde prevalece a insular tradição dos pints (568 mililitros) para os líqüidos e dos pounds (453,60 gramas) para os sólidos.
Até o final do ano que vem, terão sido tomadas medidas tão diversas quanto a fixação de limites para as emissões de óxidos de carbono na atmosfera, a obrigatoriedade de controle técnico em veículos com mais de cinco anos de uso, a definição da quantidade de cacau que um chocolate deve conter e o ról de direitos trabalhistas válidos em toda parte, como duração da jornada de trabalho, férias pagas e licença maternidade. Imagina-se que todas as engrenagens vão se combinar para que a Europa funcione como se fosse um só país. “Isso não quer dizer que o galo francês vá deixar de fazer cocoricó para cantar cock-a-doodle-doo. como seu semelhante inglês”, brinca Michel Guillemat, não por acaso autor de um dicionário de onomatopéias chamado Cris d’Europe (Gritos da Europa).
A sua maneira, Guillemat chama a atenção para o que muitos acreditam ser uma muralha intransponível na unificação européia: as características culturais de cada pais, produto de uma longa e tumultuada história. Elas estão na base de incontáveis hábitos arraigados. O passado também fundamenta as percepções, não raro depreciativas, que os europeus têm uns dos outros. A Europa é ainda em larga escala uma colcha de bairrismos. “Ouvem-se murmúrios antieuropeístas nos pubs ingleses, nas trattorias italianas, nas tavernas gregas”, registra o inglês Malcolm Bradbury, autor de duas séries de TV sobre o assunto Apenas uma minoria – de 17% entre os alemães a 3% entre os dinamarqueses—se sente mais européia do que sua própria nacionalidade.
Além disso, há o peso das diferenças de desenvolvimento—e as que delas decorrem—entre o bloco dos mais pobres, formado por Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, de um lado, e o dos demais parceiros, de outro. Só 3% da população irlandesa, por exemplo, fala uma língua estrangeira. Na Holanda, são 43%. Em Portugal, um trabalhador dedica 2 025 horas por ano ao emprego. Já os alemães dispõem de 20% a mais de tempo livre. As desigualdades econômicas estão sendo remediadas mediante gordos planos de assistência, financiados pelo conjunto da Comunidade. No caso da Grécia, essa ajuda é da ordem de 1,6 bilhão de dólares, ou 5% do Produto Interno Bruto (PIB) grego.
A polêmica mais espinhosa tem a ver com a união monetária. O ECU (Europe Currency Unit, o ainda teórico dinheiro europeu) foi criado em 1979. Resulta de uma média ponderada das cotações de todas as moedas em curso na CEE e da participação de cada pais na balança comercial da Comunidade. Por causa disso, o marco alemão representa aproximadamente 30% de um ECU, ao passo que a dracma grega e o escudo português pesam 0,8% cada. Um ECU vale US$ 1,12. Embora um europeu já possa obter um cartão de crédito em ECUs, especial para viagens, nada indica que essa moeda irá tilintar tão cedo nos porta-níqueis das pessoas. Ou seja, quem desejar saborear um sorvete na Alemanha, a distinta confeitaria da Via del Corso, em Roma, continuará precisando desembolsar liras—e não ECUs.
“A unificação monetária é muito mais complicada do que trocar as notas da carteira”, comenta o português Mário Martins, administrador da Direção de Poderes Locais do Conselho da Europa. “Substituir todo o sistema significará um choque enorme para os países pobres, que costumam desvalorizar suas moedas como remédio contra a inflação.” Mas a dificuldade maior reside na resistência britânica. Enquanto oito em dez espanhóis, italianos e franceses (e seis em dez alemães) apóiam o projeto do dinheiro único, seis em dez britânicos não querem trocar suas libras por ECUs ou o que valha.
E há, grave, complexo e doloroso, o problema da imigração. A Europa dos Doze representa uma atração irresistível para milhões de africanos, asiáticos, poloneses, iugoslavos, romenos—e, no futuro, para sabe-se lá quantos cidadãos das quinze repúblicas soviéticas, beneficiados com a abertura geral dos aeroportos da URSS, prevista para 1993. Todos eles sonham em se juntar aos mais de 9 milhões de estrangeiros que vivem legalmente nos países da CE (algo como 3% da população), a maioria vinda da África do Norte, Turquia Iugoslávia, Índia e Paquistão. Calcula-se que existam outros 3 milhões de clandestinos, concentrados principalmente na Itália, França e Espanha. Os ocidentais não sabem como deter essa avalanche, que se move ao ritmo de 400 000 novos recém-chegados por ano.
Pelas atuais regras, uma vez admitidos em qualquer nação da Comunidade, os recém-chegados têm o direito de ir-e-vir de um pais a outro. Muita gente quer que os imigrantes sejam de novo submetidos ao tradicional controle de passaportes na fronteira—o que instituiria a discriminação no capítulo da livre circulação de pessoas prevista pelos acordos de julho de 1987. O pior é que o racismo na Europa aumenta na proporção da enxurrada de estrangeiros de pele escura. O caso mais notório é o da França, onde a crescente hostilidade racista em relação aos cerca de 4 milhões de imigrantes que ali vivem leva água para o moinho da Frente Nacional, 0 partido de extrema direita de Jean-Marie Le Pen. A aversão aos forasteiros é tamanha que, recentemente, ninguém menos que Jacques Chirac, o prefeito de Paris, falou em “overdose de imigração”, do “barulho” e do “odor” dos imigrantes árabes e africanos.
“O cidadão comum ainda não sabe exatamente o que significará na prática a união européia”, adverte o sociólogo Gerard Mermet. “Pelo menos no começo, todas as facilidades proporcionadas pela nova Europa vão servir de estímulo para que cada qual conheça o vizinho —e só.” A fim de incentivar esse conhecimento, foram criados vários programas. Um dos mais famosos chama-se Euro-Community Action Scheme for Mobility of University Students (Plano de Ação da Comunidade Européia para a Mobilidade dos Estudantes Universitários)—tudo isso para permitir o acrônimo Erasmus, homenagem ao filósofo holandês Erasmo de Roterdam (1466-1536), um dos grandes intelectuais do Renascimento. O Erasmo de hoje permite que um universitário faça algumas matérias numa faculdade, outras em outra e assim por diante—em diferentes países.
“No ano que vem, 45 000 alunos devem beneficiar-se do programa”, prevê a belga Anna Schmitz, uma das responsáveis pelo esquema em Bruxelas. “Começar pelos jovens tem um objetivo definido”, comenta ela. “No futuro, quando estiverem ocupando cargos de decisão, eles se sentirão parte da Europa, não mais de um país.” Pode ser. Na Itália, na Espanha e na Alemanha, segundo recente pesquisa, a maioria se sente mais européia do que há cinco anos. Mas, para que um rosbif—como os gauleses se referem aos ingleses—se sinta menos british e mais europeu, não basta que o engenho humano consiga ligar ilha e continente: muita água precisará ainda passar sobre o túnel da Mancha.
Sir Geoffrey Howe, o braço direito da então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, costumava dizer que “o próximo trem europeu está para deixar a estação, com destino incerto”. Hoje, os trilhos por onde corre esse trem se bifurcam. Uma via, tortuosa, conduz ao superEstado europeu, dirigido por um governo supranacional. Outra, escreve o inglês Malcolm Bradbury, termina numa “federação paneuropéia de Estados-nações, ligados pela democracia de livre-mercado, mas com laços não muito rígidos”. Ou, nas palavras do analista francês Paul Fabra,” o que cada vez mais determina o caráter da Comunidade é que ela é um mercado aberto mais uma Corte de Justiça”
E significativo que a secular idéia de uma Europa unida tenha começado pela economia, com a criação, em 195l, da Comunidade Européia do Carvão e do Aço. No quadro da Guerra Fria o impulso veio dos Estados Unidos: para estes nenhuma estabilidade na porção Oeste do continente, indispensável à estratégia anti-soviética, seria possível sem que França e Alemanha se reconciliassem. Tanto se reconciliaram que a parceria franco-alemã sempre foi o motor da integração européia. Mas os problemas políticos persistiram na Grã-Bretanha, que reluta diante de qualquer perda de soberania em favor das instituições da Comunidade—herança da era Thatcher. “A Europa é um gigante econômico e um pigmeu político”. resume o ministro belga do Exterior, Mark Eyskens.
A reunificação da Alemanha. a derrocada das “democracias populares” a Leste, a recaída nacionalista que começou a retalhar a Iugoslávia em fins de junho último, sem falar no gigantesco ponto de interrogação que é hoje a União Soviética, polvilharam a Europa Ocidental de perplexidade. Afinal, desde 1945, quando o continente acordou do mais tenebroso pesadelo de sua história, até 1989, quando começou a fulminante demolição da Alemanha Oriental, o perfil da Comunidade foi sendo esculpido sob a influência de um cenário internacional que, década após década, parecia imutável—divisão do mundo em dois blocos e guerra menos ou mais fria entre eles. A visão de uma federação a doze, fechada no seu progresso, ficou em xeque quase da noite para o dia. “O desmoronamento da antiga Cortina de Ferro complicou o projeto europeu”, nota Philippe Moreau Defarges, do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI). Lech Walesa, o presidente da Polônia, é ainda mais direto: “Não queremos que a Cortina de Ferro seja substituias por uma Cortina de Prata entre um Oeste rico e um Leste pobre.”
Para saber mais:
Europa, ano 1000
(SUPER número 9, ano 4)
Esperanças e receios acompanham a maior proeza européia: a ligação sob o Canal da Mancha
Depois de 8 000 anos, quando submergiu a tripa de terra que unia o sudeste do que viria a ser a Inglaterra ao nordeste do que viria a ser a França as Ilhas Britânicas estão enfim tecnicamente reintegradas no continente europeu, na forma de um istmo. Na manhã de 27 de junho último. com música e champanha, ao se encontrarem as duas frentes de trabalho que abriam o último do conjunto de três túneis 40 metros abaixo do leito do Mar do Norte, que formam a maior obra do século,. completou-se o processo pelo qual a Inglaterra deixou de ser uma ilha separada da Europa por um canal—La Manche, para os franceses, English Channel, para os ingleses.
Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com a interação dos europeus a partir de meados de 1993, quando o conjunto for inaugurado. Cientistas sociais já vêm sendo consultados para prever, principalmente, qual será a atitude dos ingleses ao se materializar a mudança de seu horizonte insular. Pergunta-se: no momento em que o túnel estiver transportando 30 milhões de pessoas por ano e quase outro tanto em toneladas de mercadorias (o que não tardará a acontecer), como ficará a mentalidade britânica?
Segundo as pesquisas de opinião, metade da população da Inglaterra ainda se opõe ao formidável trabalho de engenharia em curso debaixo da água. Na realidade, o túnel sempre foi uma idéia mais francesa do que inglesa ainda que, a julgar pela direção das marés do turismo, deva beneficiar em primeiro lugar os súditos de Sua Majestade: afinal, para cada francês que vai passear na chuvosa Inglaterra, há quatro ingleses curtindo a douce France-atraídos, senão pela doçura do povo, com certeza pelos múltiplos sabores de sua cultura.
Por uma razão ou outra, a idéia avançou e recuou pelo menos quatro vezes desde os tempos de Napoleão. Nos seus numerosos e conturbados capítulos, a história desse túnel, não raro encharcada de bravatas patrioteiras, registra aplausos e protestos dos mais variados ângulos. No século passado, para a rainha Vitória—cujo marido, o príncipe Albert, era conhecido devoto da tecnologia moderna—, o caminho submarino seria um santo remédio contra os enjôos que azedavam suas travessias marítimas. A oposição, contudo, temia que a puritana, vitoriana moralidade inglesa fosse contaminada pelos costumes de um povo entregue aos prazeres da carne—que é como os britânicos fantasiavam o modo de ser francês. Houve quem alertasse até que, através do túnel, as doenças venéreas do continente chegariam mais depressa às ilhas.
Coisas do passado? O carro do presidente François Mitterrand foi alvejado por ovos quando ele foi à Inglaterra em 1987 para a solenidade de assinatura do tratado do túnel. Os franceses retribuíram vaiando a então primeira-ministra Margaret Thatcher quando ela compareceu às festas do bicentenário da Revolução de 1789. em Paris. Coisas de homem? Há não muito tempo, a popular revista feminina inglesa Woman’s Ow) atacou: A França é uma nação rude e arrogante . Em junho último. outra publicação inglesa o semanário Observer, exumou uma antiga entrevista da primeira-ministra francesa Edith Cresson, na qual ela teria dito que um em cada quatro britânicos é homossexual .
Talvez nada disso existisse —como tampouco existiriam a Inglaterra e a França no traçado que se conhece—, não fosse o fim da era glacial que criou o canal de 560 quilômetros de comprimento, hoje o trecho marítimo mais movimentado do mundo. O túnel em construção vai da costa de Folkestone, perto de Dover, na Inglaterra, a Sangatte, perto de Calais, na França é a parte mais estreita do canal, com 38 quilômetros, que os velozes barcos Hovercraft cobrem em cerca de uma hora. O túnel—chunnel, dizem os ingleses, numa fusão das palavras channel e tunnel—permitirá fazer a travessia em algo como 15 minutos.
A obra—três túneis ferroviários de 50 quilômetros de extensão—devia custar 9,7 bilhões de dólares, pelos cálculos iniciais. Vai sair por 14,7 bilhões. O dinheiro vem dos cofres de duas centenas de bancos e do bolso dos 560 000 esperançosos acionistas, na maioria franceses, do consórcio franco-britânico Eurotunnel, responsável pelo trabalho. que mobiliza 12 000 operários, e pela cobrança do futuro pedágio. O mais difícil foi cavar o túnel de suporte técnico. Perfuradoras especiais, com sete braços gigantescos, foram criadas para abrir e consolidar a passagem com grossas camadas de concreto.
As máquinas, capazes de mover até 10 000 toneladas de material, são identificadas pelos franceses por nomes femininos—Brigitte, Catherine, Virginie, Pascale—e por números, pelos ingleses. Vive la différence. Sob o leito do mar, as máquinas toparam com um desafio: retirar o solo argiloso, o que em si não seria difícil, se não fosse necessário ao mesmo tempo colocar o concreto para manter as paredes a salvo. A cada hora, eram extraídas 2 000 toneladas de terra e o túnel andava 4,4 metros. O rumo foi controlado por raio laser—e tão perfeitamente que, no primeiro encontro das sondas de perfuração, em outubro do ano passado, o desvio não chegou a 40 centímetros.
Uma enxurrada de turistas é o que se deve esperar daqui a dois anos, como primeira conseqüência do acesso imensamente facilitado entre ilha e continente. O comércio, um tanto tolhido pelas vagarosas viagens dos ferries que acomodam os caminhões de carga, vai se beneficiar num piscar de olhos. O que não dá para saber ainda é quanto vai durar de verdade uma viagem Londres—Paris ou Paris—Londres. Isso porque uma mistura de pouco dinheiro com muitos protestos populares esteve freando a construção de uma ferrovia de alta velocidade no lado inglês, capaz de romper o limite atual dos já arcaicos 110 quilômetros horários. Os moradores do Condado de Kent temem que a linha desfigure a paisagem da região. “o jardim da Inglaterra”. Trens a 330 quilômetros por hora (160 no túnel), como sonham os franceses, fariam com que uma viagem entre a Waterloo Station, em Londres, e a Gare de l’Est, em Paris, durasse apenas três horas.
A ascensão de John Major à chefia do governo britânico deu novo animo aos partidários da modernização do sistema ferroviário local. Mesmo assim, os mais pessimistas—e os há de sobra —ainda não estão convencidos de que as primeiras viagens serão possíveis já em 1993. Eles apostam que o dinheiro não vai dar, os governos serão chamados a financiar o fim das obras e o resultado será um decepcionante atraso. Nada disso, porém, nem uma marcha à ré na integração européia, inimaginável a esta altura, conseguirá desfazer a ligação através da Mancha—a maior metamorfose geográfica produzida pelo homem nesta época de tantas formidáveis proezas.
“A politica deve prevalecer sobre a economia”
Aos 42 anos, o francês Alain Minc é uma voz dissonante no coro da unificação européia. Remando na contra-corrente, ele se dedica a apontar o que julga serem as fraquezas do modelo escolhido para a construção da Europa dos Doze. Ensaísta de renome, o menino-prodígio que já foi diretor financeiro do grupo Saint-Gobain, um dos gigantes da indústria francesa, e vice presidente de uma financeira internacional de outro colosso, o grupo italiano De Benedetti, provoca os europeístas ao afirmar que a Comunidade, antes até da adolescência já exibe traços senis.
Autor de um livro apropriadamente intitulado A grande ilusão e de um segundo, mais recente, na mesma linha, A vingança das nações, ele sustenta que não basta a integração econômica; a união européia requer “unidade política e estratégica”—notavelmente ausente, por exemplo, na Guerra do Golfo —, sobretudo para adaptar-se às dramáticas transformações ocorridas nos últimos anos na Europa Oriental. Minc, por sinal, parece não apostar um centime furado no progresso dos países recém-saídos do socialismo, nem no da própria União Soviética. Instalado em seu confortável escritório da Avenue George V, no centro nobre de Paris, ele falou recentemente a SUPERINTERESSANTE.
Por que tanto ceticismo em relação à nova Europa?
Até a queda do Muro de Berlim, a construção da Europa se baseava numa certa ordem. Doze países, a oeste da Cortina de Ferro, estavam inventando um superEstado. A integração econômica acarretaria automaticamente a integração monetária, que acarretaria a integração política, que acarretaria, enfim, a integração estratégica. O processo seria lento, mas isso não era problema, pois se tinha a impressão de que o mapa político europeu permaneceria estável por longos anos. Essa lógica desabou a 9 de novembro de 1989, junto com o Muro de Berlim. Tem-se agora um sistema muito mais complicado.
Que complicações são essas?
O sistema impõe três questões principais. A primeira é a necessidade de se garantir a democracia no Leste Europeu. A segunda é a insegurança estratégica da Alemanha, à falta do guarda-chuva nuclear americano e sem contar com uma defesa européia organizada; o problema alemão está na Europa Oriental, uma incógnita política. A terceira questão tem a ver com o fluxo migratório causado pelo fim da Cortina de Ferro. Estes assuntos são todos políticos, não econômicos. Portanto, tratar da integração econômica da Europa, como se nada tivesse acontecido, é ignorar questões essenciais.
Isso quer dizer que o impulso da unificação européia está condenado?
Não. Acho apenas que a construção da Europa deve se voltar para as questões políticas, devidamente dissociadas das questões econômicas. Os países do Leste poderiam aderir à Europa em sua forma política, que é a democracia, sem que isso acarrete automaticamente a sua adesão ao Mercado Comum.
A união política seria uma garantia contra o nacionalismo tanto no Leste como no Oeste?
A garantia estaria num projeto político feito por todos os 25 países europeus. Só que ainda estamos discutindo a união política da Comunidade dos Doze e isso nada tem a ver com a democracia na Polônia, por exemplo. É preciso criar um espaço político que obrigue o Leste a fixar regras em relação à democracia e aos direitos das minorias.
Qual o perigo maior para a Europa: uma volta da União Soviética aos tempos pré-Gorbachev ou uma espécie de império russo a caminho do caos?
Antes existia uma ameaça, mas nenhum risco. Agora não há ameaças, somente riscos. O espectro das possibilidades é muito maior. Vai desde a permanência do Gorbachev -Prêmio Nobel da Paz ao aparecimento de algum Saddam Hussein eslavo. Daí a importancia do problema de segurança da Alemanha, com a retirada gradual dos 400 000 soldados americanos aquartelados na Europa.
Existe alguma esperança econômica para os Países do Leste Europeu?
Não. A Europa do Leste será uma sub América Latina.
O senhor não está sendo benevolente demais em relação à América Latina?
Conheço muitos brasileiros e ouço o que eles me contam de ruim sobre a América Latina. Mesmo assim, quando comparamos, por exemplo, Brasil e Polônia, é outro universo. A terapêutica do FMI, imposta ao Brasil, beneficia ao menos uma pequena parcela da população. Na Polônia, a mesma política é ainda pior: tudo afunda porque não existe ali uma burguesia empresarial. A política de transição rápida para o capitalismo imposta aos países do Leste é absurda e ridícula.
O senhor é igualmente pessimista quanto à União Soviética?
Muito mais. A União Soviética é uma sub sub América Latina. É o quarto mundo. Uma favela brasileira comparada à periferia de Moscou é um oásis de dinamismo.
Não seria possível adotar uma espécie de Plano Marshall para a Europa do Leste, como os Estados Unidos fizeram para reconstruir a Europa Ocidental depois da guerra? (A ajuda americana foi de 70 bilhões de dólares, em valores de hoje.)
Ninguém vai querer pagar a conta.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 O Brasil já foi palco de um show de orcas – que terminou em tragédia
O Brasil já foi palco de um show de orcas – que terminou em tragédia Túmulos do Egito Antigo de 5.000 anos revelam práticas funerárias violentas
Túmulos do Egito Antigo de 5.000 anos revelam práticas funerárias violentas Santo Sudário não foi feito pelo contato com um corpo, aponta estudo brasileiro
Santo Sudário não foi feito pelo contato com um corpo, aponta estudo brasileiro Quem são as “papa-moscas”, aranhas fofas que possuem supervisão
Quem são as “papa-moscas”, aranhas fofas que possuem supervisão Pandemia envelheceu o cérebro até de quem não teve Covid-19, indica estudo
Pandemia envelheceu o cérebro até de quem não teve Covid-19, indica estudo