Como agem os grupos neonazistas do Brasil
Eles já mataram, espancaram e jogaram bombas em pessoas – e seguem ativos na Internet

Chuck, Tumba, Crânio, Lika, Mel, Vivi, Macaco, Sequestrado, Bulldog e Devastação se reuniram na estação Vergueiro do metrô de São Paulo, na tarde daquele domingo, 14 de junho de 2009. O plano era rumar em direção à 13ª Parada Gay para agredir homossexuais. Três milhões de pessoas percorriam a pé as 15 quadras entre o vão do Masp e a Praça Roosevelt para comemorar a diversidade sexual, e o grupo neonazista se misturou a elas.
Depois que a polícia liberou o trânsito na região, um grupo continuou a festa no Largo do Arouche. Chuck, Tumba e companhia foram junto. Às 21h40, uma bomba foi jogada para cima, na esquina da Avenida Vieira de Carvalho com a Rua Vitória. Era um explosivo de fabricação caseira, que misturava “dinamite ou substância de efeitos análogos”, como definiram os investigadores, com pedaços de cano de PVC, cacos de vidro e pregos. Os estilhaços atingiram até quem estava a 40 metros do local, na outra esquina. Quarenta pessoas ficaram feridas.
A 500 metros dali, por volta das 23h, a gangue atacou Marcelo Campos de Barros, 35 anos, negro e homossexual, com um pedaço de madeira e chutes com botas de bico de aço. Marcelo morreu três dias depois. O inquérito aberto pela Polícia Civil e transformado em denúncia pelo Ministério Público do Estado apontou a mesma autoria para o atentado a bomba e para o assassinato: uma gangue neonazista chamada Impacto Hooligan (IH), a que Chuck e seus amigos pertenciam. Onze pessoas foram indiciadas, entre elas dois menores de idade.
A polícia chegou até eles por meio das imagens de segurança de um dos bares, que mostravam os jovens de classe média chegando ao local e saindo correndo poucos segundos antes da explosão. A gravação batia com fotografias hospedadas em um site de conteúdo antissemita, cujo link havia sido enviado para um dos organizadores da Parada Gay, junto com ameaças. Testemunhas ajudaram a colocar as últimas peças no quebra-cabeça.
Nas casas de Chuck e Tumba, a polícia encontrou as roupas utilizadas no domingo dos crimes: botas com bico de aço, máscaras, armas falsas e munição. Também havia papéis documentando a existência do grupo, um caderno de anotações com 241 páginas, considerado o estatuto da Impacto Hooligan, no qual constam regras como “não ter dó dos inimigos”, e orientações sobre hierarquia da gangue e a simbologia neonazista. Ela estava expressa também em cartas que relacionavam os numerais 88 e 98 aos integrantes do bando: são menções à posição das letras no alfabeto. Oito é o “H”, nove, o “I” e portanto 98 quer dizer Impacto Hooligan, e 88 são as iniciais de Heil Hitler.
Mas nem todos esses indícios e sequer os depoimentos de comparsas da Impacto Hooligan, que confirmaram a participação da gangue nos crimes, foram suficientes para incriminar os acusados. Alguns chegaram a ser presos preventivamente, mas obtiveram habeas corpus e não retornaram à cadeia. A punição imposta – exclusivamente a Chuck e a Tumba – foi por formação de quadrilha: dois anos em regime semiaberto, que acabou perdendo validade porque o processo tramitou durante tanto tempo que a pena prescreveu.
O assassinato de Marcelo Barros e o atentado à bomba na Parada Gay de 2009, em São Paulo, foi o mais rumoroso caso de neonazismo dos últimos anos no Brasil. O desfecho, embora tenha frustrado a polícia e o Ministério Público, não chega a ser incomum: há ainda poucas condenações definitivas por crimes que envolvam ideologia neonazista no Brasil e, quando elas são proferidas, em geral as penas são alternativas, podendo ser cumpridas com prestação de serviços comunitários, multas ou em regime semiaberto ou aberto.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, um caso que é considerado o marco na investigação do movimento no Brasil, por ter sido o primeiro a revelar a existência de uma quadrilha neonazista, ainda não teve sua tramitação concluída na Justiça. O crime ocorreu às 2h da manhã de 8 de maio de 2005, horário em que os bares da Cidade Baixa, bairro boêmio de Porto Alegre, costumam estar cheios, especialmente na noite de sábado. A data é considerada especial pela comunidade judaica, pois marca a rendição da Alemanha na 2ª Guerra.
Um grupo de judeus que usavam quipá cruzou pelo Pinguim, um bar conhecido do bairro, onde integrantes da gangue Carecas do Brasil bebiam, armados com facas. O ataque foi rápido e feroz. Sete nazistas agrediram três judeus, que só não morreram porque clientes dos bares apartaram o conflito, e o atendimento médico chegou rápido. Doze anos depois do crime, os 14 réus (agressores e cúmplices que auxiliaram na fuga) aguardam em liberdade a realização de um júri popular que vai proferir a sentença. É a primeira vez que a decisão será dada por esse método no Brasil.
Desde 2005, foram “entre 40 e 50 indiciamentos” por crimes relacionados aos neonazistas, segundo cálculos do delegado Paulo César Jardim, que investigou o caso e que é considerado uma das maiores autoridades no assunto no País. Em geral, os processos aguardam julgamento ou foram concluídos com penas alternativas.

Vigilância constante
A sensação de impunidade poderia incentivar os grupos neonazistas no Brasil. Mas não foi isso que ocorreu nos últimos anos. Na verdade, crimes promovidos por gangues organizadas, como a Impacto Hooligan e os skinheads gaúchos, estão em declínio. “O último caso rumoroso foi o ataque a bomba, em 2009. Desde então, não houve nada nesses termos”, diz Daniela Branco, responsável pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância de São Paulo (Decradi). O delegado Paulo César Jardim também vê uma evolução: a atuação dos grupos neonazis “tem diminuído acentuadamente”, afirma.
A explicação para a queda é a vigilância constante da polícia em cima dos grupos organizados. Daniela e Jardim conhecem em detalhes os hábitos dos envolvidos, mesmo dos casos que ainda não foram a julgamento. “Acompanhamos suas vidas, sabemos onde trabalham, com quem se reúnem… E eles sabem disso”, diz Jardim. Em 12 anos, desde o ataque aos judeus em Porto Alegre, setores da polícia se especializaram nesse tipo de ação. Jardim treinou uma equipe que, além do monitoramento de grupos e indivíduos, se dedica ao estudo de obras fundadoras da ideologia neonazista. “É importante para poder conversar com os acusados. Eles frequentemente testam o nosso conhecimento para definir se estamos autorizados a conversar com eles”, explica.
A delegacia comandada por Daniela, em São Paulo, é outro bom exemplo: foi criada em 2006 e, desde então, vem alimentando um banco de dados e informações sobre as gangues. “Temos as fotos e os casos relacionados a cada indivíduo investigado. Com o tempo, eles foram ficando conhecidos, o que inibiu a atuação deles na rua, e a postura mais violenta acabou diminuindo”. Em Porto Alegre, guardado em um armário na sua sala na 1a DP, o delegado Jardim possui um esquema ilustrado que mostra a diversidade de grupos e as respectivas simbologias existentes no Rio Grande do Sul: um careca crucificado, um coturno preto com cadarços brancos ou a suástica. A maioria está ligada a uma grande família chamada White Power Sul Skin.
A legislação brasileira também mudou para dar conta da punição a esses crimes, o que contribui para arrefecer a ação dos bandos racistas. Desde 1989, havia a Lei do Crime Racial e, em 2016, entrou em vigor a Lei Antiterrorismo, que prevê crimes inafiançáveis e com penas de 12 a 30 anos de prisão. “Estamos mais tranquilos, respaldados por duas leis muito rigorosas”, diz o diretor jurídico da Confederação Israelita, Octavio Jose Aronis.
Hoje, grande parte das ocorrências são desavenças internas ou enfrentamentos entre gangues de ideologias diferentes, não ataques a minorias. “Funciona como torcida organizada, cada um tem sua posição e eles se enfrentam caso se cruzem na rua”, diz Daniela. Por exemplo, se um grupo se intitula “careca”, ele possivelmente é inimigo dos skinheads, embora ambos tenham a cabeça raspada – os carecas são nacionalistas (e, tecnicamente, não neonazis, mas compartilham de aspectos da ideologia intolerante) e não admitem uso de língua estrangeira. Os nacionalistas não perseguem negros como os skinheads, mas todos se voltam contra homossexuais. Os judeus também são hostilizados por diferentes facções. São divergências dessa ordem que podem provocar uma guerra de rua entre os bandos. Elas provavelmente são mais frequentes do que apontam os registros policiais, mas não é de interesse de nenhuma gangue registrar queixa e ficar na mira do Estado.
Grupos como os Carecas do ABC, uma das facções mais conhecidas da ala “careca”, fazem questão de se distanciar de qualquer referência neonazista: suas influências, afirmam, vêm do integralismo e das ideias de Plínio Salgado – em outras palavras, valorizam a miscigenação racial, mas mantêm um discurso homofóbico e antissemita. Surgido no ABC Paulista, como o nome sugere, o grupo ganhou notoriedade por suas ações violentas nos anos 1980 e 1990, seguindo nos noticiários até a virada do século. Um dos últimos grandes crimes associados aos Carecas do ABC foi o espancamento até a morte do adestrador de cães Edson Neris da Silva, em São Paulo, no início do ano 2000. Edson era homossexual – no momento do ataque, ele estava de mãos dadas com outro homem, que conseguiu escapar.
Atualmente, esses grupos perderam espaço nas notícias policiais. Os Carecas do ABC já não são numerosos como antigamente – estima-se em torno de 250 membros somados aos Carecas do Subúrbio, grupo do qual são uma dissidência – e se dedicam principalmente a eventos musicais e sociais. Em seu site, o grupo afirma: “estamos criando problemas desde 1987 e acreditamos que iremos nos manter assim por muito tempo. Agora de uma forma totalmente política e ideológica, não mais por banalidades”. Os Carecas do ABC participaram de manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff e, em suas redes sociais, garantem ser contra todos os grandes partidos políticos do País.

Das ruas para as redes
A atuação de gangues neonazistas está sob controle, mas isso não significa que as violações de direitos humanos tenham deixado de ocorrer. Pelo contrário. “Os crimes de ódio em geral estão em crescimento”, alerta o promotor Christiano Jorge Santos, do Ministério Público de São Paulo. Em 2016, o Brasil bateu seu recorde de assassinatos de homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais – 343 mortes. A polícia não consegue rastrear as motivações de todos os agressores, que podem ser simpatizantes de ideias racistas e intolerantes, incluindo admiradores de Hitler, por exemplo (até porque muitos assassinos sequer são identificados). Na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância de São Paulo, dos 139 inquéritos abertos em 2016, apenas cinco se referiam às gangues – sendo que dois deles foram ocorrências entre os grupos.
Um caso recentemente investigado foi o de um rabino que denunciou a existência de cartazes antissemitas colados na região central de São Paulo. É um bom exemplo de como neonazistas operam atualmente. O rabino postou nas redes sociais um vídeo arrancando um desses cartazes e desafiando os autores da manifestação a assumir sua identidade – coisa que eles fizeram, por meio de um vídeo disseminado pela internet.
As imagens chegaram ao Decradi. Numa busca ao cadastro de criminosos criado e abastecido pela unidade, os policiais identificaram os criminosos: eram integrantes da gangue Kombate Rac, que vinha sendo monitorada desde 2010, quando se revelou à polícia em uma manifestação a favor do deputado federal Jair Bolsonaro ocorrida na Avenida Paulista. Embora não tenha protagonizado atos violentos nas ruas, a Kombate Rac tem atividade intensa nas redes sociais. “Estão angariando novos membros”, revela Daniela Branco. Em 2016, dos cinco inquéritos da Decradi vinculados ao neonazismo, dois foram feitos exclusivamente a partir de movimentações na rede.
No mesmo ano, a SaferNet, uma organização não governamental que combate crimes na internet, recebeu 704 denúncias no Brasil de crimes cibernéticos com conteúdo neonazista. Esse número já foi muito maior: em 2010, foram mais de 22 mil. Foi apenas em 2015 que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos incluiu o termo “neonazismo” como uma classificação que pode ser escolhida pelos usuários que utilizam seus canais de denúncia. Desde então, foram 131 registros.
O território virtual é escorregadio, e a atuação neonazista pode estar camuflada. Um dos casos recentes foi o ataque virtual sofrido pela jornalista e apresentadora de televisão Maju Coutinho, vítima de comentários preconceituosos na página do Jornal Nacional. Os agressores, denunciados por racismo pelo Ministério Público de São Paulo, não possuíam formação nem eram profundos conhecedores do nazismo. Mas uma análise mais detalhada mostrou haver atividade de neonazistas na comunidade de 20 mil membros em que eles interagiam. “Os neonazistas organizados realizam um trabalho de pescaria em páginas de internet de cunho racista ou em outras que não sejam explicitamente neonazistas. Algumas se camuflam até como páginas de humor”, explica o promotor de São Paulo Christiano Jorge Santos, autor do livro Crimes de Preconceito e de Discriminação, resultado direto do dia a dia vivido nas investigações do Ministério Público relacionadas ao tema. “Eles começam a trocar mensagens com as pessoas e, quando percebem que alguma tem potencial para ser adepta da ideologia ariana, a conversa progride, e as gangues arregimentam novos membros”, diz Santos. Na internet, o trabalho de monitoramento dos grupos é muito mais complexo, porque depende de autorizações judiciais para quebras de sigilo e da cooperação das empresas que mantêm serviços de hospedagem de sites, bem como dos gigantes Facebook, Twitter e YouTube. Além disso, a rede permite o anonimato e não impõe restrições geográficas. Um grupo brasileiro pode tranquilamente manter uma página terrorista fora do País, e há muitas nações que sequer possuem acordo legal de cooperação com autoridades brasileiras.
O Kombate Rac, por exemplo, vem utilizando a rede social russa VK para organizar debates e atividades. Ela apareceu pela primeira vez em 2016 no ranking da SaferNet de sites mais denunciados por conteúdo neonazista. Foi o sétimo mais denunciado. Facebook, Twitter e YouTube estão à frente dela. “A gente tem observado que, se tira um conteúdo do ar, ele volta a ser publicado, de forma idêntica, em outro”, lamenta Irina Bacci, ouvidora nacional de direitos humanos.
Em outros casos, porém, a cartilha neonazista serve como inspiração para a ação de pessoas, não de grupos, na internet. Em um caso investigado pelo Ministério Público de São Paulo, nos tempos do Orkut, em 2004, um rapaz justificou a escravidão afirmando que “negros ficam podres” se não tomarem banho. A frase não tem nenhum fundamento ideológico – é pura agressão, mesmo. Mas, ao explicar aos promotores por que fez tais declarações, o criminoso admitiu ter “interesse especial pela história de Adolf Hitler e o nazismo” e emendou outra barbaridade, desta vez contra os judeus: “Eles eram vírus que queriam ocupar o lugar dos alemães”. Em 2012, o autor das agressões, Leonardo Viana da Silva, foi o primeiro condenado em segunda instância pela Justiça brasileira por crime de racismo na internet. A pena de 2 anos e 4 meses em regime aberto foi substituída pela prestação de serviços comunitários e multas.
Nazis X Neonazis
Todos idolatram Hitler, mas os novos grupos não estão conectados com as organizações da época da 2ª Guerra
Em agosto, supremacistas brancos mataram uma pessoa durante manifestações em Charlottesville (EUA). No Brasil, a polícia descobriu em setembro que os neonazistas daqui mantêm uma rede de contato com os americanos, além de grupos similares na Europa e Argentina. Muitas das organizações brasileiras são consideradas braços desses grupos estrangeiros, inclusive os que atuaram em Charlottesville: de acordo com os investigadores, líderes locais compartilham experiências e chegam a viajar para trazer material de apologia ao nazismo ao Brasil. A intolerância vive um novo momento. Insatisfeitos com os efeitos da imigração, com o desemprego e com a resposta das autoridades aos ataques terroristas, grupos intolerantes têm saído do anonimato. Mas as semelhanças com os nazistas originais não vão além da inspiração, segundo especialistas. “São grupos que se inspiram, se referem ao nazismo e aos inimigos que o nazismo tinha, como judeus, negros e homossexuais, mas não há uma continuidade”, afirma o professor aposentado René Gertz, pioneiro nos estudos sobre a história do nazismo no Brasil. Odilon Caldeira Neto, pesquisador em História da PUCRS, afirma que o avanço do neonazismo se dá principalmente por questões conjunturais, não étnicas. “Nos anos 1990, por exemplo, o crescimento ocorreu em torno da editora Revisão (veja mais na página 57). Na década de 1980, a atividade era menor, com os skinheads”, explica. Parte desse movimento ganhou força atualmente com a ascensão de Donald Trump à Casa Branca. O presidente americano foi criticado por sua reação ambígua aos protestos de Charlottesville: para ele, a culpa da violência estava “em muitos lados”, não só nos racistas. É por episódios como esse que os neonazistas veem na Casa Branca um incentivo para difundir suas ideias.
Esta reportagem é parte do Dossiê SUPER: Nazismo no Brasil, publicado em outubro de 2017


 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês
O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017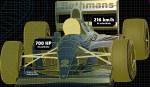 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna? Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia
Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


