Chefs e cientistas criam alternativas para pratos polêmicos
Lagostas fervidas vivas, gansos forçados a comer até não digerir mais, atuns caçados até a extinção e tubarões aleijados. Tudo isso pode ter fim. Fazendeiros, chefs e cientistas buscam alternativas para alguns dos pratos mais sofisticados (e polêmicos) da culinária. Eles estão conseguindo – sem abrir mão do sabor.
A lagosta
A cena é famosa. Está até nos desenhos animados. Escolher a lagosta que será fervida viva para o deleite – ou trauma – dos comensais. O motivo é manter o frescor da carne. Sandro Dias, professor de história da gastronomia no Centro Universitário Senac, afirma que livros clássicos de culinária ensinam a tratar crustáceos como bichos que não sentem dor. Mas o cerco à prática está montado. União Europeia e Nova Zelândia, por exemplo, já têm leis que protegem a lagosta. E há pessoas buscando novas maneiras de tratar o animal.
É o caso do advogado britânico Simon Buckhaven, que largou o direito quando, de férias na França, pediu uma lagosta – e se arrependeu. Por dez anos, Buckhaven desenvolveu, com o apoio da Universidade de Bristol, no Reino Unido, um equipamento que eliminaste o possível sofrimento do animal (a ideia de dor nos crustáceos foi por anos debatida pela ciência, mas os últimos estudos indicam que, sim, eles sofrem) e mantém seu tão afamado sabor. O resultado foi o Crustastun, equipamento do tamanho de um micro-ondas cujos eletrodos emitem uma frequência que promete anestesiar o sistema nervoso da lagosta em meio segundo. A morte vem em 5 segundos, contra longos minutos na panela. A máquina, lançada em 2009, já foi vendida para países como Inglaterra, Irlanda, Noruega e Portugal. O Crustastun na versão para restaurantes sai por 2,5 mil libras (cerca de R$ 8 mil). Mas há também uma maior, criada para a indústria, que custa quatro vezes mais.
MAS E AÍ, É BOM?
Para o chef Giorgio Locatelli, do Locanda Locatelli, um dos melhores restaurantes de Londres segundo o Guia Michelin, prestigiada publicação francesa de gastronomia, lagostas preparadas com o aparelho ficam melhores. “A carne é mais macia e suculenta. Mantém a umidade”, diz.

O ganso
São 30 cm de comprimento. A ave engole uma torrente de ração que desce pelo cano metálico, completamente enfiado em seu esôfago. Por 10 segundos, quatro vezes ao dia, o animal parece mais um saco de penas preenchido com milho. Nas horas vagas, digere a refeição enquanto aguarda a próxima sessão em uma gaiola individual. Após cerca de um mês, seu sistema digestivo não suporta mais comida. É hora do abate. Só na França, maior produtora e consumidora, seu fígado movimenta um mercado de R$ 3,8 bilhões ao ano. Não é um fígado comum. Ele cresce até dez vezes de tamanho. É um fígado gordo. Ou seja, um foie gras.
A alimentação forçada (gavage) de gansos e patos é o meio usado para produzir foie gras em escala industrial e abastecer refeições sofisticadas que celebram essa iguaria de textura amanteigada no mundo todo. Mas a pressão pelos bons tratos aos animais já conseguiu sua proibição em alguns lugares. Até a cidade de São Paulo chegou a banir a produção do fígado de ganso em 2015, mas a lei terminou suspensa. De qualquer maneira, o debate está abrindo espaço para uma gastronomia mais ética. Para seus defensores, não é preciso eliminar o foie gras, com 5 mil anos de história e eleito, em uma pesquisa do Ministério da Economia francês, o símbolo máximo da culinária mais sofisticada do mundo. A ideia é provar que se deliciar sem culpa pode ser possível.
Egípcios, gregos e romanos já conheciam as delícias dos fígados inchados. “Homero menciona a prática na Odisseia”, diz Mark Caro no livro The Foie Gras Wars (inédito em português). E é essa capacidade que os produtores exploram há séculos, a ponto de muitos deles dizerem que não existe foie gras sem gavage.
Não é o que pensa um fazendeiro de Estremadura, na Espanha. Há 200 anos, a Patería de Sousa gaba-se de fazer patês ecológicos. Lá, as aves são criadas em liberdade e têm alimentação baseada em frutas e sementes da própria fazenda (e sem os sinistros tubos). E ela tira vantagem de um detalhe que a indústria, devido à demanda incessante o ano todo, ignora: patos e gansos engordam naturalmente com a chegada do frio. São aves migratórias, que acumulam gordura para suportar a viagem. O que o proprietário Eduardo Sousa faz é oferecer o que elas procurariam ao Sul: figos, nozes, sementes etc. Sem precisar prendê-las. Com a ajuda do clima favorável da região, ele as convence a ficar para o inverno. Sousa é reconhecido por fazer um foie gras de primeira linha, mas seus desafios são enormes. “Para criar mil gansos, preciso de 12 meses, 500 hectares e muitas árvores para fazer o que eles conseguem em 15 dias e 100 m²”, diz, referindo-se aos produtores tradicionais.
O resultado é um foie gras ainda mais caro. O pote de 180 g custa 199 euros na Espanha. Mas a demanda é grande. A importadora brasileira Rosa Maria Zoboli chegou a comprar por impulso tudo o que Sousa havia produzido em um ano: 540 disputados frascos, desembolsando o que seria hoje mais de R$ 400 mil. Apesar do custo, ela (que também teve sua epifania verde ao pedir uma lagosta de férias na França) acha que o investimento valeu a pena. “Dependemos dos caprichos da natureza”, explica Sousa. Desafios de quem não trata a comida como indústria.
MAS E AÍ, É BOM?
Há chefs que torcem o nariz para a falta de confiabilidade na produção de Sousa. Mas o espanhol tem fãs confessos, como Dan Barber, ícone da gastronomia sustentável e um dos maiores chefs do mundo. “É inacreditável, melhor que qualquer um”, diz à SUPER.

O atum
Na década de 1970, um peixe que até então era usado para fazer ração de gato virou iguaria: o atum. E é de uma espécie de atum, o atum-azul, máquina de meia tonelada, 3 m de comprimento e veloz como uma lancha, que vem um dos itens mais cultuados da culinária do Japão: uma camada de gordura chamada toro. O problema é que o peixe está acabando. As 6 milhões de toneladas de todas as espécies de atum que consumimos por ano colocaram o atum-azul na lista de animais mais ameaçados de extinção da ONG WWF.
Para combater isso, há três caminhos. O primeiro são fazendas marinhas. Viável, mas uma medida cara. O atum-azul é um animal selvagem, que vive em constante migração e come dez vezes mais que um salmão de cativeiro, por exemplo. E atum de fazenda produz carne de menor qualidade, segundo especialistas. Outra alternativa é a substituição do azul por uma versão desenvolvida pela Universidade Kinki, no Japão: o kindai. É um atum-azul domesticado, sem o comportamento que o faz ser comparado a um tigre do mar. A terceira, defendida por especialistas como o jornalista americano Trevor Carson, autor de The Story of Sushi, é a mais radical: abandonar o toro. Para ele, trata-se de comida pouco sofisticada e culturalmente irrelevante. Não faria falta. “Se a ideia é apreciar a qualidade do atum-azul, coma a carne dele, akami. Se é para comer a gordura que derrete na boca, que os fãs adoram, vá de atum-branco”, diz.
O chef Helio Takeda, professor de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi, largou o toro devido à ameaça ao atum-azul. “Podemos comer peixes, como carapau ou atum-amarelo, abundantes no Brasil. Mas não têm a mesma qualidade”, diz.
MAS E AÍ, É BOM?
“Atum-branco é menos sofisticado que toro, mas é uma boa alternativa”, diz Carson. E kindai pode ser ainda melhor. “É peixe de fazenda, pode ter mais gordura, mais toro.” Mas ele lembra que ainda se debate se kindai é uma medida sustentável devido aos altos custos de manutenção das fazendas.

O tubarão
Sopa de barbatana de tubarão é uma sofisticada iguaria chinesa, consumida nas alas mais tradicionais do país e também em restaurantes ao redor do mundo. O costume é responsável pela matança de mais de 70 milhões de tubarões todos os anos. A pesca é controversa porque consiste simplesmente em pegar os peixes, cortar suas barbatanas e jogá-los de volta ao mar, onde, incapacitados de se orientar, afundam e sangram até a morte. Por causa da gastronomia. Estima-se que algumas espécies estejam reduzidas a 1% da população de dez anos atrás, segundo a revista Scientific American.
O grande desafio de combater seu consumo é que, assim como o foie gras, trata-se de um costume histórico, com 700 anos de tradição. A sopa é servida em casamentos e comemorações. Embora esteja caindo de popularidade entre as camadas mais ocidentalizadas, onde é substituída até por vinho francês (a questão principal é o status, acima do sabor, afinal), a sopa ainda é popular na China e em Taiwan. E é nessa ilha que alguns pesqueiros investem em uma alternativa mais ecologicamente viável, segundo o portal Taiwan News.
No lugar do tubarão, a cooperativa Kouhu vende barbatanas de tilápia de Taiwan, um peixe largamente domesticado, a restaurantes de Taiwan, Hong Kong e Japão. O diretor da cooperativa, Wang Yi-feng, diz que eles vendem a preços quatro vezes menores, o que motiva a procura. A medida diminui a demanda pelos tubarões e eleva o valor agregado da tilápia, que deixa de ser só ração de peixe para ser também comida sofisticada. Além disso, ela não tem mercúrio, comumente encontrado no tubarão. Para Dan Barber, o chef defensor do foie gras verde, o futuro de toda a comida está em pratos assim.
MAS E AÍ, É BOM?
Para a jornalista taiwanesa Rachel Chan, autora de reportagens sobre a tradição, não há diferença entre sopa de barbatana de tubarão e de tilápia de Taiwan. “Não têm muito gosto e a textura é a mesma”, diz. “Quem se preocupa com os animais vai escolher essa alternativa.”


 Conheça a insana “Corrida do Queijo”, que termina com hospitalizados todos os anos
Conheça a insana “Corrida do Queijo”, que termina com hospitalizados todos os anos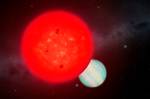 Astrônomos encontraram planeta gigante que, teoricamente, não deveria existir
Astrônomos encontraram planeta gigante que, teoricamente, não deveria existir Quantidade moderada de exercício – e não excessiva – retarda envelhecimento do cérebro
Quantidade moderada de exercício – e não excessiva – retarda envelhecimento do cérebro Conheça Jawlene, a jacaré-fêmea sem maxilar superior resgatada na Flórida
Conheça Jawlene, a jacaré-fêmea sem maxilar superior resgatada na Flórida As palavras mais bonitas do português, segundo o criador do dicionário Aurélio
As palavras mais bonitas do português, segundo o criador do dicionário Aurélio






