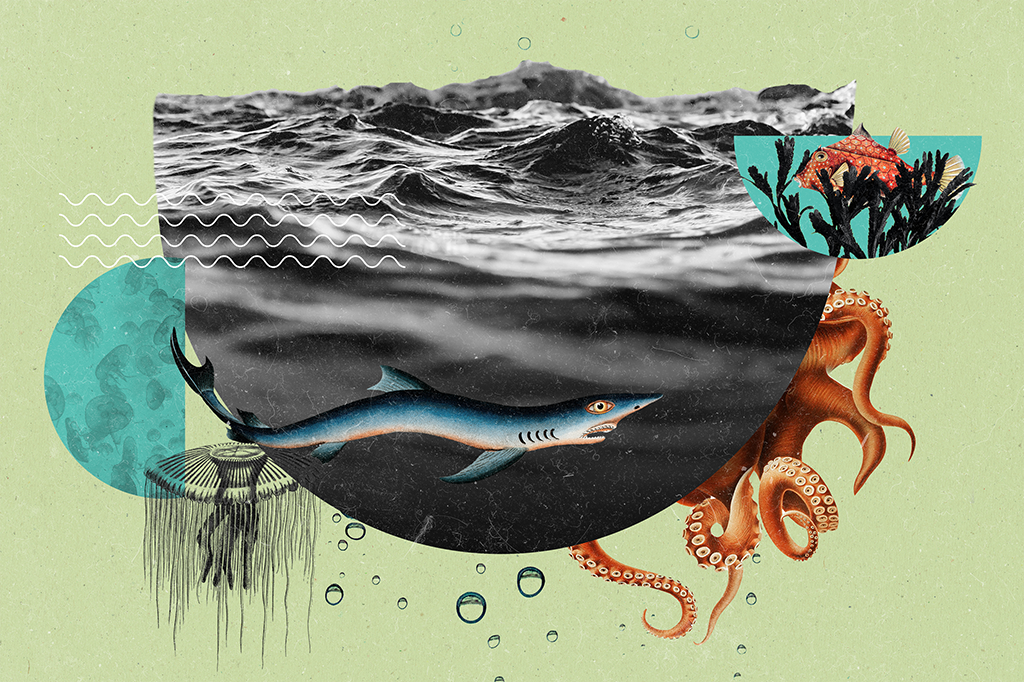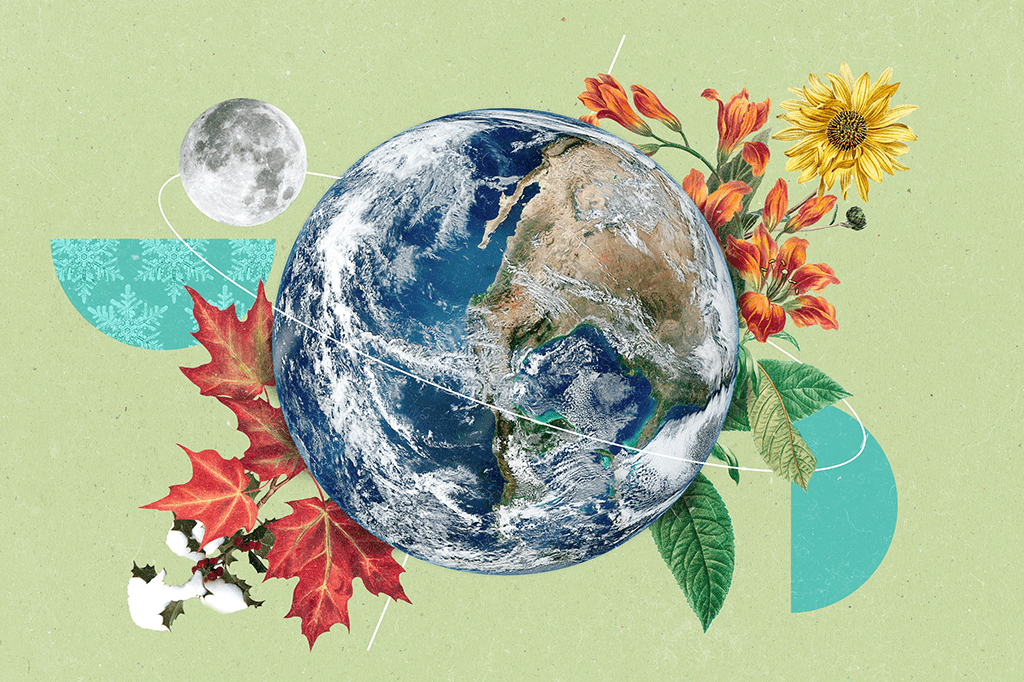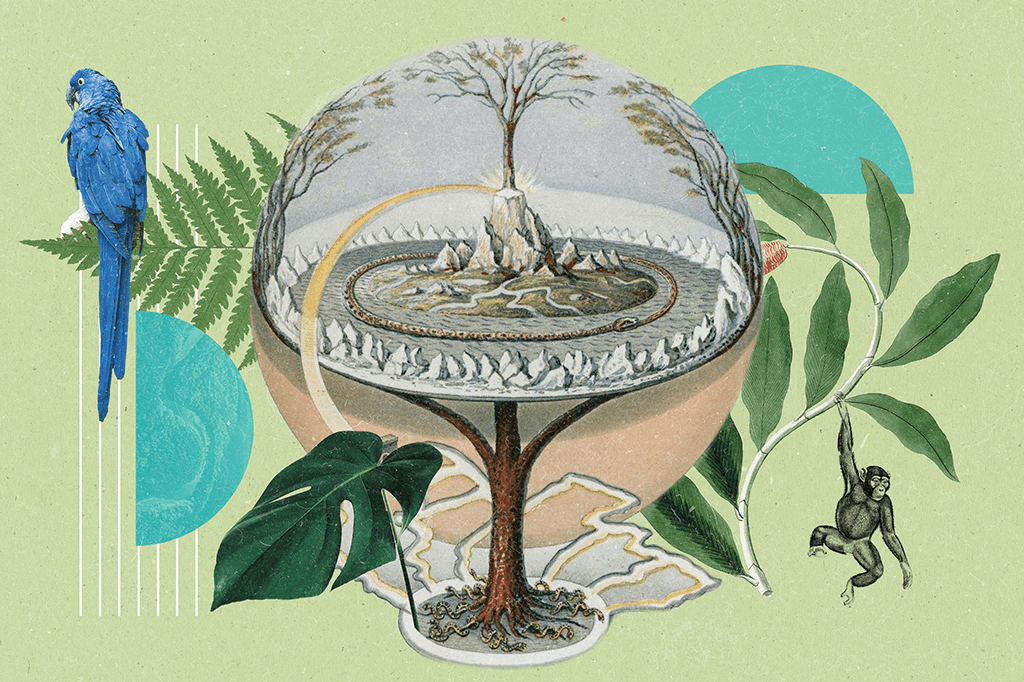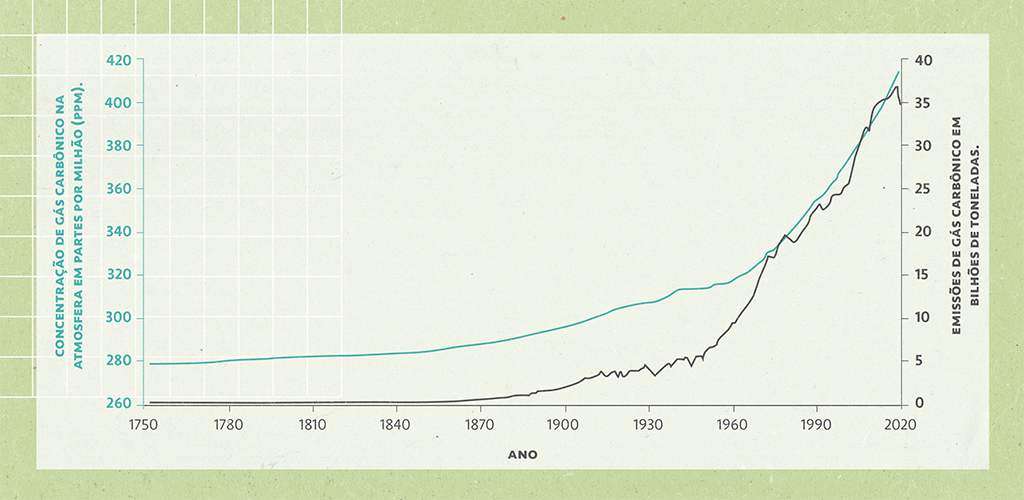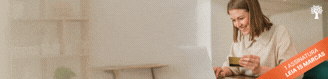“Você está na biblioteca de Alexandria e percebe que sua prateleira está chamas. Uma ala toda já queimou, e os vândalos lá fora impedem os bombeiros de entrar. O que fazer?” A pergunta está num artigo de 1992, escrito pelo físico e escritor de ficção científica Gregory Benford. Benford escreve que é uma má ideia andar corredor por corredor atrás dos tratados mais importantes de Aristóteles ou qualquer outra solução pedante do gênero. (Afinal, quem é você para decidir quais conhecimentos serão úteis para a posteridade?)
Por outro lado, pegar só o que está por perto – e sair sobrecarregado com os itens de uma única seção do prédio – também é ruim: seja lá quais forem as necessidades da posteridade, é certo que não estão todas convenientemente dispostas na prateleira mais próxima. Pensando com frieza, o melhor caminho é trabalhar por amostragem: correr pelo resto da biblioteca coletando um certo número de escritos aleatórios de cada seção; talvez dando preferência a textos menores, para carregar mais.
Benford faz esse exercício de imaginação porque queria empregá-lo, na prática, para salvar um outro tipo de biblioteca, que está em chamas neste exato momento: o patrimônio genético da Terra. A proposta descrita no artigo é uma de muitas encarnações contemporâneas da Arca de Noé. O autor explica um plano utópico para preservar uma amostra com representatividade estatística de cada bioma – alguns milhares de espécies da Amazônia, dos pântanos da Flórida, da tundra siberiana etc. – usando táticas como culturas de bactérias e células e o congelamento de gametas, órgãos e seres vivos inteiros.
É inevitável: muita coisa ficaria de fora. Mas poderíamos guardar o suficiente para garantir que cientistas do futuro tenham algum acesso à riqueza do bioma, mesmo que ele tenha cessado de existir.
A biblioteca de Benford nunca saiu do papel. Na prática, o mais próximo de uma proposta assim na vida real é o Silo Global de Sementes de Svalbard, construído em 2008 em um arquipélago ao norte da Noruega. Ele contém 1 milhão de sementes diferentes congeladas: são 12 mil anos de agricultura resumidos num prédio. Porém, o foco do local são itens de interesse agronômico, essenciais para a alimentação humana e outras finalidades. Biodiversidade em estado bruto é outra história.
Nós estamos destruindo o planeta mais rápido do que conseguimos aprender sobre ele. Os biólogos já descreveram 1,730 milhão de espécies – a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) estabeleceu esse número em 2014. Impressionante, mas essa ainda é uma fração ínfima do total, que é algo como 11 milhões (as estimativas mais conservadoras falam em 5 milhões; as mais ousadas, 50 milhões).
Milhares delas não chegarão a ser descritas, pois serão ou foram extintas antes disso. Em um momento mediano da história da Terra, quando não há vulcões gigantescos em erupção ou um asteroide batendo no planeta, algo entre uma e dez espécies são extintas por ano. Porém, atualmente, em virtude da ação humana, estima-se que ocorra algo na casa das mil extinções por ano.
A maior parte dos acadêmicos concorda que há uma extinção em massa em andamento no Holoceno – o nome da época geológica em que vivemos. (O último grande manifesto sobre o tema, de 2017, foi assinado por 15,364 pesquisadores de 184 países.)
Nos anos 1950, descobrimos que todas as formas de vida armazenam seu manual de instruções de maneira idêntica: dê um pedacinho de genoma humano a uma bactéria e ela prontamente lerá as instruções para fabricar as moléculas que compõem nosso corpo. É assim, diga-se, que fabricamos insulina para diabéticos: usamos micróbios carregados com um pedacinho de DNA humano como fábricas microscópicas.
Decifrar o DNA é um feito tecnológico homérico: com a tecnologia da década de 1990, demorávamos 13 anos e US$ 3 bilhões para soletrar o material genético de um único humano. Hoje, dá para sequenciar todo o conteúdo do nosso disco rígido biológico em 24h por US$ 500. (Note: estamos falando só da sequência de letras. Entender o que está escrito é outra história, bem mais difícil.)
Não dá para ler, porém, os DNAs de espécies que não existem mais. O que não é apenas uma tragédia para o planeta, mas também para nós, que nunca poderemos nos beneficiar de suas traquitanas biotecnológicas. A OMS estima que o Brasil, com 20% da biodiversidade mundial, tenha até 10 mil espécies com alguma aplicação plausível na medicina. Mas 85% (95%, em certas estimativas) das espécies amazônicas serão afetadas pelo aquecimento global de alguma forma. Enquanto isso, no mínimo 40% da fotossíntese da Terra já é realizada por agricultura – em geral, monocultura.
Nas palavras do ecologista Robert May, que ecoam Alexandria: “Nós estamos queimando os livros antes de aprender a lê-los”. E essa leitura não tem um objetivo necessariamente altruísta. Em muitos casos, bancos genéticos são a única estratégia para salvar nossa própria pele. Apareça num laboratório da Embrapa, ou no Centro de Pesquisa Genômica para Mudanças Climáticas da Unicamp, e você verá agrônomos brasileiros usando genes de plantas do cerrado e da caatinga para projetar cereais resistentes ao calor e às secas – que inevitavelmente virão com as mudanças climáticas.
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO