Órfãs vindas da Europa na adolescência, afrodescendentes escravizadas e índias lideraram exércitos e gerenciaram grandes negócios.
Texto: Tiago Cordeiro | Edição de Arte: Estúdio Nono | Design: Andy Faria
Poucos meses depois de chegar ao Brasil, em 1549, o chefe dos missionários no País, Manoel da Nóbrega, pediu que o rei João 3º enviasse mulheres para o lado de cá do Atlântico. Elas deveriam cumprir uma função estratégica: a de casar com colonos, e assim gerar descendentes educados num verdadeiro lar cristão. “Todos se me escusam que não têm mulheres com que casem, e conheço eu que casariam se achassem com quem”, ele argumentou na carta em que fazia o pedido. Em outras palavras: não havia como reclamar de os homens dormirem com as índias sem oferecer a eles uma alternativa.
Seu pedido foi atendido com certa agilidade. Nos anos seguintes, até onde os registros indicam, foram enviadas para a colônia 18 órfãs, que chegaram ao Brasil a partir de 1551. Já seria o suficiente para fundar uma primeira geração de famílias brancas nativas da nova terra.
Até aquele momento, praticamente não existiam mulheres europeias na América portuguesa. Essas primeiras eram adolescentes órfãs que, na Europa, viviam em casas de recolhimento ou mosteiros. Em geral, tinham menos de 15 anos e eram filhas de funcionários do governo mortos, normalmente em batalhas ou em viagens para os territórios que Portugal já conquistara, ou onde tinha interesses comerciais. O governo português estava habituado a enviar moças assim para suas outras colônias, em especial Goa, na Índia.
Os homens que se casassem com elas receberiam, como dote, cargos no governo – Francisco de Morais, por exemplo, tornou-se escrivão da alfândega de Salvador depois de se unir a Catarina Fróis. Já Manuel Gonçalves precisou processar o governador do Rio de Janeiro, Mem de Sá, para receber o que lhe fora prometido ao se casar com a órfã Maria Barbosa.
Para as mulheres enviadas, Nóbrega via uma vantagem na mudança de ares. “E digo que todas casarão mui bem, porque é terra muito grossa e larga, e uma planta que se faz dura dez anos aquela novidade, porque, assim como vão apanhando as raízes, plantam ramos, e logo arrebentam. De maneira que logo as mulheres terão remédio de vida, e estes homens remediariam suas almas, e facilmente se povoaria a terra.”
De fato, a mudança não deixava de ser uma opção razoável. Afinal, era necessário casar para receber respeito da sociedade, e não ter pais vivos podia diminuir bastante o interesse das famílias de possíveis maridos em Portugal. As órfãs também recebiam uma garantia bastante rara nas colônias: uma união civil formal, reconhecida pelo Estado.
O Brasil atravessaria seus primeiros três séculos com índices de concubinatos altíssimos. Enquanto isso, as órfãs entraram no rol de mulheres casadas no papel, o que lhes trazia uma série de vantagens, principalmente no caso, muito comum, de o esposo morrer.
Órfãs da rainha
Os nomes e os destinos de 15 das 18 moças são conhecidos – ao menos para onde foram levadas e com quem foram casadas. Sabemos que as primeiras órfãs enviadas para o Brasil foram três irmãs, que chegaram a Salvador em 1551. Eram Mécia Lobo de Mendonça, Joana Barbosa Lobo e Marta de Sousa Lobo, filhas do general lusitano Baltasar Lobo de Souza, que perdera a vida durante as batalhas de conquista das Índias.
Joana foi casada com Rodrigo de Argolo, e juntos fundaram uma família de colonizadores de longa tradição na Bahia. Marta se transferiu para Ilhéus com o esposo, João Gonçalves Dormundo. Seus três filhos mudariam a grafia do sobrenome para Drummond. Por sua vez, Mécia teve duas filhas com Jerônimo Moniz Barreto. E isso é basicamente o que se sabe sobre o destino das irmãs.
A partir de 1551, por cinco anos, quem determinou o envio de mulheres foi a rainha Catarina da Áustria, esposa do rei João 3º, que havia falecido. Foi nesse período que as jovens ficaram apelidadas de “órfãs da rainha”. Uma delas, Clemência Dória, teve um destino dos mais felizes. Trazida para Salvador em 1553, ela primeiro se casou com Sebastião Ferreira, que morreu três anos depois num naufrágio.
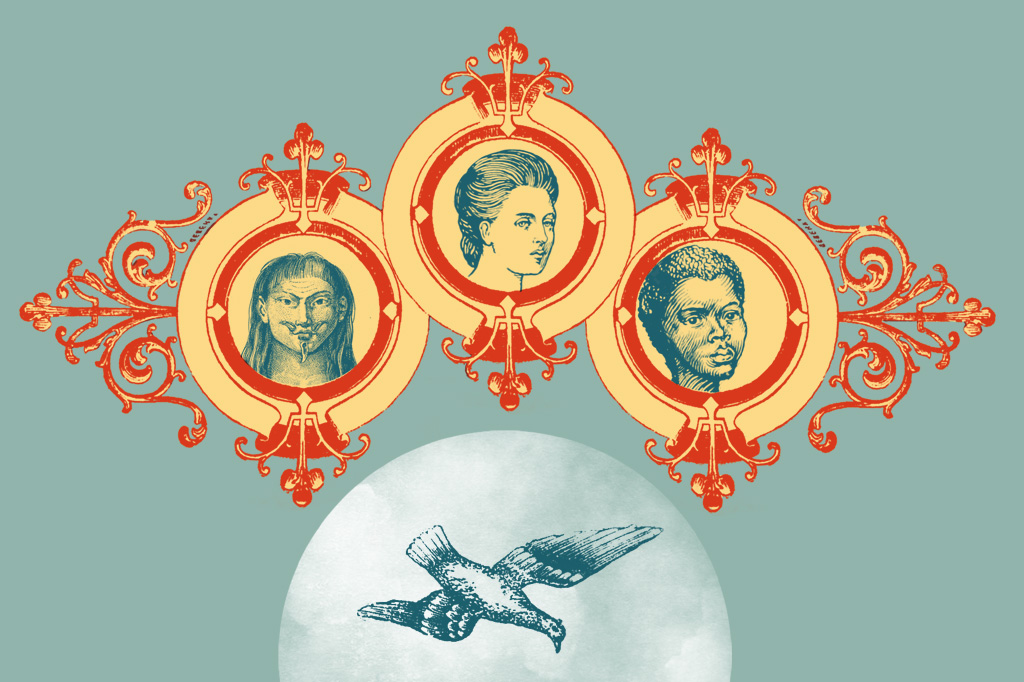
Clemência, porém, não permaneceu viúva. Casou-se novamente, agora com um cunhado do primeiro governador-geral Tomé de Souza, chamado Fernão Vaz da Costa. Por aceitá-la como esposa, Fernão recebeu o cargo de contador geral da colônia. Mas também faleceu, em 1560. A esposa viveu até os anos 1590, pelo menos, e se tornou uma latifundiária rica. É a provável matriarca de todos os Dória, incluindo o atual governador de São Paulo, João Dória Jr.
Já Inês de Souza se mostrou uma chefe militar de talento. Essa órfã foi selecionada para casar com Salvador Correia de Sá, governador da capitania do Rio de Janeiro em segundo mandato quando, em 1581, três navios corsários franceses invadiram a Baía de Guanabara. Salvador estava no interior, à caça de índios para escravizar. Inês então liderou a reação à ameaça francesa: na falta de soldados em quantidade, colocou armaduras e capacetes em jovens e mulheres e os mandou para a praia.
Diz a lenda que foi diante desse falso movimento de reação, com um volume de pessoas maior do que as forças portuguesas efetivas, que os franceses se afastaram. Não a invadiram, como possivelmente previam, e se limitaram a parar em outros pontos do litoral para negociar madeira com os indígenas.
O governador Salvador Correia não teve descendentes com Dona Inês, mas tratou como filhos legítimos os dois meninos, Martim e Gonçalo, que gerou com outra mulher, Vitória da Costa. Sinal de que o governador aceitou o casamento com a órfã, mas não levou a sério o compromisso.
Feiticeiras perseguidas
Primeiro, misture pelo e fios de cabelo, pedaços de unhas e pele da sola do homem amado. Acrescente um pedaço de unha do menor dedo do pé da feiticeira. Engula tudo isso. Quando a mistura virar fezes, leve-as para a feiticeira. Ela vai queimá-las até que virem pó. E esse pó precisa ser misturado com uma canja de galinha e servida ao homem. E assim ele vai se apaixonar por você.
Antônia Fernandes, conhecida como a Nóbrega, ditou a receita ao chefe da Inquisição que atuou na Bahia, na década de 1590, Heitor Furtado de Mendonça. Confessou que havia realizado esse feitiço mais de uma vez. Ela já tinha sido expulsa de Portugal sob a acusação de atuar como cafetina de sua filha, Joana. Como degredada, havia encontrado na bruxaria um modo de vida rentável. Até ser denunciada por suas clientes, que certamente temiam serem elas mesmas julgadas por terem participado dos rituais.
A Nóbrega não era, nem de longe, um caso isolado. Muitas mulheres ensinavam poções e rituais mágicos. Uma delas, Maria Gonçalves Cajado, mais conhecida como Maria Arde-lhe o Rabo, descreveu aos inquisidores, sob tortura, suas participações em rituais de magia negra. Nua da cintura para cima, num quintal descampado, sob a lua cheia, ela invocava os demônios. Quando um deles aparecia, fazia sexo com ele. A relação começava, necessariamente, com Maria beijando as nádegas do ser infernal.
As duas, assim como Isabel d’Alcunha, conhecida como a Boca Torta, negociavam “cartas de tocar”. Eram objetos, gravados com o nome da pessoa amada, acompanhado de outras palavras mágicas. Tudo o que a pessoa precisava fazer era encostar esses objetos na pessoa desejada.
No Brasil, as feiticeiras estavam espalhadas por todo canto. Em geral, seus casos ficaram conhecidos porque elas responderam a processos diante do tribunal da Inquisição. Maria Joana de Azevedo, por exemplo, nasceu em São Luís e vivia em Belém quando, em 1766, foi acusada de expulsar demônios e oferecer banhos que afastavam espíritos ruins.
Na mesma época e mesma região, uma índia conhecida como Sabina respondeu por acusações idênticas. O fato de que três pessoas diferentes se apresentaram para denunciá-la indica que Sabina era uma curandeira muito popular. Teria curado a cegueira de um homem, Raimundo José Bittencourt, usando a fumaça de um cachimbo aceso e a própria língua, que ela teria enfiado dentro do olho do paciente, até tirar de lá um bicho, a causa do problema.
Prostitutas populares
Entre matriarcas e feiticeiras, também viviam prostitutas. Elas se mantinham populares na colônia, até porque o casamento, da forma como estabelecido pela Igreja, não permitia nenhum tipo de prazer no sexo. Nesse contexto, os prostíbulos eram um espaço de relaxamento e satisfação dos sentidos. “Pacificadoras da violência sexual contra as donzelas casadouras e do desejo que pusesse em risco a fidelidade às esposas”, escreve a historiadora Mary del Priore em História das Mulheres no Brasil, “as prostitutas, aos olhos da Igreja, eram a salvaguarda do casamento moderno”.

Por isso mesmo, a prostituição era considerada um crime menos grave do que a sodomia ou o adultério – a ideia de que um casamento cristão depende da existência de bordéis já estava presente nos textos de Santo Agostinho, do século 5. Nesse sentido, os homens estavam liberados para explorar seus desejos carnais em prostíbulos, sem que isso configurasse adultério.
É claro que viver cercado de prostitutas não era recomendado com todas as letras. Elas deveriam funcionar mais como válvula de escape eventual. Os frequentadores deveriam seguir orientações médicas, a fim de evitar possíveis doenças trazidas por essas mulheres. Nos séculos 17 e 18, recomendava-se, por exemplo, banhar-se com água fria, dormir sobre tábuas, tomar vinagre forte com duas claras de ovo, encher as solas dos sapatos com fezes de mulher ou mascar losna sempre que possível.
Num contexto de relativa aceitação, era comum que famílias pobres estimulassem a prostituição de filhas e sobrinhas, ou que famílias ricas fizessem vista grossa aos ganhos acumulados por suas escravas durante a noite. Francisca Carijó, de Itu, e Joana Ribeira, de Atibaia, foram acusadas, em 1758, de explorar suas filhas.
Em 1730, um morador de Vila Rica, André Jorge, respondeu a processo por liberar que a própria esposa e sua filha se prostituíssem. A esposa andaria “descomposta, lançando-se no rio à vista da gente, sem mantos”. Em Minas, uma mulher chamada Maria Franca enviava suas três escravas para a rua, para fazer sexo até trazer para casa uma quantia predeterminada. Justa de Sampaio, escrava liberta, fazia o mesmo com suas próprias escravas.
A pobreza, aliás, levava homens como o baiano José Gonçalves a colocar para dentro de casa a esposa e a amante – esta na cama com ele, aquela dormindo numa esteira no chão.
Princesas e escravas
No início da colonização, quando navios deixavam o Brasil em direção à Europa carregados com nativos escravizados, a proporção de mulheres era muito maior do que a de homens, sinal de que os homens brancos queriam sexo forçado com as índias. À medida que o tráfico de negros se intensificou, começaram a surgir especialidades para os escravos, e algumas mulheres passaram a ser compradas com o objetivo específico de gerar filhos. Foi o caso de Aqualtune.
De acordo com uma antiga tradição, ela era filha de um rei do Congo. Uma princesa, portanto. Morreria na capitania de Pernambuco, numa região onde hoje é Alagoas, mãe de Ganga Zumba, avó de Zumbi. Diz uma lenda, contada e recontada em histórias infantis e canções de cordel, que, na África, ela havia sido derrotada na Batalha de Mbwila, em 1665, numa época em que liderava um exército de 10 mil homens. Como punição, foi vendida pelos vencedores, colocada num navio negreiro rumo ao Recife e levada para um engenho ao sul de Pernambuco.
Estava grávida e, antes de dar à luz, teria organizado uma fuga de escravos em busca de um quilombo sobre o qual muito se ouvia falar. Com a barriga de vários meses, ela teria seguido pelo interior, até encontrar o que era o início do Quilombo dos Palmares. Ali, sua posição de princesa teria feito dela uma líder respeitada. Foi vista pela última vez em 1677, quando a aldeia em que vivia foi queimada. O quilombo ainda resistiria até 1695.
A força da grana
A fuga para um quilombo se mostrava como uma das melhores alternativas para escapar ao regime escravista. Mas era possível também comprar a própria liberdade, trabalhando nas horas vagas e juntando dinheiro. Bárbara Gomes de Abreu e Lima conseguiu.
Depois de comprar a alforria, adquiriu um sobrado diante da igreja matriz de Sabará. E tinha suas próprias escravas. Ao morrer, em 1735, era dona de uma rede de negócios em Minas Gerais e na Bahia. Mantinha uma série de imóveis, negociava ouro em pó e colecionava tecidos de diferentes lugares do mundo.

Ela estava no melhor lugar possível para ascender socialmente com tamanho sucesso. “Não foi só o ouro, o comércio gerou fortunas em Minas Gerais, no final do século 17 e início do 18”, diz o historiador Eduardo Franca Paiva, professor de história da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “As mulheres negras dominaram o pequeno comércio, a alimentação, a venda de bebidas. Elas compravam a alforria pagando em parcelas, uma espécie de crediário da liberdade.”
Por isso, diz ele, a parcela de população livre, em Minas, naquele momento, era maior do que a de qualquer outra província do Brasil. E parte dessas pessoas livres havia juntado dinheiro suficiente para ter seus próprios escravos. “Um terço dos senhores de escravos era formado por ex-escravos, entre eles muitas mulheres.”
De fato, no testamento de Bárbara Gomes de Abreu constavam riquezas raríssimas para a época: um cordão de ouro, uma imagem do menino Jesus, também em ouro, brincos com pérolas, quatro colheres e quatro garfos de prata. Na mesma Sabará, na mesma época, viveu outra Bárbara, de Oliveira, também escrava forra, conhecida por manter 22 escravos e só andar pelas ruas da cidade numa liteira.
Expedição feminina
Jovem espanhola liderou uma empreitada de colonização ao Paraguai a partir de Santa Catarina.
Em meados do século 16, quando os europeus ainda estavam muito longe de ter qualquer controle efetivo sobre as terras que tentavam colonizar, e qualquer campanha podia acabar em tragédia, a espanhola María de Sanabria montou uma expedição colonizadora inteiramente liderada por mulheres.
Em 1552, María, a mãe e as três irmãs se viram instaladas na região onde hoje fica o Estado de Santa Catarina. Chegaram em uma comitiva composta por três navios, que partiram da Espanha com 50 mulheres que deveriam formar famílias europeias no Atlântico Sul.

É sempre bom lembrar que, do litoral sul de São Paulo até o Uruguai, segundo o Tratado de Tordesilhas, oficialmente tudo era território da Espanha, ainda que os portugueses, tão ciosos de combater invasores na costa, não se importassem em ocupar espaços que, em tese, não pertenciam a seu reino.
O pai de María, Juan de Sanabria, primo do conquistador do México, Hernán Cortez, viria junto, para ser o governador de Assunção, mas morreu antes da viagem. As mulheres não desistiram e seguiram em frente. O trajeto por mar foi terrível: metade das passageiras morreu e os bens das sobreviventes de um dos navios foram saqueados por piratas franceses, mais ou menos na altura do golfo da Guiné.
Depois de viver no litoral catarinense por alguns meses, parte das mulheres ficou na região, e outra parte seguiu para o atual Paraguai. A mãe de María, Mência Calderón de Sanabria, permaneceu em Santa Catarina. María preferiu liderar as mulheres decididas a explorar o interior do continente. Acabou se instalando em Assunção. E virou uma liderança respeitada na região. Seu filho, Hernando, se tornou franciscano e fundou a Universidade de Córdoba, na Argentina.


