Tendência natural a procurar intencionalidade ao nosso redor ajuda a entender crença no sobrenatural.
Texto: Reinaldo José Lopes | Edição de Arte: Estúdio Nono / Cris Kashima
Design: Andy Faria | Imagens: Getty Images
m clichê reciclado até não poder mais por quem deseja ridicularizar as religiões é a mania absurda que algumas pessoas têm de enxergar imagens de divindades ou santos nos lugares mais improváveis. O sujeito corta um pão de queijo no meio e vê o perfil da Virgem Maria gravado na massa quentinha; a dona de casa está prestes a jogar o tomate estragado fora quando percebe que as manchas na casca produzidas por um fungo são, imagine só, idênticas ao rosto barbudo e amoroso de Jesus Cristo. Essas manifestações culinárias do sagrado às vezes parecem tão convincentes que desencadeiam peregrinações e veneração.
É difícil não rir desse tipo de coisa, mas as gargalhadas às vezes também nos ajudam a esquecer que as aparições divinas em legumes são só o exemplo extremo de uma tendência profundamente humana de buscar intenções e significados no mundo que nos rodeia. Sem essa propensão, seria dureza tentar entender o que as pessoas querem nos dizer — em especial quando “falam” com a gente sem usar diretamente o conteúdo das palavras, mas pequenos gestos, nuances de voz e por aí vai.
Também seria muito mais complicado, se não impossível, imaginar o que um animal quer fazer — e, acredite, isso era assunto de vida e morte na época em que não éramos todos um bando de zumbis urbanos, e sim caçadores-coletores ou criadores de bichos que precisavam “entrar na cabeça” de outras espécies. E mesmo os princípios da filosofia e da ciência nunca teriam saído do ovo se nossos ancestrais jamais fossem capazes de se perguntar sobre o significado dos raios do Sol ou das nuvens da tempestade.
O fato, porém, é que, em algum momento do passado remoto, esse tipo muito especial de raciocínio começou a tomar forma no cérebro dos primeiros candidatos a gente. É virtualmente impossível dizer quando foi esse momento. Podemos, entretanto, tentar inferir mais ou menos o que se passava dentro das cucas cabeludas de nossos ancestrais com a ajuda de alguns resquícios fósseis e do estudo de nossos parentes vivos hoje.
Dos neandertais aos primeiros xamãs
Tudo indica que somos a única espécie atual a acreditar em deuses ou outros seres sobrenaturais, como espíritos dos mortos, das árvores ou das águas. E quanto às espécies do passado, nossas ancestrais ou primas desaparecidas? Bem, até uns 2 milhões de anos atrás, o cérebro das espécies da linhagem dos hominídeos, prováveis ancestrais diretos do ser humano, tinha o mesmo tamanho do de um chimpanzé típico (ou seja, um terço do nosso ou menos), aparentemente impossibilitando grandes arroubos de pensamento simbólico ou espiritual.
Por volta de 500 mil anos antes do presente, criaturas conhecidas como “Homo heidelbergensis”, que podem ter sido um ancestral comum entre a nossa espécie e os neandertais, já contavam com um cérebro quase tão avantajado quanto o das pessoas de hoje. A capacidade craniana dos neandertais, aliás, era até superior à nossa.
Acredita-se que cérebros com esse nível de complexidade sejam necessários para que surja um dos pré-requisitos para a crença no sobrenatural, o pensamento simbólico – grosso modo, a capacidade de enxergar significado em objetos materiais e de conceber seres não materiais. Até poucos anos atrás, havia pouquíssimos indícios convincentes de que parentes arcaicos da humanidade tivessem essa capacidade.
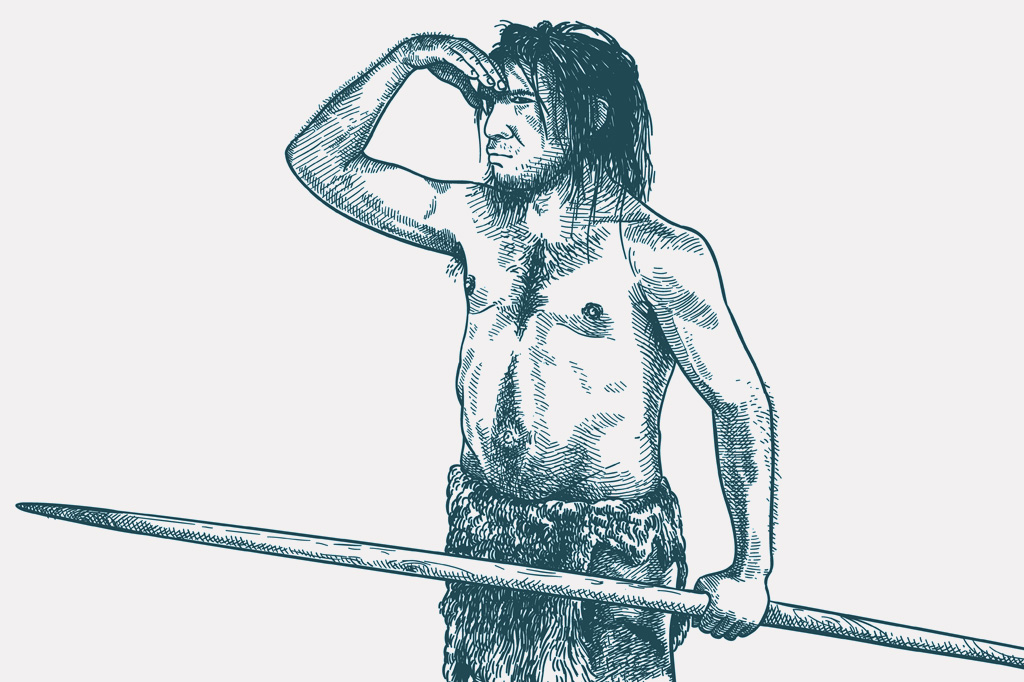
Mas descobertas feitas em sítios arqueológicos da Espanha, com idades entre 115 mil e 65 mil anos atrás, indicam que os neandertais já estavam produzindo desenhos geométricos e colares de conchas antes de seu contato com os seres humanos anatomicamente modernos, ou “Homo sapiens”. São obras extremamente simples, mas que sugerem ao menos o potencial para o pensamento simbólico em ambas as linhagens, a dos neandertais e a nossa, que se separaram há cerca de meio milhão de anos.
Os dois grupos humanos se reencontraram na Europa e no Oriente Médio por volta de 50 mil anos atrás e, no fim das contas, os neandertais desapareceram, não sem antes se reproduzir com alguns dos humanos modernos, deixando resquícios de seu DNA conosco até hoje. No fim desse processo, 40 mil anos antes do tempo presente, as cavernas da Europa viraram imensas galerias de arte. De repente, as feras gigantescas da Era do Gelo passam a povoar as paredes de pedra, junto com coisas aparentemente sobrenaturais.
Sim, porque os artistas da Era do Gelo não se interessavam apenas em retratar a fauna da qual dependiam para sobreviver, mas também criaturas que nunca foram parte de nenhuma fauna do planeta. Temos sujeitos com membros e tronco de gente e cabeça de leão, uma figura bípede com cauda e galhada de cervo – seres que parecem antecipar monstrengos de mitologias bem mais recentes cujos registros escritos chegaram até nós.
Essa, aliás, é uma das muitas hipóteses que tentam explicar o que são essas figuras: elas não passariam de equivalentes paleolíticos do Minotauro e da Esfinge. Outra possibilidade é que sejam cenas de cerimônias religiosas. Nesse caso, os monstros seriam representações de xamãs – sujeitos com função social que mistura a de sacerdote, a de médico e a de vidente, entre outras – caracterizados como criaturas do outro mundo, o que ajudaria esses pajés da Era Glacial a realizar seus rituais. Ou então as feras-homens representariam um tipo de pensamento que ainda marca muitos grupos tribais de hoje: o de que não existe uma barreira absoluta entre a natureza humana e a dos animais.
Para avançar um pouco mais na busca pelas raízes desse tipo de crença, no entanto, não basta a arqueologia. É preciso analisar como funcionam as mentes dos seres humanos hoje e, a partir daí, tentar imaginar como tais propriedades mentais podem ter influenciado as origens da crença em divindades. Dois conceitos têm ajudado muito os psicólogos nessa tarefa. Estamos falando do HADD e da teoria da mente.
Ligue seus detectores
HADD é uma sigla inglesa, e quer dizer “dispositivo hiperativo de detecção de agente”. Vamos deixar o “hiperativo” de lado um instante e nos concentrar no resto da expressão. Pensando mais uma vez em termos evolutivos, é lógico que quase todo ser vivo deveria vir equipado com dispositivos de detecção de agente, ou seja, que detectam coisas que agem na natureza.
Afinal, entre um pedregulho e uma onça-pintada, é óbvio que a seleção natural deverá favorecer minha capacidade de detectar a agência (ou seja, a capacidade de agir) do felino, e não a do pedregulho. Faz sentido ainda que, quanto mais sofisticado for o sistema nervoso de um animal, mais apurados serão seus dispositivos de detecção de agente.

Como você já deve estar imaginando, é aqui que o “hiperativo” entra. Por segurança, vale a pena regular seu dispositivo de detecção de agente num nível acima do estritamente necessário. Antes que a onça-pintada do exemplo anterior enfie os dentes na minha jugular, ela provavelmente balançou galhos e folhas na mata próxima, denunciando sua presença. O mesmo tipo de barulho poderia, por outro lado, ser produzido por um bicho inofensivo ou pelo vento. Mas é melhor ter um detector hiperativo – um HADD – e sempre escapar da onça do que ser sossegado demais e morrer.
E a teoria da mente? A expressão parece indicar algo filosoficamente sofisticado, mas não é nada disso. Possuir uma teoria da mente significa ser capaz de imaginar que outros seres também são dotados de uma vida mental como a sua – nada mais do que isso. Sabendo que outras pessoas e animais possuem intenções, desejos, medos etc., você tem a chance de ajustar com precisão o seu comportamento, levando em conta o que provavelmente está se passando em outras mentes.
Mas também somos capazes de empregar a teoria da mente de um jeito bem mais complicado, misturando as intenções de múltiplos indivíduos e as nossas: “Será que meu chefe sabe que o superior dele me disse que ele é um incompetente?”. E tudo indica que, mesmo que outras espécies possuam alguma forma de teoria da mente, a nossa versão desse “superpoder” mental é a mais sofisticada, de longe. E começa a funcionar muito cedo.
Amigos invisíveis, pequenos deuses

O que os psicólogos andaram descobrindo a respeito das faculdades mentais das crianças corrobora essa tendência. A paixão por detectar agentes em tudo quanto é canto vale inclusive para os que não podem ser vistos ou ouvidos, como mostra um dos fenômenos mais curiosos da cognição infantil: o dos amigos invisíveis, que “aparecem” para quase metade dos meninos e das meninas no começo da infância.
Curiosamente, esses amigos invisíveis costumam ter superpoderes e conhecimento sobre-humano, criando uma analogia tentadora com as mitologias em que seres desse tipo aparecem.
Deixai vir ao laboratório as criancinhas
De fato, alguns dos experimentos mais interessantes e reveladores sobre o tema do presente capítulo envolvem justamente a criançada. Mas por que enfiar crianças nessa história?
Vamos colocar a coisa da seguinte maneira: todas as sociedades do planeta possuem linguagem falada e religião, mas nem todas inventaram um alfabeto ou a física nuclear. Isso significa que bebês já nascem falando ou indo à missa? Naturalmente que não: eles precisam aprender essas duas coisas, assim como precisam aprender a escrever. Por outro lado, hoje está claríssimo que existe uma diferença essencial entre esses dois tipos de aprendizado.
Os bebês, quase sempre, aprendem a falar sua língua materna como se fossem esponjinhas cognitivas, “sugando” espontaneamente pronúncia, vocabulário e gramática do idioma com pouquíssima ou nenhuma instrução formal. Em algumas culturas, os adultos nem se dão ao trabalho de dirigir a palavra aos infantes, o que não parece atrapalhar muito a fluência dos pequenos.
Aliás, não é incomum que crianças com deficiência auditiva acabem inventando, do zero, a própria linguagem de sinais, em versão rudimentar. Bem, os indícios que temos a respeito da crença em seres sobrenaturais nos sugerem que ela costuma funcionar de maneira semelhante à linguagem falada – não dependendo, portanto, de anos e anos de aulas de catecismo para existir, ao contrário do que muita gente imagina.
Considere, para começar, o fato de que o HADD dos bebês já está ligado antes que eles completem um aninho de vida. Sim, há jeitos de avaliar, ao menos indiretamente, o que se passa na cabeça de criancinhas que ainda não falam e nem engatinham – é possível acompanhar quanto tempo uma criança olha fixamente para um objeto ou para uma cena, por exemplo, ou a força que ela está usando para sugar uma chupeta, entre outras coisas, o que dá aos psicólogos do desenvolvimento uma pista sobre o grau de interesse ou surpresa dos pequenos.
(Para bebês, em geral, vale a lógica que usaríamos para um adulto: a gente tende a ficar de olho em coisas interessantes e surpreendentes, e a olhar para o outro lado quando temos diante de nós coisas chatas ou já esperadas.) Tais pistas indicam que, por volta dos seis meses de idade, as crianças já sabem que objetos inanimados não saem por aí se mexendo sozinhos.

Ao mesmo tempo, bebês de até um aninho de vida são capazes de atribuir intencionalidade – uma forma rudimentar de teoria da mente, portanto – a objetos que não necessariamente se parecem com pessoas ou animais, como brinquedinhos feitos para acender luzinhas ou fazer barulho quando as crianças interagem com eles de alguma forma. Essa é a fase do desenvolvimento na qual os bebês aprendem a seguir o olhar de outras pessoas com seu próprio olhar – ou seja, a olhar para o mesmo lugar que outras pessoas parecem estar observando.
Se esses brinquedinhos de laboratório dão a impressão de estar direcionando sua “atenção” (falsa, é claro) para determinado lado, virando-se automaticamente, por exemplo, a tendência dos bebês é acompanhar esse movimento, mesmo que os objetos bolados pelos pesquisadores não tenham propriamente uma carinha, ou mesmo olhos, em seu design. Tal tendência a enxergar “agência” e vida mental em quase qualquer tipo de objeto, desde que ele se comporte de um jeito que pareça sugestivo, claramente persiste ao longo da vida adulta.
Acontece que esse tipo de reação não está restrito apenas a objetos físicos “pontuais” – ou mesmo a objetos físicos de modo geral. A combinação de HADD com teoria da mente muitas vezes é aplicada a fenômenos naturais, a experiências e a situações. Não falo apenas da velha ideia de que furacões, terremotos e epidemias são “castigo de Deus”. Até ateus empedernidos, diante de alguma situação que mudou profundamente sua vida, às vezes acabam parando e pensando: “O que será que isso significa?”.
A detecção quase compulsiva de agentes invisíveis se soma à tendência de enxergar propósito e intenção no mundo ao nosso redor – existente até entre ateus adultos, como vimos. Crianças também fazem isso o tempo todo, e com tamanho empenho que os psicólogos resolveram até inventar um termo técnico só para designar o fenômeno: teleologia promíscua.
A primeira palavra, de origem grega, poderia ser aportuguesada para “finalidade”, enquanto “promíscuo” aqui não tem nada a ver com sexo, mas sim serve para ressaltar o fato de que a criançada enxerga finalidade em quase todas as situações – ou seja, tende a achar que as coisas que existem no mundo foram criadas (o uso da palavra é intencional, claro) para alguma coisa.
Essa tendência foi constatada em diversos experimentos envolvendo crianças com idades entre os 4 e os 8 anos de idade. Neles, os psicólogos perguntavam por que certas coisas existiam – num espectro que vai de eventos naturais, como tempestades, passando por objetos naturais, como montanhas ou rios, e chegando a seres vivos, especialmente animais.
Em geral, as crianças se saíam com explicações teleológicas – ligadas a propósito e finalidade. Exemplo típico: em vez de dizer que certas rochas são pontudas porque elas se formaram de um jeito que levou a esse formato, as crianças tendiam a criar hipóteses como “elas são pontudas para evitar que os animais se sentem nelas e as esmaguem”.
As pesquisas foram além disso, porém. Quando as crianças tinham a oportunidade de responder se esses vários elementos do mundo ao nosso redor tinham sido criados de propósito por alguma coisa ou alguém, ou simplesmente surgiram por processos naturais, a ideia da criação deliberada era a preferida por pelo menos metade dos meninos e das meninas no caso de objetos como rios e montanhas, e por dois terços das crianças quando a pergunta se referia a animais.
Para completar esse quadro, quando as crianças eram instadas a responder quem tinha criado as coisas que existem no mundo, a tendência era escolher alguma variante do cenário “Deus as criou”. Mas será que elas só dizem isso porque foram ensinadas a crer em Deus? Alguns dos estudos, para testar isso, recrutaram crianças de dois grandes grupos: fundamentalistas e não fundamentalistas.

No contexto americano, o primeiro grupo corresponde a meninos e meninas criados por pais que defendem a verdade literal dos textos bíblicos (uma criação do mundo em apenas sete dias, conforme narra o livro do Gênesis, por exemplo). Já o segundo inclui tanto as crianças de famílias que aceitam uma interpretação teológica mais livre dos textos sagrados quanto as criadas por pais não religiosos. O mais interessante, porém, é que nesses casos os pesquisadores aplicaram as mesmas perguntas aos pais da meninada, o que ajuda, em tese, a ter uma ideia do que tinha sido ensinado a elas.
O resultado foi curiosíssimo: nos casos em que os pais escolhiam respostas “cientificamente corretas” (por exemplo, tal e tal animal surgiu por meio de um lento processo de seleção natural, em vez de ter sido criado diretamente por Deus), os filhos deles acabavam escolhendo com mais frequência a criação divina como explicação. Isso pode ser um indício de que, para as crianças, a explicação “criacionista” é mesmo a mais intuitiva, a que mais apela para os nossos instintos mentais arraigados, independentemente do tipo de educação.
Há pesquisadores que acham que esse tipo de descoberta é a evidência definitiva contra a existência de Deus. Afinal de contas, argumentam eles, se o nosso cérebro pode produzir uma miríade de seres do outro mundo como simples subproduto da maneira como funciona, não há motivos para imaginar que a mente humana tenha imaginado uma deidade que, por um acaso monumental, calhou de ser verdadeira.
É um argumento que não dá para descartar de um jeito casual e que precisa ser levado a sério caso você não queira simplesmente recorrer à fé cega. No fim das contas, é preciso ter a humildade de reconhecer que o instinto religioso, assim como qualquer outro instinto, às vezes pode se enganar feio. Se isso nos rouba algumas certezas, talvez valha, ao menos, como um antídoto contra o fanatismo.



