Dedo na ferida
Aos poucos, a tortura deixa os porões das prisões e ganha status de arma eficiente no combate à violência. Conseguiremos conviver com isso?
Ana Paula Chinelli e Robson Viturino
Em 1995, o radical islâmico Abdul Hakin Murad foi preso nas Filipinas acusado de tramar ações tão espetaculares que se levados a cabo fariam de Osama Bin Laden um mero coadjuvante na história do terrorismo. Na lista de objetivos de Murad, além de bombardear o QG da CIA, nos Estados Unidos, constavam o assassinato do papa João Paulo II e a explosão de não apenas quatro, mas de 11 aviões com passageiros. Com sua confissão, obtida após um mês de sessões de tortura, centenas de vidas foram salvas.
Ainda que a veracidade dos planos de Murad jamais tenha sido comprovada, não há dúvida de que sua história, se utilizada como fábula macabra, acaba fornecendo fortes argumentos em favor de algumas das mais hediondas práticas humanas: a tortura. Afinal, Murad teria confessado seus planos mirabolantes se não tivesse sido submetido a maus-tratos? Provavelmente não. Então por que correr o risco?
Até antes dos atentados ao World Trade Center, em 2001, a prática da tortura parecia confinada aos porões das prisões numa relação restrita a torturadores e torturados, apesar de todo o barulho feito por grupos de defesa dos direitos humanos. Quando as torres gêmeas caíram, no entanto, as coisas tomaram outro rumo, e aquilo que era horrendo e injustificável – porém secreto – , ganhou status de doutrina de segurança, abertamente defendida em nome de sua suposta eficiência como arma de guerra contra o terrorismo.
Para garantir a segurança nacional, os Estados Unidos decidiram não mais correr riscos, passando a tolerar e até mesmo a justificar oficialmente os abusos, agora renomeados “táticas de pressão”. Principal defensor dessa nova política, o secretário da Defesa americano, Donald Rumsfeld, assinou em novembro de 2002 um memorando endossando o emprego de 14 técnicas de interrogatório nos suspeitos de terrorismo detidos na base que os Estados Unidos mantêm em Guantánamo, Cuba. Na lista de suplícios, “posições estressantes, contato físico mediano, interrogatórios de 20 horas, privação de itens de conforto – inclusive artigos religiosos –, utilização de fobias e despir o prisioneiro” (veja quadros).
A reação de grupos de defesa de direitos humanos e parlamentares colaborou para que o documento fosse revogado, o que não quer dizer que Rumsfeld tenha mudado de opinião, como pôde ser confirmado após o vazamento das imagens da prisão iraquiana de Abu Ghraib, mostrando presos submetidos por soldados americanos a situações de maus-tratos, humilhações e constrangimento. “Minha impressão é que o mostrado até agora é abuso, tecnicamente diferente de tortura”, disse o secretário na ocasião.
Em seu recente livro Cadeia de Comando – A Guerra de Bush do 11 de Setembro às Torturas de Abu Ghraib, o jornalista Seymour M. Hersh mostra que o governo americano vem se empenhando em redefinir o significado da palavra tortura para ir além dos limites toleráveis na obtenção de informações consideradas vitais na guerra contra o terror. Hersh, repórter investigativo que há anos acompanha os bastidores da política americana, teve acesso a um documento do Departamento de Justiça em que esse objetivo fica claro. “Certos atos podem ser cruéis, desumanos ou degradantes, mas ainda não produzem dor e sofrimento na intensidade requerida para cair nas interdições (legais) da tortura. Concluímos que para o ato ser chamado de tortura (…) deve infligir dor difícil de ser suportada”, diz o texto assinado em agosto de 2002 por Jay S. Bybee.
Esse mesmo documento chega a determinar a partir de que ponto um castigo pode ser considerado tortura: “A dor física que chegue à tortura deve ser equivalente em intensidade à dor que acompanha um ferimento físico grave, como uma falência de órgão, prejuízo de funções corporais ou mesmo morte”. Na avaliação de Hersh, esse material é o que há de mais eloqüente sobre as práticas de tortura nas prisões militares mantidas pelos Estados Unidos.
Os americanos não estão sozinhos. Quinze anos antes, Israel já havia legalizado a “pressão psicológica e a pressão física moderada” durante interrogatórios de suspeitos de terrorismo (leia texto ao lado).
História de martírios
Eufemismos à parte, a Anistia Internacional, um dos mais influentes grupos de defesa de direitos humanos do mundo, confirma casos de tortura em 130 países. O que faz que tantos países entrem na lista é a abrangência do significado do termo tortura para as entidades de defesa dos direitos humanos. “A tortura não é só a violência utilizada para obter uma informação. A definição de tortura abrange a violência com o intuito de humilhar, controlar ou discriminar”, afirma Tim Cahill, pesquisador da Anistia Internacional para o Brasil.
Essa nova definição de maus-tratos, colocando de um lado a força moderada e, do outro, a tortura, é descartada pela Anistia Internacional. “Não dá para fazer essa distinção. Se você permitir determinados tipos de tratamento, quando a ação estiver nas mãos de pessoas mal preparadas será fácil ultrapassar a linha que definiria tortura”, diz o pesquisador.
Apesar dos argumentos contrários, um breve passeio pela história mostra que é quase impossível resistir ao anseio de recorrer à brutalidade. De onde vem essa tentação? Do seu aspecto mais sombrio: sua suposta eficiência.
No livro A Ditadura Escancarada, o jornalista Elio Gaspari faz uma reflexão sobre a eficiência do martírio: “O que torna a tortura atraente é o fato de que ela funciona. O preso não quer falar, apanha e fala. É sobre essa simples constatação que se edifica a justificativa da tortura pela funcionalidade. O que há de terrível nela é sua verdade”. Guanaira Amaral, antropóloga, psiquiatra e membro da Acat-Brasil (Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura), endossa a opinião de Gaspari. “Por isso historicamente ela vem sendo usada pelos grupos que tiveram poder.”
Desde o início das civilizações, são fartos os registros de sessões de agonia, sobretudo quando aplicadas em escravos e povos dominados com o objetivo de forçá-los ao trabalho, puni-los por alguma ofensa, oferecê-los em sacrifícios, fazer experiências científicas ou o simples deleite de crueldade.
Em alguns casos, no entanto, os governantes perceberam que precisavam maneirar, caso contrário corriam o risco de perder seus escravos. Além das mortes por excesso de crueldade, as fugas eram constantes. Quando não era proscrita, a prática da tortura geralmente resistia até a decadência do império ou até um povo ser dominado por outro. Era quando torturadores passavam a torturados.
Ou vice-versa. Os cristãos no Império Romano, por exemplo, foram perseguidos e massacrados em praça pública. Mais tarde, na Idade Média, a Igreja Católica protagonizaria o que futuramente se tornaria sinônimo de tortura e crueldade: a Santa Inquisição.
Em seu auge, a Inquisição transformou a tortura em “instrumento de salvação de almas”. A rainha Isabel, da Espanha, por exemplo, recebeu permissão do papa para “purificar seus súditos”. Entre 1481 e 1517, estima-se que 13 mil pessoas tenham sido queimadas vivas e outras 17 mil condenadas a diversos tipos de punição pelo Santo Ofício
No livro Vigiar e Punir – História da Violência nas Prisões, o filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) recupera um caso ocorrido no século 16, quando a punição de um assassino foi tão brutal que chegou a comover os espectadores. Foram 18 dias de martírios, envolvendo mergulhos em água fervente e mutilações. Indignado, o povo clamou ao juiz que decretasse finalmente a morte do acusado por estrangulamento. Esse tipo de mobilização começou a preocupar os governantes, já que a punição violenta transformava carrascos em criminosos, juízes em assassinos, o rei em tirano, enquanto o condenado ganhava a piedade do povo.
Houve então uma mudança no procedimento da Justiça: as sentenças deveriam ser públicas para dar certeza de que os crimes seriam punidos, mas as execuções não precisavam mais do espetáculo. Para acomodar a nova realidade, a partir do século 18 foram criadas as penitenciárias e os centros de correção. Na prática, varria-se para baixo do tapete técnicas de barbárie que continuariam a ser praticadas pelos séculos seguintes.
Tanto que só em 1948, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, esse tipo de violência foi oficialmente condenado. “Ninguém será submetido a tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”, diz o artigo 5º da declaração.
Em 2004, o relatório geral da Anistia Internacional revelou quatro situações em que as denúncias de tortura são especialmente preocupantes. São nações sob governos ditatoriais, países onde a democracia sucedeu a ditadura, mas não houve reforma dos sistemas de investigação e da Justiça criminal (nesse grupo está o Brasil), lugares onde a tortura aparece em casos isolados de abuso de poder e os eventos ocorridos na prisão iraquiana. Segundo Irene Khan, secretária geral da Anistia, a situação é a pior dos últimos 50 anos.
Licença para torturar
O advogado criminalista e professor da Universidade de Harvard Alan Dershowitz não tem dúvidas de que o uso limitado de tortura não-letal em casos extremos como o do acusado de terrorismo Murad não é apenas justificável, mas necessário. Dershowitz, que tem no currículo a defesa do ex-presidente Bill Clinton no processo de impeachment e a absolvição de O.J. Simpson, não arrisca dizer quais seriam os martírios admissíveis, mas defende a urgente revisão das leis vigentes sobre o tema.
“Eu falo de tortura não-letal, como agulha esterilizada sob as unhas, à qual o acordo de Genebra se opõe. O fato é que países de todo o mundo violam secretamente esse acordo. A tortura está enraizada em regimes autoritários e democráticos. Sua não-regulamentação é uma hipocrisia que pode nos levar a uma situação ainda pior”, disse o criminalista em entrevista à rede de TV americana CNN.
Outro argumento de Dershowitz se refere à flexibilização dos códigos de guerra, para que se possa criar legalmente técnicas equivalentes às empregadas pelos terroristas. Ele diz que esse é o único meio de lutar de igual para igual contra inimigos que se superam em brutalidade, a ponto de explodirem seus corpos. “Técnicas equivalentes” são mais um eufemismo para tortura.
A guerra representa o caso extremo, mas como tratar o assunto em países como o Brasil, que há séculos convive com abusos, mas encara a possibilidade de um ataque terrorista da mesma forma que espera um terremoto?
Na opinião da vice-presidente da ONG Tortura Nunca Mais, Cecília Coimbra, o fortalecimento de uma doutrina de segurança nacional importada dos Estados Unidos faz com que países como o Brasil resistam cada dia menos à tortura. Em São Paulo, por exemplo, pesquisa do Datafolha mostrou que a aprovação dos paulistanos à tortura cresceu quatro pontos percentuais desde 1994, chegando a 24% em 2001.
Para entidades de defesa de direitos humanos, a simples retomada dessa discussão é um retrocesso. “Se for mantida a justificativa de que a tortura é aceitável por questões de segurança, vai se abrir uma caixa de Pandora que será difícil de fechar”, afirma Tim Cahill, da Anistia Internacional.
Contra os defensores dos maus-tratos, o argumento óbvio e imediato são as leis e convenções internacionais que tratam da tortura condenando-a, como a Convenção contra Tortura e Outros Tratamentos e Punições Cruéis, Inumanas e Degradantes, de 1984, as quatro convenções de Genebra de 1949 (sobre a proteção a civis, tratamento a prisioneiros de guerra, feridos em campos de batalha e em naufrágios) e os vários tratados recentes.
Para além da abordagem jurídica, as entidades garantem que sobram razões para descartar a tortura como forma de garantir o bem-estar coletivo. O maior problema, alegam, é o da permissividade que fugiria ao controle do Estado. Além disso, esbravejam que a tortura não diminui a violência e que jamais o torturador estará seguro de ter capturado o homem certo e obtido as informações exatas – de volta ao caso Murad, não há provas de que seus planos teriam condições de serem concretizados. E mais: defendem que há outras formas de obter informação.
Agora, se depois de tanto tempo a força desses argumentos continua incapaz de deter a disseminação da tortura, pode-se presumir que a tal “caixa de Pandora” já foi aberta. A questão é sabermos se teremos ou não coragem de olhar o que tem dentro dela.
UTILIZAÇÃO DE FOBIAS
Justificativa – explora os medos e deixa a pessoa mais vulnerável, com boa possibilidade de falar para se livrar da ameaça
Crítica – não garante, porém, que a informação obtida seja verdadeira
CONTATO FÍSICO MEDIANO
Justificativa – ao partir para o contato físico, o interrogador sugere que o interrogado corre risco de morte
Crítica – é uma técnica arriscada porque é difícil garantir limites para “agressão mediana”
PRIVAÇÃO DE NO
Justificativa – provoca confusão mental que poderia levar o preso a revelar informações sigilosas. Por 20 horas, os interrogadores têm autorização para não deixar que o preso durma
Crítica – a falta de sono pode provocar delírios
POSIÇÃO ESTRESSANTE
Justificativa – quebra a resistência física da pessoa e a torna psicologicamente mais vulnerável
Crítica – sua eficiência é questionada porque o torturado é capaz de mentir para se livrar da dor
DESPIR O PRISIONEIRO
Justificativa – deixa a pessoa sem defesa psíquica, sentindo-se mais suscetível a pressões
Crítica – além de ser uma afronta à dignidade humana, não garante que o preso confesse
O caso de Israel
Governo legalizou uso de tortura em situações que envolvam risco de morte de inocentes
A tortura em Israel foi legalizada em novembro de 1987, com a aprovação pelo governo do relatório da Comissão de Landau. No relatório, foi constatado que os oficiais do Serviço de Segurança Geral (SSG) achavam inevitável usar pressão física nos interrogatórios de terroristas, mas precisavam mentir ao tribunal quando perguntados sobre a prática de tortura. A comissão propôs uma solução simples: que fossem autorizadas a “pressão psicológica e a pressão física moderada” nos interrogatórios de “detentos de segurança”.
“A tortura propriamente (…) talvez fosse justificada para descobrir uma bomba que estivesse prestes a explodir em um edifício cheio de gente”, sugere também o relatório.
Entre os métodos de “pressão moderada” estão deter o preso em cárcere incomunicável, privá-lo de sono, sacudi-lo de forma violenta, mantê-lo em posturas doloridas, espancá-lo, submetê-lo continuamente a música alta e a extremos de frio e de calor.
Até 1999, os suspeitos de envolvimento com atividades terroristas presos pelo SSG eram submetidos a avaliações médicas e interrogados com o uso de métodos de pressão moderada sem necessidade de autorização por parte do Ministério da Justiça. Depois dessa data, a Suprema Corte proibiu seu uso de forma genérica, mas abriu exceção para os casos em que houvesse risco de morte de outras pessoas. Nessas situações, o SSG precisa comprovar a existência da ameaça para justificar o uso da tortura.
Para entidades de defesa de direitos humanos, no entanto, a proibição não vem sendo respeitada e sessões de maus-tratos voltaram a ser utilizadas após a Intifada (levante palestino nos territórios ocupados).
A ONU também concluiu que o que se fazia em Israel não era pressão, mas tortura, e exigiu que o país fosse fiel aos tratados de direitos humanos que assinou. Foi ignorada.
Para saber mais
Na livraria:
Cadeia de Comando – A Guerra de Bush do 11 de Setembro às Torturas de Abu Ghraib – Seymour M. Hersh, Ediouro, 2004
A Ditadura Escancarada – Elio Gaspari, Companhia das Letras, 2002
Vigiar e Punir – História da Violência nas Prisões – Michel Foucault, Vozes, 2001

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Conheça a insana “Corrida do Queijo”, que termina com hospitalizados todos os anos
Conheça a insana “Corrida do Queijo”, que termina com hospitalizados todos os anos Quantidade moderada de exercício – e não excessiva – retarda envelhecimento do cérebro
Quantidade moderada de exercício – e não excessiva – retarda envelhecimento do cérebro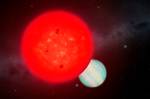 Astrônomos encontraram planeta gigante que, teoricamente, não deveria existir
Astrônomos encontraram planeta gigante que, teoricamente, não deveria existir As palavras mais bonitas do português, segundo o criador do dicionário Aurélio
As palavras mais bonitas do português, segundo o criador do dicionário Aurélio Conheça Jawlene, a jacaré-fêmea sem maxilar superior resgatada na Flórida
Conheça Jawlene, a jacaré-fêmea sem maxilar superior resgatada na Flórida






