Os crimes da indústria farmacêutica
No livro Ciência Proibida, novo lançamento da SUPER, o jornalista Salvador Nogueira mostra as experiências mais perigosas, assustadoras e cruéis já realizadas. Confira na íntegra o capítulo 4, sobre o lado sombrio da indústria dos remédios.
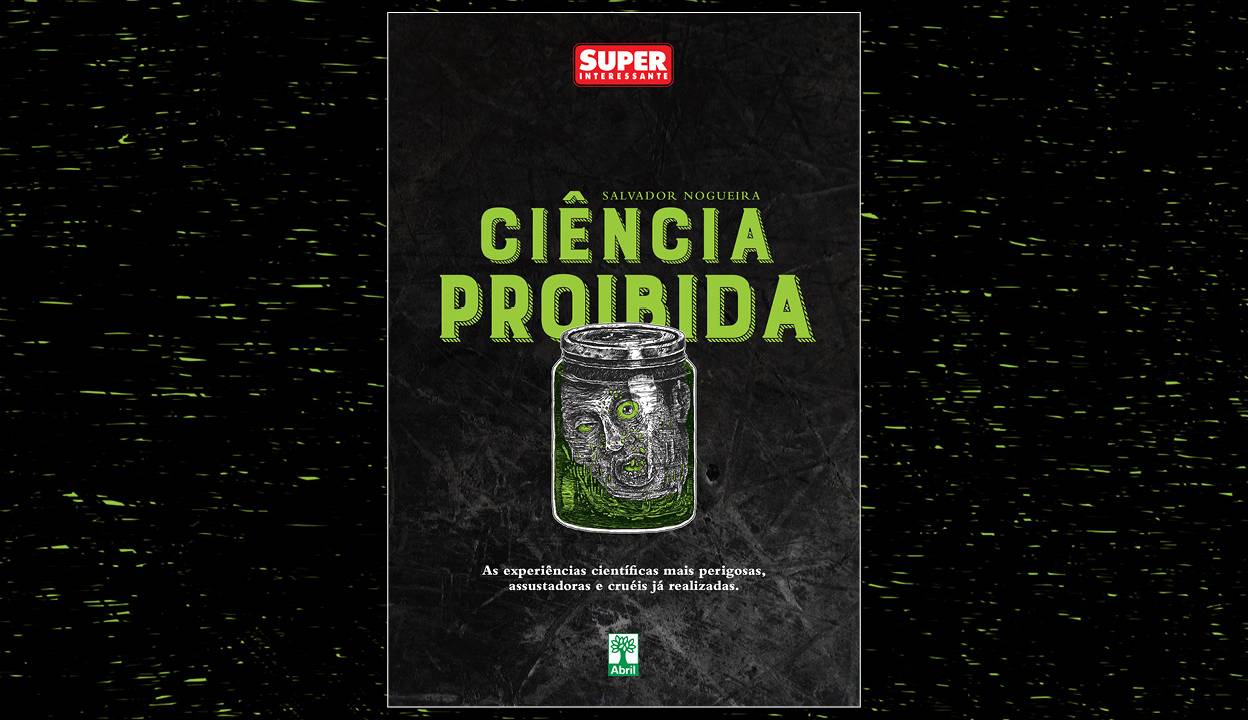
Remédio e veneno
Os laboratórios produziram incontáveis casos de sucesso em tratamentos médicos. Mas também mataram. E muito.
O século 20 testemunhou alguns dos experimentos médico-científicos mais brutais e antiéticos já realizados em toda a história, a maior parte deles voltada para o aperfeiçoamento das técnicas de guerra. Mas é impossível separar completamente essas pesquisas macabras das que foram conduzidas no âmbito do aprimoramento da saúde. E existem duas razões para isso.
A primeira é que os métodos empregados pela indústria farmacêutica, durante o mesmo período, não foram realmente diferentes. Em Auschwitz, durante a Segunda Guerra, a farmacêutica alemã Bayer, então parte da empresa IG Farben, usou prisioneiros não só como escravos para trabalhos forçados em suas fábricas, mas também como cobaias para o teste de medicamentos (muitas vezes, com resultados fatais). E nos Estados Unidos, os testes de medicamentos em prisões foram mantidos durante décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Até 1974, estima-se que cerca de três quartos de todas as drogas aprovadas para uso em solo americano tenham passado por testes clínicos com prisioneiros. Não era como na Alemanha nazista, claro – os presos usados nos estudos eram voluntários e em geral remunerados. Mas, ainda assim, havia uma controvérsia ética: prisioneiros podem de fato tomar uma decisão consciente e independente, sem serem coagidos? Ou muitos aceitaram participar, a despeito dos riscos, por medo de represálias? Hoje nenhum país ocidental conduz testes em prisões. Mas até os anos 1970 isso foi comum nos Estados Unidos.
E o segundo motivo é que muitas vezes os estudos civis e militares caminhavam de mãos dadas. Você consegue imaginar algo mais cruel e absurdo do que o teste de armas químicas, como gás mostarda, em voluntários humanos? Pois é, mas foi graças a isso que nasceu o que ainda hoje é uma das principais armas contra o câncer: a quimioterapia.
O teste clínico pioneiro foi feito por dois farmacologistas da Escola de Medicina de Yale, nos Estados Unidos: Louis Goodman e Alfred Gilman. A pesquisa foi financiada pelo Departamento de Defesa americano, que desejava investigar potenciais aplicações terapêuticas de armas químicas – talvez para justificar seu contínuo desenvolvimento. A substância a ser estudada? Gás mostarda. Goodman e Gilman notaram que ele era muito volátil para ser usado em -experimentos e produziram uma versão alternativa, trocando enxofre por nitrogênio, produzindo uma versão nitrogenada.
Após testes em coelhos e camundongos mostrarem que a substância era capaz de reduzir – mas não curar inteiramente – tumores, prolongando a vida dos animais, eles decidiram testar em um humano, até hoje conhecido apenas pelas iniciais: JD. Vitimado por linfossarcoma e desenganado pelos tratamentos com radioterapia feitos ao longo do ano anterior, ele recebeu, em 27 de agosto de 1942, a primeira de dez doses diárias do gás mostarda nitrogenado, então identificado apenas como substância X. A exemplo do que aconteceu com os animais, os tumores não sumiram, mas diminuíram, melhorando sua qualidade de vida momentaneamente. JD morreu em 1º de dezembro daquele ano, depois de um inestimável préstimo à medicina moderna. Ainda hoje mostardas nitrogenadas estão entre os agentes quimioterápicos mais usados.
Isso mostra como muitos dos nossos sucessos médicos estão escorados em bases morais e éticas pouco sólidas. Não fosse a pesquisa militar com gás mostarda, teríamos sido privados de um dos mais importantes tratamentos contra uma das doenças mais devastadoras conhecidas pela humanidade. O que, obviamente, não pode servir como justificativa. Os fins não podem jamais justificar os meios. Apesar de todo mundo concordar com isso, a adoção de mecanismos para inibir violações em pesquisa e desenvolvimento de novas drogas – trabalho que forma a base da indústria farmacêutica – evoluiu lentamente. Um dos casos que impulsionou a necessidade de um controle maior foi o famoso episódio da talidomida.
Essa substância foi originalmente desenvolvida na Alemanha Ocidental e entrou no mercado local em 1957, prescrita como sedativo, e se tornou um enorme desastre na Europa. Comercializada em massa para gestantes – que costumam ter dificuldade para dormir -, ela produzia teratogênese (problemas diversos de desenvolvimento, que podem incluir malformações, restrição de crescimento ou retardo mental) em fetos. Mas de 10 mil crianças em 46 países foram afetadas e apenas cerca de metade delas sobreviveram.
Apesar desses relatos assustadores, a empresa farmacêutica americana Richardson-Merrell ainda estava tentando liberar a droga nos Estados Unidos no início dos anos 1960 – e para uso como tratamento de náusea durante a gravidez. Buscando o apoio de médicos, ela realizou um teste clínico não controlado, distribuindo 2,5 milhões de tabletes de talidomida para mais de 1.200 profissionais de saúde no país, com a indicação de que “não precisavam reportar resultados se não quisessem”. A iniciativa foi conduzida sob o controle do departamento de marketing da companhia.
Em 1961, um dos médicos que participou desse teste não controlado, Roy Nulsen, publicou um artigo no American Journal of Obstetrics and Gynecology afirmando que a talidomida era segura, efetiva e adequada como droga antináusea para mulheres nos estágios finais da gravidez. O texto na verdade havia sido produzido pelo diretor médico da Richardson-Merrell, Raymond Pogge, com a ajuda de sua secretária. Nulsen só concordou em assiná-lo, e depois confessou que nunca sequer manteve qualquer controle sobre a quem distribuiu as pílulas.
Apesar de todos os esforços da empresa, a talidomida não foi liberada nos Estados Unidos. E foi esse o episódio que iniciou um movimento de crescente rigidez no controle de medicamentos naquele país. A partir de 1962, todas as drogas precisariam de aprovação expressa da FDA (Food and Drug Administration, agência que regula fármacos e alimentos), e o órgão por sua vez exigiria das companhias provas tanto de sua segurança como de sua eficácia. Foi basicamente o momento em que a indústria farmacêutica precisa realmente começar a levar a sério seus testes clínicos.
Todo estudo clínico de uma nova droga precisa passar por quatro ou cinco fases, numeradas de 0 a 4. E antes que se chegue lá, estudos pré-clínicos, feitos em culturas de laboratório e em animais (in vitro e in vivo, respectivamente), precisam ter demonstrado que a substância pode realmente produzir alguns dos efeitos ambicionados. Só aí começa o estudo com humanos.
A fase 0 envolve no máximo 10 voluntários, para verificar – a partir de pequenas dosagens – as reações que a substância produz no organismo. Serve basicamente para ver o que a droga faz e como e quando ela sai do corpo. Essa etapa não costuma ser feita hoje em dia. Os estudos geralmente começam na fase 1, a primeira realmente obrigatória a envolver humanos. Ela envolve entre 20 e 100 voluntários, e seu objetivo é unicamente testar a segurança do medicamento: verificar que ele pode ser tomado por indivíduos saudáveis em doses variáveis sem que isso cause efeitos intoleráveis ao organismo.
Na fase 2, o número de voluntários cresce e fica entre 100 e 300. Agora o objetivo é verificar se, além de segura, a droga é eficaz (funciona diretamente para combater a doença) ou eficiente (altera de algum modo o padrão clínico do paciente), dependendo do objetivo preestabelecido. Então chegamos à fase crucial, a de número 3. Em escala maior, ela envolve geralmente entre 1 e 2 mil pacientes e é a primeira etapa que combina a ação de pesquisadores com médicos – será, com efeito, a primeira tentativa, ainda experimental, de tratar pacientes com o novo medicamento. Muitas vezes os resultados da nova droga são comparados aos obtidos por outros medicamentos já existentes no mercado. É a hora da verdade para o novo remédio.
Por fim, a fase 4 é o acompanhamento que se faz após a entrada da droga no mercado. O laboratório farmacêutico recebe autorização para comercializar o novo remédio, e aí todos os pacientes que fizerem uso dele se tornam, potencialmente, cobaias para que se possa avaliar os efeitos de longo prazo de seu uso, em tese indetectáveis nas fases anteriores.
Para esses testes clínicos, usa-se em geral o procedimento duplo-cego, em que os voluntários são divididos entre dois grupos, e enquanto um toma um placebo (uma substância inócua, só para causar a impressão psicológica de estar sendo tratado) ou um medicamento já aprovado, o outro testa a nova droga. Nem os pesquisadores, nem os pacientes sabem quem está tomando o que, e por isso o estudo é chamado de “duplo-cego” – a ideia é evitar que qualquer viés recaia sobre os resultados. Parece ótimo, não?
Pois é, mas o diabo está nos detalhes. Em como são realizados esses estudos. Nos Estados Unidos, como vimos, até a década de 1970, eles costumavam ser feitos em prisioneiros – sobretudo os teste de fase 1, que pedem indivíduos saudáveis. Depois, foram transferidos a hospitais universitários e clínicas com vínculos acadêmicos, controladas por pesquisadores. Mas a partir dos anos 1990, a pressão para que os estudos avançassem mais depressa e a crescente complexidade dos experimentos envolvidos fez com que uma indústria paralela de testes, controlada pelas empresas farmacêuticas, emergisse. Nos Estados Unidos, em 1991, 80% dos estudos de novas drogas eram conduzidos por centros de saúde acadêmicos. Isso mudou completamente. Em 2004, 70% dos testes estavam a cargo de empresas terceirizadas.
Um problema é que os pesquisadores que realizam esses estudos em companhias privadas não têm nenhum tipo de ambição acadêmica – eles não irão se destacar pelos resultados obtidos e nem mesmo pelo protocolo de testes, que foi desenvolvido pela indústria e será meramente executado por eles. Não há, em essência, uma reputação científica pessoal a ser protegida. A única motivação desses funcionários – e das companhias que os contratam – é fazer seu cliente feliz. E as gigantes farmacêuticas ficam felizes quando seus medicamentos vão bem.
Outro problema é que esse esquema criou um ambiente para o aparecimento das cobaias profissionais – pessoas que decidem viver de participar em testes clínicos de fase 1. “Como esses estudos requerem uma quantidade significativa de tempo numa unidade de pesquisa, os voluntários usuais são pessoas que precisam de dinheiro e têm muito tempo livre: os desempregados, os estudantes universitários, trabalhadores temporários, ex-presidiários ou jovens que decidiram que testar drogas é melhor do que bater cartão com os escravos assalariados”, relata o médico e filósofo americano Carl Elliott, bioeticista da Universidade do Minnesota e crítico ferrenho dos meandros da indústria farmacêutica. “Em algumas cidades, como Filadélfia e Austin, a economia dos testes clínicos produziu uma comunidade de voluntários semiprofissionais, que participam de estudos um após o outro.”
Um aspecto particularmente perverso desse sistema de “profissionalização” de cobaias é que ele permite a exploração de grupos marginalizados. Quer um exemplo?
Em 1996, a farmacêutica Eli Lilly se viu em maus lençóis, quando o Wall Street Journal revelou que, havia pelo menos duas décadas, a empresa estava pagando a alcoólatras moradores de rua para que eles fossem cobaias em sua clínica de fase 1 em Indianápolis. (A Lilly é uma das poucas que realiza diretamente seus estudos, desde 1926, sem fazer uso de empresas terceirizadas ou laboratórios acadêmicos.)
Questionados pelo jornal, executivos da companhia tiveram a coragem de dizer que os voluntários eram motivados pelo altruísmo para participar dos testes clínicos. “Esses indivíduos querem ajudar a sociedade”, disse Dwight McKinney, médico e diretor executivo de farmacologia clínica. Já alguns dos voluntários participantes contavam outra história. “A única razão pela qual eu vim aqui é para fazer um estudo para que eu possa comprar um carro e um novo par de sapatos”, disse um ex-viciado em crack de 23 anos que ficou sabendo da clínica nas ruas. “Eu compro uma caixa de [cerveja] Miller e uma acompanhante e faço sexo”, outro voluntário relatou. “A garota vai me custar
US$ 200 por hora.”
E, como você pode imaginar, esses voluntários recebiam menos pelos testes do que a média do mercado. Após o escândalo, a Eli Lilly parou de recrutar gente que não tenha comprovante de residência. Mas não aposte que a solução usual será a de melhorar as condições dos testes. Oprimida pelo governo de um país, a indústria procurará refúgio em outros. Com efeito, um levantamento mostra que, em 2005, 40% de todos os testes clínicos financiados pela indústria farmacêutica estavam acontecendo em países emergentes. Entre 1995 e 2006, os maiores aumentos anuais no número de pesquisadores realizando testes clínicos aconteceram na Rússia, na Índia, na Argentina, na Polônia, na China e no Brasil. E não pense você que os padrões éticos melhoraram muito. Um caso particularmente chocante aconteceu em 1996, na África.
A farmacêutica Pfizer estava desenvolvendo um novo antibiótico, chamado Trovan (trovafloxacin), que já havia se mostrado promissor contra uma gama ampla de infecções e que podia ser ministrado por via oral, em vez de injeção. Quando uma epidemia de meningite apareceu na Nigéria, uma equipe da companhia viu a oportunidade ideal para a realização de um teste de campo. Duzentas crianças doentes foram recrutadas, e metade recebeu Trovan, enquanto a outra metade -recebeu ceftriaxone, uma droga já estabelecida no tratamento de meningite. Ao final do teste, muitas crianças ficaram com sequelas deixadas pela doença, e 11 delas morreram – cinco que haviam tomado Trovan e seis que tomaram ceftriaxone. Ponto para o novo medicamento, certo?
Não exatamente. Primeiro que houve uma violação ética – nem os pais, nem as crianças foram informadas de que um experimento estava em andamento. Todos imaginavam que se tratasse apenas de ajuda humanitária. Segundo que, em nome do estudo, crianças cuja saúde estava se deteriorando a olhos vistos não tiveram a medicação trocada. E o pior: as crianças do grupo controle, que receberam ceftriaxone, tomaram a droga em doses menores do que as adequadas – presumivelmente para garantir o melhor resultado do Trovan. O caso terminou na Justiça e, num acordo para encerrar o processo, a Pfizer pagou US$ 75 milhões. Mas que ciência é essa?
Trata-se de um caso claro de fraude (além de desumanidade), em que o experimento é manipulado para produzir o resultado desejado – e vidas são perdidas por isso.
Mas, ainda que não fosse, ele teria grande chance de produzir resultados não confiáveis. E esse é outro grande segredo da indústria farmacêutica – ela explora o fato de que testes clínicos podem essencialmente provar qualquer coisa que se queira.
Basta seguir por algum tempo o noticiário de saúde para perceber que conflitos de resultados vindos de pesquisas diferentes são muito comuns. Num dia, comer ovo ajuda o coração; no dia seguinte, aumenta o risco de infarto. Aspirina um dia ajuda a mitigar o avanço do mal de Alzheimer; no outro, não tem efeito detectável no progresso da doença. E por aí vai. Como pode ser assim? Talvez os estudos tenham usado poucos voluntários, diminuindo sua confiabilidade, ou talvez o protocolo de investigação não tenha sido o mais adequado. Ou talvez ninguém tenha culpa pela contradição. Pois, ao que parece, é assim que a ciência funciona – ou não funciona, às vezes.
Quem pegou esse esqueleto e tirou do armário foi John Ioannidis, um epidemiologista da Universidade Tufts, em Boston, e da Universidade de Ioannina, na Grécia. Em 2005, ele publicou no importante periódico PLoS Medicine um artigo com um título chocante: “Por que a maioria das descobertas de pesquisas publicadas é falsa”. O que o pesquisador fez foi demonstrar, por meio de simulações e cálculos matemáticos, que as conclusões obtidas com números hoje presumidos como suficientes para a extração de uma correlação estatística real, na verdade, possuem, dentro de si, uma probabilidade altíssima de ser apenas um “acidente” de contabilidade. Em suma, a maioria das pesquisas obtidas por essa rota mais provavelmente apresenta resultados falsos que verdadeiros.
É o problema de trabalhar por correlação, em vez de causação – algo que é extremamente comum nas ciências biomédicas. Os pesquisadores analisam seus voluntários e tentam estabelecer “coincidências” entre dois fatos díspares – por exemplo, comer mais ovo e ter mais problema cardíaco. Se encontram algum paralelo estatístico que, no jargão, possa ser considerado “significativo”, apresentam a potencial descoberta. Isso mesmo que não façam a mais vaga ideia de como ovo possa influenciar ou não o funcionamento do coração.
Não é à toa que ficamos malucos tentando entender os resultados de pesquisas que tentam investigar o impacto de hábitos alimentares e comportamentais na saúde. “Alguns dos estudos mais citados na pesquisa biomédica foram refutados alguns anos depois de sua publicação”, diz o epidemiologista. “Por exemplo, pesquisas no início dos anos 1990 diziam que vitamina E podia reduzir pela metade acidentes cardiovasculares, tanto em homens como em mulheres. Hoje, sabemos que suplementos de vitamina E não ajudam, e em altas doses podem até aumentar a mortalidade. Outros estudos muito citados diziam que terapia de reposição hormonal era cardioprotetora. Grandes testes subsequentes mostraram que, em média, ela aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Dez anos atrás, tudo que vinha da epidemiologia nutricional sugeria que conhecíamos dezenas de fatores de risco nutricionais para câncer e formas de reduzir o risco da doença ao melhorarmos a nutrição. Numa revisão recente, muito pouco disso acabou sobrando.”
Em muitos casos, as pesquisas apresentam conclusões erradas porque foram, para explicar tudo em uma só palavra, malfeitas. Se o estudo tem um número muito pequeno de voluntários, ou se não foi possível descartar outras explicações que dessem conta do mesmo fenômeno observado, é bem provável que a conclusão seja mesmo falsa. E a coisa só piora quando entra o fato de que os cientistas são humanos e precisam fazer descobertas significativas para manter o financiamento às suas linhas de pesquisa. Aí começa a surgir um viés. O pesquisador, ainda que se esforce para eliminar qualquer postura tendenciosa e produzir resultados de qualidade, acaba sutilmente desenvolvendo o experimento de forma a confirmar sua tese. Isso quando não redige seus resultados da forma mais espalhafatosa possível, a fim de produzir mais impacto.
Sim, isso acontece. Um estudo conduzido por Kimihiko Tamagishi, da Universidade Shukutoku, no Japão, mostrou que nem sempre as pessoas entendem o que os números querem dizer. Ao apresentar sob formas diferentes uma mesma estatística, ele notou que as pessoas não costumam raciocinar adequadamente sobre números. Então, se o risco de morte ocasionado por um câncer leva ao óbito 1.286 em cada 10 mil pessoas, ou 24,14 em cada 100, a maioria das pessoas tende naturalmente a achar que a primeira estatística é mais ameaçadora que a segunda, muito embora seja menor (equivale a 12,86%, contra 24,14% da segunda).
Claro, os próprios cientistas, acostumados a números, não caem facilmente nesses truques. Mas eles sabem que, ao redigir seus estudos de forma a torná-los mais enfáticos, ou assustadores, ajuda na hora de ser publicado nos periódicos científicos e, mais tarde, virarem reportagens de jornal. Um exemplo clássico é o de um estudo mostrando que comer bacon aumenta em 20% a chance de alguém ter câncer no intestino. Parece um número assustador, não? Mas o que ele realmente quer dizer? Não sabemos até tomarmos conhecimento da probabilidade de uma pessoa qualquer ter a mesma doença. Aí descobrimos que esse risco é de 5%. Ou seja, na realidade, comer bacon faz com que o risco, que era de 5%, suba para 6%. Aí já não assusta tanto, certo?
O drama é que, segundo Ioannidis, mesmo quando tiramos de cena as pesquisas ruins e os malabarismos matemáticos, ainda assim vamos tropeçar em muitas pesquisas que chegam a conclusões falsas. Muitas vezes o que parece uma correlação clara entre causa e efeito é apenas uma infeliz coincidência na amostra de voluntários analisada pelo pesquisador.
E, para que se tenha uma ideia de como as coisas são complicadas, só o fato de que há muita gente pesquisando a mesma coisa, em vez de uns poucos grupos, pode levar à produção de mais resultados falsos (pelo simples fato de que cada um desses estudos terá suas idiossincrasias próprias, que farão com que a realidade escape por entre os dedos, e muitos deles estarão calcados em técnicas estatísticas que podem “enxergar” correlações onde elas na verdade não existem).
Eis que a ciência não é aquele joguinho da verdade que todos gostaríamos que fosse. É apenas uma forma humana de produção de conhecimento, com seu próprio conjunto de regras e, com elas, suas próprias mazelas. É fato que, no fim das contas, a verdade acaba prevalecendo, e os avanços passam a ser inegáveis. Atualmente, sabemos mais sobre tudo do que sabíamos alguns anos, para não dizer décadas e séculos, atrás. Mas, quando os cientistas estão apenas no meio do caminho para confirmar ou refutar uma hipótese, o processo é muito mais tortuoso e perigoso do que eles mesmos gostariam de admitir.
“Muitos cientistas, de campos bastante diversos, têm me procurado nos últimos anos para dizer que eles identificam os mesmos problemas, ou até algo pior, acontecendo em seus ramos”, disse-me Ioannidis, quando conversei com ele em 2011. De lá para cá, a situação não mudou muito.
Um levantamento publicado na PLoS Biology em junho de 2015 e liderado por Leonard P. Freedman, do Instituto Global de Padrões Biológicos, em Washington, indica o possível tamanho do problema para pesquisas biomédicas: aproximadamente 50% dos resultados pré-clínicos (ou seja, feitos somente em laboratório e com animais) obtidos nos Estados Unidos não conseguem ser reproduzidos por outros pesquisadores, o que equivale a um investimento anual de US$ 28 bilhões em pesquisas que provavelmente geraram conclusões falsas. É um caminhão de dinheiro.
E não há por que não acreditar que o “efeito Ioannnidis” não reverbere quando saltamos das fases pré-clínicas para os estudos clínicos. Como sempre, a indústria farmacêutica só tem a ganhar com isso. Mesmo sem cometerem fraude, pesquisadores podem produzir pesquisas que validem um novo medicamento e indiquem, por exemplo, que ele é um pouquinho melhor que os antigos. Depois, esse resultado pode acabar não sendo verdadeiro. Mas, uma vez publicado, ele tem uma “vida útil” até ser superado ou negado por estudos posteriores. E isso pode garantir o sucesso comercial da nova droga – que, a propósito, precisa ser obtido rapidamente, antes que expire o prazo da patente e seja liberada a fabricação de versões genéricas, por outros laboratórios, daquele remédio.
A forma como os médicos contornam o desafio de navegar entre os muitos resultados contraditórios que se acumulam na literatura é se fiar nos chamados artigos de revisão – trabalhos publicados pelos maiores especialistas de uma determinada área que buscam avaliar criteriosamente o conjunto de pesquisas produzidas e separar, por assim dizer, o joio do trigo. Mas, como numa corrida armamentista, assim que aparece uma solução que pode atrapalhar a indústria farmacêutica, ela reage com uma nova estratégia para neutralizá-la.
Um dos segredinhos mais mal guardados é a forma que a indústria usa para influenciar a comunidade médica – a preparação de artigos de revisão discretamente enviesados para publicação em revistas científicas de renome. Obviamente, esse material seria recebido com desconfiança se viesse assinado por algum pesquisador ou médico diretamente ligado a alguma companhia farmacêutica. A solução? Encontrar alguém “honesto”, supostamente sem interesse comercial, para assinar o material.
A tática é mais velha que andar para a frente. Já falamos de um episódio desses ocorrido em 1961, quando a Richardson-Merrell tentou liberar a talidomida para venda nos Estados Unidos. Ainda assim, até hoje é um dos maiores problemas encontrados na literatura médica, que deixa os profissionais de medicina que querem simplesmente encontrar as melhores soluções farmacológicas para seus pacientes literalmente no escuro.
Meu encontro particular com a prática dos “escritores fantasmas”, ou seja, que produzem os artigos para atender aos desígnios da indústria farmacêutica, mas não os assinam – aconteceu em 2005, ao conversar com a médica e pesquisadora Adriane Fugh-Berman, da Universidade Georgetown, em Washington. Em meados do ano anterior, ela havia sido contatada por uma empresa de comunicação médica vinculada a uma companhia farmacêutica, com uma proposta.
A dita companhia propôs que ela assinasse um artigo de revisão sobre a interação de ervas com warfarin, um famoso anticoagulante com uma longa história nos Estados Unidos, o único de uso oral aprovado pela FDA. A proposta, feita por e-mail, dizia explicitamente que o estudo havia sido financiado por uma companhia farmacêutica, que não tinha nenhuma droga no mercado concorrente do warfarin, nem nenhum produto derivado de ervas. Intrigada, Fugh-Berman pediu mais informações. Poucos meses depois, em 24 de agosto, ela voltou a ser contatada. A empresa de comunicação havia enviado um rascunho do estudo, já assinado por ela, para que ela fizesse as modificações que achasse necessárias, de preferência até o dia 1º de setembro. Sobre o interesse da farmacêutica pelo estudo, a empresa de comunicação disse a Fugh-Berman: “Embora não haja promoção de nenhuma droga nesse estudo, a companhia quer preparar o palco para novos anticoagulantes que não estão sujeitos às numerosas limitações do warfarin”.
A pesquisadora da Georgetown não aceitou ceder seu nome para a publicação da pesquisa. Aliás, a essa altura, você deve estar se perguntando – por que alguém, em sã consciência, aceitaria isso? A primeira motivação pode ser a mais velha de todas: grana. Pesquisadores podem ser, digamos, encorajados financeiramente a colaborar. É importante lembrar que os tentáculos econômicos da indústria farmacêutica hoje se encontram firmemente agarrados a boa parte da comunidade médica e científica. A indústria financia pesquisas, dá amostras grátis de medicamentos, oferece viagens, contrata palestras, paga cursos e trata muitos médicos como virtuais parceiros de negócios. E aceitar agrados da indústria é uma prática em geral disseminada entre os médicos, embora todos digam que isso jamais os influenciaria nas prescrições ou nos tratamentos. Certo.
O outro motivo que pode justificar a participação nesses esquemas é manter sua respeitabilidade no meio acadêmico sem fazer esforço. A indústria contrata o artigo, uma empresa de comunicação terceirizada prepara todo o material e ao belezoca especialista só cabe assinar, talvez fazendo uma ou duas alterações cosméticas, e lá está seu nominho, todo pimpão, em mais um trabalho publicado num periódico respeitável.
Em todas as áreas da ciência – não só na medicina – muitos pesquisadores vivem sob a pressão do adágio “publish-or-perish”: “publique ou pereça”. A chance de publicar sem precisar perder tempo para pesquisar ou escrever pode, por vezes, parecer atraente demais para resistir. Ainda mais num caso como o relatado por Fugh-Berman, em que ela não precisaria contar nenhuma grande mentira no artigo, meramente enfatizar a precária situação atual do mercado para que a “solução” miraculosa apareça na indústria ali adiante.
De toda forma, ela preferiu não aceitar – ainda bem – e a história teria provavelmente morrido aí, não fosse por uma coincidência. Outro cientista mais permissivo foi encontrado pela empresa para assinar o estudo. O trabalho, então, foi submetido para publicação no Journal of General Internal Medicine, revista científica americana com “peer-review”: sistema em que outros cientistas, independentes, são chamados a avaliar o conteúdo dos trabalhos antes da publicação. E, por coincidência, Fugh-Berman foi chamada a avaliar o artigo. “Era uma versão revisada, mas reconhecível, do manuscrito que havia sido enviado a mim”, –
disse Fugh-Berman, que então contou aos editores a história toda. “Ao saber de suas estranhas origens, os editores rejeitaram o trabalho e incentivaram uma discussão internacional sobre ‘ghostwriting’ por empresas de comunicação entre os membros da Associação Mundial de Editores Médicos, alertando-os para o fato de que estudos submetidos podem não reconhecer apropriadamente financiamento de corporações e/ou coautoria.”
Fugh-Berman então escreveu um artigo sobre o assunto, publicado no mesmo Journal of General Internal Medicine. Mas os editores alteraram o manuscrito, com autorização dela, para omitir os nomes das companhias envolvidas no caso, supostamente porque seu objetivo não era fazer uma denúncia, mas abrir um debate. (A relação entre periódicos científicos e a indústria farmacêutica é ainda mais complicada que a dos médicos – a imensa maioria das peças publicitárias publicadas nessas revistas vem das grandes companhias. Que journal gostaria de perder anunciantes, e dinheiro, por conta de uma briguinha sobre escritores fantasmas?)
Embora tenha ocultado os protagonistas do caso, o Journal of General Internal Medicine teve o mérito de expor a questão. Afinal de contas, a estratégia usada pelas farmacêuticas solapa a confiabilidade que se pode ter em resultados, mesmo quando publicados por revistas com “peer-review”. Usando um pesquisador “imparcial e independente” como autor, as empresas evitam a obrigatoriedade imposta por muitas publicações científicas de declarar interesses financeiros ligados à pesquisa. Periódicos que se consideram sérios não podem gostar disso. O Journal of General Internal Medicine não gostou. “Nesta edição, Fugh-Berman descreve um caso grosseiro de comportamento antiético por um autor, um fabricante farmacêutico e uma companhia de educação médica”, disse a revista em seu editorial.
Em resposta ao caso, o JGIM decidiu endurecer sua política editorial, determinando que qualquer pessoa ou companhia que teve influência no texto ou no conteúdo de um artigo deve ser identificada. E a Associação Mundial de Editores Médicos ampliou seu foco para cobrar não só a responsabilidade dos autores, mas as dos que encomendam esses artigos e as empresas que os redigem e arregimentam os escritores fantasmas.
Quanto a Fugh-Berman, quando conversou comigo, ela não refugou e entregou os nomes das empresas envolvidas no caso, que publiquei em uma reportagem no jornal Folha de S. Paulo. A empresa de comunicação médica era a Mx Communications, e a companhia farmacêutica era a AstraZeneca, ambas do Reino Unido. “Duvido que eu seja convidada novamente para ser uma autora de mentirinha, mas certamente há outros médicos que estariam dispostos a propagandear essas enganações”, disse. No fim, o novo anticoagulante da AstraZeneca ganhou aprovação para alguns casos na França, mas foi vetado para uso nos Estados Unidos.
Veja a seguir trechos da iluminadora conversa que tive com Fugh-Berman na ocasião.
Por que pesquisadores aceitam ser “escritores fantasmas”?
Neste caso, nenhum dinheiro foi oferecido. Então eu suponho que há quem faça pelo crédito acadêmico. Mas outros foram pagos para isso, algumas vezes milhares de dólares.
Casos como o seu são muito frequentes?
Sim, é bem comum. Muitos colegas foram convidados para isso. Eu fiquei chocada, depois de ver algumas correspondências da Associação Mundial de Editores Médicos, que os editores tenham ficado tão surpresos. Ninguém sabe quantos artigos escritos com autores falsos existem na literatura.
Por que você decidiu revelar o caso? E por que outros que rejeitam ofertas não fizeram isso?
Eu realmente não pensei que isso fosse novidade. Quando eu recebi o manuscrito forjado para avaliar, eu só queria que os editores soubessem de suas origens e esperava que eles não o publicassem. Eu pensei que era de conhecimento amplo o fato de que isso acontecia, com muitas companhias e muitos autores, mas eu achei que pudesse ao menos evitar que um deles fosse publicado. Fui encorajada pelos editores.
Você acha que sua postura poderá encorajar outros a pesquisadores a revelar o que está acontecendo?
Não. Os médicos invejam os que são pagos pelas companhias farmacêuticas.
A relação entre a medicina e a indústria farmacêutica é profunda, complexa e nada saudável. Elas deveriam ser cirurgicamente separadas com regulamentações. Empresas farmacêuticas não deveriam ter permissão para financiar publicações ou seguir com atividades de educação médica.
O melhor exemplo da promiscuidade que existe no mundo dos “escritores fantasmas” aconteceu no caso Fen-Phen, uma droga antiobesidade comercializada pela companhia Wyeth nos anos 1990. Quando os resultados clínicos começaram a mostrar problemas sérios produzidos pela substância, como hipertensão pulmonar e doença da válvula cardíaca, a resposta da empresa foi destruir os dados, ignorá-los e lançar um contra-ataque via artigos fantasmagóricos.
“Os artigos escritos por fantasmas do Fen-Phen foram produto de uma complexa estratégia multimilionária de relações públicas”, comenta o bioeticista americano Carl Elliott. “Em 1996, a Wyeth contratou a Excerpta Medica, Inc., uma firma de comunicação médica de New Jersey, para escrever dez artigos para periódicos médicos promovendo tratamento para obesidade. A Wyeth pagou à Excerpta Medica US$ 20 mil por artigo. Por sua vez, a Excerpta Medica pagou a pesquisadores universitários proeminentes de US$ 1 mil a US$ 1,5 mil para que eles editassem rascunhos de artigos e colocassem seus nomes no produto publicado. A Excerpta Medica, um braço da editora acadêmica Elsevier, controla ela mesma dois periódicos médicos: Clinical Therapeutics e Current Therapeutic Research. De acordo com documentos do tribunal, a Excerpta Medica planejava submeter a maioria desses artigos a periódicos da Elsevier. No fim, a Excerpta só conseguiu publicar dois deles antes que o Fen-Phen fosse retirado do mercado, em 1997. Um apareceu no Clinical Therapeutics, o outro no American Journal of Medicine, outro periódico da Elsevier. A Wyeth manteve todos os artigos sob estrito controle, livrando os rascunhos de qualquer material com potencial para prejudicar as vendas.”
Em 2001, a Wyeth já reconhecia que pelo menos 450 mil pacientes ficaram doentes pelo uso de Fen-Phen e pelo menos algumas centenas deles morreram por conta disso. Em 2005, a companhia declarou ter separado US$ 21,1 bilhões para pagamento de indenizações.
De todas as coisas perversas que o avanço da ciência médica, movido pela indústria farmacêutica, gera, nenhuma delas apavora mais do que a prática de inventar doenças inexistentes. Numa sociedade cada vez mais obcecada com saúde e bem-estar, somos um prato cheio para esse tipo de atitude, que transforma pequenas flutuações do rico e variado espectro humano em anormalidades a serem tratadas e combatidas.
Não é difícil entender como a coisa funciona. “Muitos de nós temos uma visão simples, de senso comum, sobre o modo como o desenvolvimento de drogas e sua comercialização funcionam”, explica Elliott. “As pessoas pegam doenças, cientistas desenvolvem drogas para tratar essas doenças, e os comercializadores vendem as drogas ao mostrar que elas funcionam melhor que as outras competidoras. Algumas vezes, contudo, esse padrão funciona ao contrário. Os cientistas das empresas farmacêuticas desenvolvem uma droga com uma gama de efeitos fisiológicos, e nenhum deles é terrivelmente útil, então os comercializadores precisam identificar e promover uma doença para que a droga a trate. Isso pode significar cooptar uma doença rara, cujas fronteiras podem ser expandidas para abranger mais pacientes, ou redefinir um aspecto desagradável da vida comum como patologia médica. Uma vez que uma doença atinge um grau crítico de legitimidade cultural, não é preciso mais convencer ninguém de que uma droga é necessária.”
Essa revelação explica muita coisa que vemos hoje na própria imprensa a respeito de doenças. Em muitos casos, essa ação de “repaginar” uma determinada situação em benefício da indústria farmacêutica também é boa para seus potenciais clientes. Ao abordar temas como incontinência urinária e disfunção erétil e tirar o estigma dessas reais condições médicas, mostrando que não há nada que se envergonhar e que elas podem ser tratadas de forma eficaz, não há dúvida de que a indústria está prestando um grande serviço a todos nós.
Infelizmente nem sempre a coisa funciona assim. E as coisas ficam ainda mais difusas quando partimos para as condições psiquiátricas. “A criança bipolar, o adulto socialmente ansioso e o estudante com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade não existiam 30 anos atrás, pelo menos não no seu sentido moderno”, lembra Elliott. “Eles apareceram em resposta a medicação.”
Claro que podemos escrever um livro inteiro colocando em lados opostos médicos que dão mais ou menos valor a esses novos rótulos que emergem no campo da psiquiatria, e a ideia aqui não é especificar quais dessas condições merecem reconhecimento e quais são puras invenções. Mas o ponto não é esse. O que é particularmente digno de nota é o fato de que esse “apuramento” nos diagnósticos anda de mãos dadas com a indústria, e que precisamos encará-lo sempre com um olhar crítico e desconfiado.
Se você for ao site da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, por exemplo, encontrará diversos artigos argumentando veementemente que não se trata de uma doença inventada, escritos por médicos respeitáveis e independentes ligados a universidades brasileiras – no que eu acredito, até. Você também encontrará a informação de que ela é subtratada no Brasil – outro “mantra” clássico da indústria de medicamentos. Mas também verá que entre os patrocinadores e parceiros da associação estão duas farmacêuticas, a Shire e a Novartis. A principal droga no tratamento do transtorno é o metilfenidato, mais conhecido como Ritalina, da Novartis.
De novo: não estou dizendo que esta ou aquela condição médica não exista, apesar de todo o trabalho claro de “disease branding” que a indústria faz em cima de diversas dessas doenças. O problema na verdade é a falta, em muitos casos, de referências confiáveis. A noção de que podemos nos fiar na ciência se quebra diante de uma indústria multibilionária que não esconde o desejo de que tomemos cada vez mais pílulas, independentemente de precisarmos delas ou não, e que faz uso de recursos antiéticos, como a manipulação de pesquisas, o suborno a médicos e a ameaça de cortar apoio financeiro a aqueles que tenham a coragem de apontar problemas com novas drogas, como muitas vezes já aconteceu.
Um caso emblemático de como a indústria farmacêutica pode até mesmo contorcer sua razão de ser para maximizar lucros é o do antidepressivo conhecido como Prozac (fluoxetina). Desenvolvido pela Eli Lilly, ele foi lançado em meados dos anos 1980 como um avanço diante de outros fármacos da mesma categoria, e chegou a ser promovido pela fabricante como primeiro inibidor seletivo da recaptação da serotonina –
na verdade, era o quarto.
A serotonina é uma molécula que está envolvida na comunicação entre os neurônios – um neurotransmissor -, e sua modulação pode ajudar no tratamento de diversas doenças. De fato, o Prozac é um medicamento eficaz para tratar quadros clínicos como depressão moderada a grave, transtorno obsessivo-compulsivo e outras condições psiquiátricas. Mas o sucesso da droga nos anos 1990 veio junto com um entusiasmo intrigante por parte de alguns médicos. Muitos psiquiatras começaram a reportar que medicamentos da classe do Prozac não ajudavam apenas as pessoas que estavam clinicamente deprimidas. Eles também pareciam apoiar pessoas com condições que, para todos os efeitos práticos, não contavam como distúrbio mental. “O termo cunhado pelo psiquiatra Peter Kramer, psicofarmacologia cosmética, foi o que pegou”, conta Carl Elliott. “Em seu livro Listening to Prozac, Kramer se preocupava com as consequências de usar drogas psicoativas para fazer pessoas saudáveis ficaram mais do que bem’. Deveriam médicos prescrever drogas psicoativas que tornam as pessoas saudáveis mais felizes, mais energéticas e mais expansivas?”
E essa não era toda a história. Em paralelo a esse entusiasmo, alguns relatos sobre efeitos colaterais começaram a aparecer. Em 1990, Martin Teicher, um psiquiatra da Universidade Harvard, publicou um artigo no American Journal of Psychiatry apontando seis casos de pacientes que começaram a ter pensamentos suicidas após tomar Prozac. E logo começaram a surgir situações ainda mais graves, em que pessoas influenciadas pela droga e sem histórico de violência cometiam assassinatos e se suicidavam. Processos contra a Eli Lilly decorreram disso e especialistas independentes tiveram acesso aos resultados dos testes clínicos do Prozac. E o que eles constataram é que esses estudos eram manipulados pela indústria para mascarar, de todas as formas possíveis, o risco envolvido no consumo de antidepressivos.
Mesmo esses especialistas reconhecem o valor de medicamentos como o Prozac no tratamento de depressão clínica – mas com todos os dados à disposição fica claro que a droga está longe de ser a “pílula maravilhosa do bem-estar”, a fábula que alguns médicos – sem dúvida encorajados pela indústria – tentaram construir nos anos 1990.
E se engana quem pensa que essa manipulação de estudos se restringe a campos mais acinzentados, como o da farmacologia psiquiátrica. O mais escandaloso exemplo de fraude científica em nome do lucro é o do Vioxx. Fabricado pela Merck e lançado em 1999, ele era um anti-inflamatório que se tornou campeão de vendas no mundo todo. Mas apenas um ano após seu lançamento começaram a aparecer relatos preocupados de médicos que associavam o uso do medicamento a risco aumentado de doença cardíaca.
Um grande estudo promovido pela própria Merck, chamado Vigor, também revelava isso – um aumento de 500% no risco de ataques cardíacos -, mas foi maquiado em sua apresentação ao público. Os pesquisadores que tentassem, por sua vez, fazer algum barulho sobre os perigos eram perseguidos de forma implacável pela companhia: suas instituições de origem eram ameaçadas com corte de verbas de pesquisa, caso o dito “tumultuador” não se calasse. Tudo isso foi devidamente documentado, e veio à tona durante os inevitáveis processos judiciais que apareceram por conta das mortes causadas pela droga – estimadas pelo FDA em 2004, quando o medicamento foi retirado de circulação, em aproximadamente 38 mil. A Merck acabou reservando quase
US$ 5 bilhões para o pagamento de indenizações, só nos Estados Unidos.
Esses são os exemplos mais visíveis, mas estão longe de ser únicos. Na verdade, os casos de medicamentos que entram e saem do mercado deixando uma trilha de desgraças pelo caminho são recorrentes.
A ciência é o nosso único caminho viável para navegar com alguma segurança nesse terreno escorregadio, e não vamos aqui fingir que, no geral, a indústria farmacêutica não trouxe incríveis benefícios à sociedade. Trouxe. Estamos melhor com ela do que sem ela. Vivemos mais e melhor que nossos ancestrais e, com certeza, isso tem a ver com melhorias proporcionadas pelo avanço do saber científico e das pesquisas farmacológicas. Isso, contudo, não pode e não deve – se traduzir num cheque em branco para indústria dos medicamentos. Não se pode acreditar em tudo que tentam nos empurrar, sob a rubrica “estudos mostram que”.



















