Astronomia indígena: como os povos originários viam (e veem) o céu
Os Tupinambás, do Maranhão, sabiam da influência da Lua sobre as marés. As constelações Guarani marcam os ciclos do ambiente e guiam os comportamentos sociais dessa população. Conheça o outro céu brasileiro.

A lenda do boto cor-de-rosa você já conhece. O que vamos fazer aqui é colocá-la em outro contexto. Para os indígenas Tembés, nativos da Amazônia, a mitologia é que o boto travestido de rapaz teria seduzido a filha de um cacique. Os dois se apaixonaram e passaram a se encontrar todas as noites de lua cheia. O resultado dessa perambulação foi a gravidez da garota, que deu à luz três filhotes de boto. Eles foram soltos na água – mas visitam a mãe nas noites de lua cheia e lua nova, e quando saltam, fazem ondas e alagam as margens do rio (1).
A história descreve o fenômeno da pororoca, o encontro das águas oceânicas e fluviais. A atração gravitacional mais forte nas épocas de lua nova e cheia faz com que a maré entre na foz do rio, provocando ondas de até 6 metros de altura.
Isso deixa claro o seguinte: os índios Tembés sabem que as fases da Lua influenciam nas marés. A cultura Tembé floresceu depois da chegada dos portugueses. Seu idioma, porém, é herdado dos Tupinambás, que viviam onde hoje fica o Maranhão. A cultura deles precede a colonização – e o povo Tupinambá também sabia da influência da Lua sobre as marés.
Isso foi revelado pelo missionário Claude D’Abbeville no século 17. O frade francês conviveu com os Tupinambás durante quatro meses em 1612, e relatou a experiência em um livro (2) publicado dois anos depois. Há um capítulo inteiro dedicado à astronomia indígena, em que D’Abbeville conta, com surpresa, que a população distinguia os dois tipos de marés cheias mais intensas – a da lua nova e a da lua cheia.
Na época, esse fato ainda não fazia parte do arcabouço científico ocidental (ainda que outros povos, como os gregos antigos, tenham registrado bem antes que as marés coincidem com as fases da lua). Em 1616, só dois anos após a publicação de D’Abbeville, Galileu escreveu uma carta intitulada Discurso do fluxo e refluxo do mar, em que defende que as marés são causadas pelo balanço da Terra durante a órbita ao redor do Sol e pelo movimento de rotação. Quando Johannes Kepler sugeriu adicionar a Lua na equação, Galileu não poupou críticas ao astrônomo.
Foi só em 1687 que Isaac Newton demonstrou a influência gravitacional da Lua sobre as marés. Grosso modo, o movimento de translação da Lua e rotação da Terra em torno do próprio eixo proporcionam duas marés altas ao longo de 24h. Só que nos períodos de lua nova e cheia, quando o satélite está alinhado à Terra e ao Sol, a atração gravitacional da estrela soma-se à da Lua, provocando marés ainda mais cheias – principalmente próximo à linha do equador.
Assim como os marinheiros da época, os Tupinambás sabiam disso empiricamente. Além das constatações sobre a Lua, D’Abbeville ainda menciona 30 constelações observadas pelos indígenas, completamente diferentes das divisões do zodíaco (já que cada povo vê nas estrelas os desenhos que bem entender). Nos séculos seguintes, descobriríamos que o céu brasileiro é muito mais ilustrado do que poderíamos imaginar.
O “horóscopo” indígena
Que fique muito claro: não existe horóscopo indígena. Quem buscar o termo na internet vai encontrar referências a “horóscopo tupi” e coisas do tipo. Mas é mentira, simplesmente. Os povos originários usam as estrelas como marcadores temporais, indicando eventos cíclicos do meio-ambiente que são explicados pela mitologia de cada população.
Pegue a constelação do Homem Velho, por exemplo. O mito mais comum diz que esse indivíduo foi traído pela esposa, que o trocou pelo irmão dele. Para ficar com o cunhado, a mulher matou o marido, cortando-lhe a perna.
Em termos práticos, a aparição do Homem Velho no céu significa a chegada do “inverno” para as populações do norte (nome dado para o período chuvoso na região). A figura surge na segunda quinzena de dezembro, quando estão prestes a começar as chuvas mais intensas da Amazônia. Para efeito de comparação, as pernas do homem são compostas pelas estrelas do cinturão de Órion, as Três Marias. E Betelgeuse, a gigante vermelha que brilha intensamente, é o local em que o membro foi amputado (veja no infográfico abaixo).

Enxergar essa constelação já fazia parte da cultura Tupinambá no século 17, e também aparece entre os Guaranis, que vivem hoje no sul do país (3). Para eles, o Homem Velho marca o início do verão – e, de fato, o solstício de verão no hemisfério sul ocorre no dia 22 de dezembro.
Embora separadas por 2.500 km e 400 anos, essas etnias têm ancestrais em comum e fazem parte da mesma família linguística (o tupi-guarani), o que explica os conhecimentos astronômicos compartilhados. As Plêiades, por exemplo, recebem o mesmo nome: Eixu, que significa ninho de vespas ou abelhas. Essa parte da “nossa” constelação de Touro é visível durante a maior parte do ano, ficando oculta pelo Sol por apenas um mês. O renascimento das Plêiades, em junho, é um importante marcador temporal para vários povos indígenas, que geralmente interpretam o fenômeno como o início do ano.
Outras famílias linguísticas têm outras constelações. Na década de 1940, o etnólogo alemão Curt Nimuendajú descreveu a da onça e do tamanduá, uma das mais importantes e simbólicas para o povo Ticuna, que habita o oeste amazônico (4). Ela retrata a briga entre os dois animais – que começa em junho, com a onça por cima, representando o período de seca. Com o passar dos meses, a constelação “se move” pelo céu (consequência do movimento de translação da Terra) e termina com o tamanduá por cima da onça, em novembro. A vitória do animal traz a chegada das chuvas.
Já a população Tukano, que também vive na Amazônia, marca a chegada das enchentes com a constelação da jararaca. Elas começam quando a cabeça da serpente atravessa o horizonte, no meio de novembro. A partir daí, cada parte do corpo que cruza o céu nomeia uma enchente: há a do rabo da jararaca, da bolsa de ovos, da glândula de veneno…
“Essas enchentes vêm de chuvas nas cabeceiras dos rios ou degelo no alto da Colômbia, aí você tem o aumento do nível”, diz Walmir Cardoso, astrônomo e pesquisador da USP que trabalha com essa população. As enchentes dificultam a pesca – significa que está na hora de focar em outras formas de subsistência, como a caça e plantio.
“As chuvas, enchentes e estiagens determinam um ritmo de vida social – que por sua vez tem a ver com algo mais complexo, os ritos”, diz Cardoso. Há uma organização social relacionada aos “irmãos maiores”, que são as estrelas. Cerimônias de casamentos, confecção de artesanatos e trocas entre grupos étnicos, então, também são definidas pelo céu.
O povo Desana, da mesma região e família linguística dos Tukanos, leva essa influência até a arquitetura. Suas casas comunais, onde moram diferentes famílias, são construídas no sentido leste-oeste, o do nascer e do pôr do Sol. Elas seriam um reflexo das “malocas do céu”, orientadas dessa maneira.
É praticamente impossível apontar quando ou como essas tradições começaram. De qualquer forma, atribuir simbologia aos corpos celestes é uma característica inerente à humanidade. Em 1930, a União Astronômica Internacional (IAU) “congelou” o céu, dividindo-o em 88 constelações que não podem se sobrepor – por padronização mesmo. Elas incluem Ursa Maior e Menor, Sagitário, Cruzeiro do Sul… As que você já conhece. Todas elas carregam simbologias – da mesma forma que as indígenas.
Hoje, há um movimento para que a IAU reconheça constelações não-europeias. Não para substituir as existentes, mas para que o simbolismo delas não se perca com o tempo.
Escrito nas paredes
Sabe aqueles quartos de criança que têm estrelas fluorescentes grudadas nas paredes e no teto? A Toca do Cosmos, no interior da Bahia, é mais ou menos assim. A caverna é repleta de pinturas que fazem referência a objetos celestes: estrelas, eclipses, cometas.
Pelo menos essa é a interpretação mais aceita pela arqueoastronomia, área de pesquisa que busca entender o passado da nossa relação com os astros. Há representações desse tipo espalhadas pelo Brasil, como na Lagoa do Escuro e na Toca dos Astros, ambas em Pernambuco.

Algumas dessas pinturas podem, inclusive, relatar eventos específicos. A partir de julho do ano 1054, uma supernova surgiu no céu noturno. O brilho do colapso estelar ficou visível em todo o planeta por quase dois anos. Chineses, árabes e outros povos registraram o fenômeno na forma de escrita e pintura: geralmente, como um corpo celeste muito brilhante, ao lado da Lua. Há registros semelhantes nas paredes da Bahia e de Pernambuco – por isso, alguns pesquisadores teorizam que os brasileiros pré-cabralinos também registraram a supernova (5).
Só que ainda não dá para bater o martelo. Primeiro porque não sabemos exatamente quando os desenhos foram feitos. Para datá-los com precisão, seria necessário levar amostras da tinta para laboratório. E enquanto não houver um projeto de pesquisa dedicado a isso, tudo o que podemos fazer é especular.
Um dos primeiros a se interessar especificamente pela astronomia indígena no Brasil foi o pesquisador Germano Afonso (1950-2021), na década de 1990. Ele mapeou mais de 100 constelações dos povos originários e as relacionou a mitos e fenômenos naturais. Em uma das visitas a uma aldeia Guarani, no Paraná, Germano foi informado de que a atividade de mosquitos e outros insetos aumentava em noites de lua cheia – uma relação que de fato existe graças à luminosidade do satélite natural, mas que ele próprio, como astrônomo, nunca tinha notado.
Afonso também investigou o possível uso de relógios solares pelos povos indígenas antigos. Ele dizia ter encontrado pedras verticais cravadas no solo que poderiam ser gnômons: somada a outras indicações no chão, a sombra dessas rochas indicaria o horário do dia e até período do ano. Esses instrumentos também foram utilizados por outros povos na antiguidade, da Mesopotâmia à China. Alguns pesquisadores concordam que interpretar os monólitos e a disposição de rochas como relógios solares talvez seja uma extrapolação. Mas o fato é que existem poucos estudos formais sobre a finalidade dessas construções. Desde a década de 1990, uma nova geração de pesquisadores tem se interessado pelo tema, seja fazendo pesquisas de campo com povos indígenas atuais (trabalho que pode levar mais de um ano, para observar os ciclos celestes), ou estudando a arqueologia e relatos de etnógrafos do passado.
Apesar dos esforços para o estudo da astronomia cultural e da arqueoastronomia no Brasil, esse ainda é um tópico que gera preconceito nas universidades. “Muitos pesquisadores acham que trabalhos sobre astronomia indígena não vão ser aceitos ou publicados”, diz Luiz Borges, pesquisador do Museu de Astronomia e Ciências Afins, no Rio de Janeiro. “Precisamos de pessoas no campo […] e, quanto mais a gente souber sobre esses conhecimentos indígenas, mais ajudamos a quebrar estereótipos.”
E é bom que isso seja feito logo. Assim como as culturas ancestrais desaparecem junto com as populações indígenas, locais como a Toca do Cosmos encontram-se vulneráveis pela ação do tempo e a própria depredação humana. “Tem poucos sítios aqui no Brasil em que foi feito um trabalho sistemático de datação e escaneamento 3D” diz Flávia Lima, astrônoma da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro. “Precisamos de um projeto grande no Brasil, reunindo várias instituições para catalogar e datar esses locais.” Afinal, é o conhecimento sobre a nossa própria história que está em jogo.
Fontes: (1) Artigo “O céu como guia de conhecimentos e rituais indígenas”; (2) Livro Histoire de la mission des pères capucins en l’isle de Marignan et terres circonvoisines où est traicté des singularitez admirables & des moeurs merveilleuses des indiens habitans de ce pays. (3) Artigo “As Constelações Indígenas Brasileiras”; (4) Artigo “As estrelas eram terrenas: antropologia do clima, da iconografia e das constelações Ticuna”; (5) Artigo “Interpretações arqueoastronômicas da supernova 1054 no sítio arqueológico lagoa do escuro e na toca dos astros”.
Agradecimentos: Luiz Carlos Borges, Pesquisador do Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST; Walmir Cardoso, Pesquisador no Grupo de História, Teoria e Ensino de Ciências da USP; Flávia Pedroza Lima, astrônoma da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro; Rundsthen Vasques de Nader, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Referências: Artigo “Da Astroarqueologia à Astronomia nas Culturas”; Artigo “Tradições astronômicas tupinambás na visão de Claude d’Abbeville”; Artigo “Relações Céu-Terra entre os Indígenas do Brasil: Distintos Céus, Diferentes Olhares”; Artigo “Astronomia cultural: um olhar decolonial sobre e sob os céus do Brasil”; Artigo “Etnoastronomia no Brasil: a contribuição de Charles Frederick Hartt e José Vieira Couto de Magalhães”.


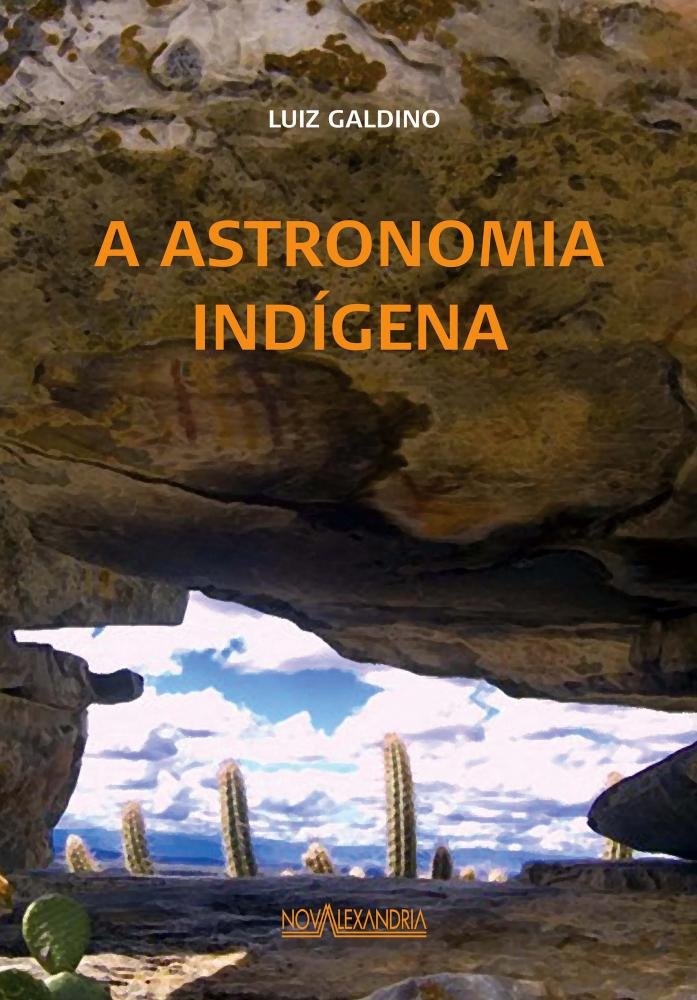
 Orcas são filmadas oferecendo peixes a humanos. É presente ou manipulação?
Orcas são filmadas oferecendo peixes a humanos. É presente ou manipulação? Cientistas descobrem parte nunca antes vista das células humanas
Cientistas descobrem parte nunca antes vista das células humanas A transição demográfica e a longevidade são conquistas históricas
A transição demográfica e a longevidade são conquistas históricas 45 horas em um bote de madeira: cientistas recriam viagem marítima feita há 30 mil anos
45 horas em um bote de madeira: cientistas recriam viagem marítima feita há 30 mil anos Pela primeira vez, cientistas sequenciam genoma completo de uma pessoa do Egito Antigo
Pela primeira vez, cientistas sequenciam genoma completo de uma pessoa do Egito Antigo








