Raymond Loewy – O gênio das aparências
Pioneiro do desenho industrial, ele criou as formas mais marcantes deste século e símbolos conhecidos no mundo inteiro. Suas obras ajudaram a fazer o retrato dos tempos modernos.
Cristina de Medeiros e Suzana Veríssimo
Há alguns meses, o Centro Cultural Georges Pompidou, em Paris, inaugurou com estardalhaço uma retrospectiva das obras do artista pop americano Andy Warhol, falecido no passado. Logo a seguir, o mesmo centro abriu outra exposição — mas tão discretamente que de início poucos ficaram sabendo do evento. Apesar disso, os objetos que o público podia entrever do lado de fora começaram a chamar a atenção. Não que fossem raros ou exóticos. Ao contrário, estão no cotidiano de todos os visitantes que passaram a afluir à mostra, curiosos em saber o que faziam, juntos, embalagens de cigarros, bombas de gasolina, aspiradores de pó, réplicas de trens, carros e aviões.
A primeira impressão era de que ali estava um concorrente de Warhol, que se celebrou nos anos 70 reproduzindo em seus quadros latas de sopa Campbell’s e garrafas de Coca-Cola. Mas não era bem isso: enquanto a primeira exposição contemplava o pintor que fazia arte com banais produtos de consumo a segunda era dedicada ao homem que passou a vida dando-lhes forma e appeal — o desenhista industrial Raymond Loewy. Ironicamente, seu nome é conhecido apenas por uma ínfima parcela dos incontáveis milhões de pessoas que, há um punhado de gerações, nascem, crescem, ficam adultas e envelhecem cercadas de coisas — objetos, símbolos e embalagens — concebidas por Loewy.
Foi esse francês naturalizado americano, com efeito, quem criou a forma branca, maciça e sem pés que se tornou sinônimo de geladeira; o emblema de um garfo e uma faca cruzados que indica restaurante nas estradas; o primeiro modelo de automóvel de passeio de linhas aerodinâmicas; a concha que no mundo inteiro identifica a Shell; uma profusão de eletrodomésticos, materiais de escritório, máquinas fotográficas, ônibus — enfim, até uma nave espacial. Ninguém mais ou melhor do que ele modelou tudo aquilo que, aos olhos da multidão, acabaria se confundindo com a própria noção de modernidade, a aparência mais sedutora do século XX. Escultor e ideólogo de seu tempo, Loewy se fez gente na vertigem das inovações tecnológicas que mergulhariam as sociedades humanas numa era de movimento e velocidade. Segundo dos três filhos de um economista austríaco, que se casara com uma francesa da Alsácia, nasceu em 1893 perto de uma Paris prestes a perder o fôlego diante dos inventos do dia — o automóvel e o avião. Fascinado pelas peripécias de Santos-Dumont, o garoto não deixava porém de achar os primeiros aeroplanos “meio ridículos”, como escreveria muitos anos depois. Aos 15 anos, disposto a criar um objeto voador mais bonito, inspirou-se na delicadeza da libélula para desenhar um aviãozinho de madeira capaz de percorrer 150 metros impulsionado por um elástico. O brinquedo virou moda; seu autor, que embora jovem teve o tino de patenteá-lo, ganhou com ele dinheiro suficiente para custear os estudos de Engenharia.
Quando a Europa afundou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o universitário Loewy foi mobilizado e partiu para a frente de batalha aborrecido — por causa do corte grosseiro de sua farda. Quase uma obsessão, as preocupações estéticas o levaram a forrar de papel as paredes de seu alojamento e, num gesto de extravagância e panache, típico da porção dândi de seu temperamento, pendurou à porta uma placa de metal onde se lia: “Studio Rue de la Paix”. Se isso sugere frescuras de um almofadinha adamado, engano. Loewy voltou à vida civil com a patente de capitão e a condecoração da Cruz de Guerra por bravura em combate. O conflito o fez ver, além da feiúra das casernas, que o Velho Mundo estava de fato muito velho para seu gosto. Por isso, em 1919, aos 26 anos, com 50 dólares no bolso e muita ambição, emigrou para os Estados Unidos, onde já morava um irmão mais velho, médico de profissão. Sua paixão pela América foi fulminante. “Ao vislumbrar a bandeira com as listras e estrelas — uma verdadeira obra de arte, viril, alegre e imponente —, soube imediatamente que amaria aquele país”, lembra na autobiografia publicada em 1951.
Ele se imaginava tendo de limpar a neve das ruas para ganhar o pão, de dia, e jantando de smoking com alguns milionários, à noite. Exagero, mas nem tanto: ainda sem trabalho, tomou do irmão dinheiro emprestado a fim de comprar uma elegante camisa social para tais ocasiões. No primeiro emprego, vitrinista da Macy’s, a mais popular loja de departamentos de Nova York, ficou dois dias. Ele mesmo se demitiu ao perceber que não havia sido exatamente bem recebida a sua primeira criação — uma vitrine inteira dedicada a expor um casaco de peles, arrematado por uma écharpe, um vaso de flores naturais, tudo sob forte iluminação de refletores. Os donos da loja queriam mostrar o máximo de mercadorias em um mínimo de espaço. Ele queria elegância e despojamento. Esse tipo de conflito o acompanharia anos a fio, mas ele não arredaria pé de sua inovadora marca pessoal.
Começou a fazer ilustrações para revistas de classe como Harper’s Bazaar, Vanity Fair e Vogue e nesse trabalho ficou quase dez anos. Graças aos contatos que tais publicações lhe proporcionavam, passou a freqüentar a borbulhante high society nova-iorquina do fim da década de 20, que sempre o fascinou. Loewy, adorando ambientes e pessoas chiques, movia-se à vontade nesses círculos, com seus ternos impecáveis, bigodinho de latin lover e talento inato de relações-públicas. Ávido por publicidade, mesmo quando a extraordinária ousadia de seu trabalho lhe assegurava toda a fama a que tinha direito, ele não perdia ocasião de colocar-se no foco das atenções. Literalmente: certa vez, a bordo de um avião, ao ver os fotógrafos em volta de Miss América, saiu de sua poltrona para tentar aparecer nas fotos. E nunca se deu o trabalho de desmentir a lenda de que a inconfundível garrafa de Coca-Cola era arte sua. Mas, a julgar por sua mulher, Viola, relações-públicas da Philip Morris, três décadas mais jovem, com quem se casou aos 55 anos, ele era na realidade tímido e inseguro. Se a frivolidade não chegava a incomodá-lo, o mau gosto o deixava doente. E mau gosto havia de sobra nos Estados Unidos daqueles tempos de estrepitoso crescimento industrial, que despejava nas lojas toneladas de artigos cujo desempenho era ótimo e a apresentação péssima.
Loewy acreditava que a produção em massa não era incompatível nem com a beleza nem com a funcionalidade — e esse foi seu primeiro estalo de gênio. Mandou imprimir cartões de visita com o nome, endereço e um credo: “Entre dois produtos de igual qualidade e preço, o que tiver melhor aspecto venderá mais”. Mas ninguém parecia interessado nas propostas com sotaque estrangeiro daquele francês diplomado em Engenharia, mas que só havia desenhado croquis para revistas de moda. “Foi uma época de camas frias, refeições frias, chuvas frias e um monte de aspirinas”, conta ele, talvez com alguma hipérbole, em suas memórias.
Em plena crise de 1929, a sorte bateu à porta de seu quarto em Manhattan na pele de Sigmund Gestetner, um inglês gordinho e míope, dono de uma fábrica de copiadoras. O modelo que Gestetner produzia era barulhento e sujava com facilidade. O mecanismo exposto fazia com que parecesse confuso e os operadores viviam tropeçando nos estranhos pés compridos da engenhoca.
Com o prazo de três dias para desenvolver um novo protótipo, Loewy começou por eliminar do aparelho as protuberâncias inúteis, diminuiu as manivelas e alojou todo o mecanismo dentro de um móvel liso, de fácil manutenção. Sem tempo para mandar executar a maquete em aço, fabricou-a ele mesmo em argila, como um escultor. Com o passar dos anos, aperfeiçoaria o método, trabalhando com gesso, isopor e plástico. A rigor, Loewy realizara apenas uma cirurgia cosmética no mimeógrafo de mister Gestetner. Mas, ao simplificá-lo, tornando o conjunto harmônico e funcional, deixou-o mais prático e sem dúvida mais atraente. O novo modelo, como seu autor previra, foi um sucesso de vendas. O público comprou a decisiva mensagem implícita na criação de Loewy: equipamentos de aparência simples certamente são simples de usar. Nascia o desenho industrial, voltado originalmente para a conquista dos consumidores americanos, duramente golpeados pela recessão econômica, mediante a sedução das formas. E a forma por excelência que Loewy tinha em mente eram as linhas elegantes, alongadas, em fluxo, do traçado aerodinâmico. Era a face futura de um mundo em constante aceleração, a sintaxe visual dos quadrinhos de Flash Gordon e Buck Rogers.
De olho nas grandes corporações e esperando realizar um sonho de infância, Loewy procurou o presidente da Pennsylvania Railroads, uma das mais ricas ferrovias particulares do país. Entrou querendo projetar fantásticas ferrovias, saiu com uma oferta para desenhar novas latas de lixo para a Estação Central de Nova York. Durante três dias, ficou espiando o comportamento de viajantes e funcionários e aprontou um modelo prático, fácil de limpar, barato e discreto. Tendo conquistado a confiança da empresa, pouco depois podia ser visto encarapitado sobre um trem a toda a velocidade, testando com bandeirinhas a resistência do ar. Suas idéias baseavam-se invariavelmente nos princípios da simplicidade e da lógica. Nas locomotivas que viria a projetar, por exemplo, as chapas de ferro fundido, habitualmente fixadas com arrebites, eram substituídas por uma única peça soldada.
Dotada dessa carapaça, a máquina ganhava velocidade e sua manutenção ficava mais econômica. De quebra, ele modificou toda a concepção interna dos vagões, para torná-los mais funcionais e confortáveis. Resultado: em um ano o movimento da Pennsylvania Railroads aumentou quase 40%. Loewy desenhou cerca de vinte locomotivas, entre elas a S1, de 1938, considerada a mais bela do mundo. Capaz de ir além de 200 quilômetros por hora, dispunha de um único farol central — o que lhe valeu o apelido de “Cíclope” — e um desviador de fumaça, tudo para facilitar a visão do maquinista. Loewy amava a velocidade. Com enorme prazer, desenvolveu alguns de seus melhores projetos para a indústria automobilística. A moda tradicional de carros altos, de linhas retas e pára-brisa vertical, ele contrapôs pára-brisa inclinado, carroceria rebaixada, pára-choques e faróis incrustados nos pára-lamas de linhas alongadas. “Os automóveis devem ser considerados obras de arte, que tem ao mesmo tempo valor prático e estético. Sobretudo, devem proporcionar conforto e sensação de liberdade”, pontificava. Seu carro ideal, no entanto, surgiria apenas durante a Segunda Guerra Mundial, quando Loewy tinha já uma centena de funcionários sob suas ordens em quatro escritórios nos Estados Unidos (o principal apropriadamente instalado em um arranha-céu da Quinta Avenida, em Nova York) e outro na Inglaterra.
Em 1942, às portas da falência, a indústria de automóveis Studebaker apostou todas as fichas que lhe restavam em um modelo para quando a guerra acabasse — e deu carta branca a Loewy para concebê-lo. Sem a menor idéia de qual seria o gosto do público americano no incerto futuro de paz, limitou-se a buscar o produto que considerava perfeito: um veículo que pesasse o mínimo, desse aos passageiros o máximo de visibilidade, parecesse estar em movimento mesmo quando parado e fosse, ainda, confortável e espaçoso, elegante e refinado no conjunto.
Surgiu assim o Studebaker Commander, um produto sob medida para uma América que saía da guerra mais orgulhosa, mais rica, mais consumista e mais ostentatória do que nunca. Durante quase duas décadas, o Studebaker influenciaria a concepção dos novos modelos fabricados em Detroit — embora Loewy torcesse o nariz ao festival de cromados que infestava as carrocerias. Muito antes de se tornar uma celebridade pública, com a indispensável chancela da revista Time, que lhe inflou o ego com uma reportagem de capa em 1949, Loewy permitia-se todos os luxos que o dinheiro pode comprar. Ainda nos anos 30 era dono de um apartamento em Manhattan, uma vila na Côte d’Azur, sul da França, e um castelo nos arredores de Paris, onde recebia a crème de la crème dos grã-finos europeus. Profissionalmente, concorrendo com designers de primeiríssimo time, como Henry Dreifus, Normal Bel Geddes e Walter Dorwin Teague, tinha sobre eles a vantagem da inigualável habilidade em pensar naquilo em que ninguém havia pensado antes e em transformar o pensamento em dinheiro. Idéia original foi a metamorfose da Coldspot, um dos primeiros modelos de geladeira doméstica, comercializada nos anos 30 pela Sears. Era um trambolho grandão a se equilibrar sobre pernas magras e muito altas. Painéis e molduras sem graça e uma maçaneta de má qualidade completavam o desajeitado conjunto. “Um armário para sapatos”, fulminou Loewy. Como se não bastasse a feiúra, as prateleiras, confeccionadas com fios de aço e montadas à mão, acabavam enferrujando. Loewy estudou o problema e começou a resolvê-lo — pelo exterior, como sempre.
Mais uma vez, eliminou os pés inúteis, substituindo-os por uma gaveta, o que não só aumentou a capacidade da geladeira como ainda eliminou o inconveniente de limpar essa área de difícil acesso. A maçaneta foi trocada por outra, elegante como a dos carros de luxo. A porta foi redesenhada de modo a produzir um som que indicasse estar hermeticamente fechada. Em seguida, Loewy mandou fazer prateleiras das mesmas chapas de alumínio perfurado usadas na fabricação de automóveis, à prova de ferrugem.
Fazer dinheiro com uma idéia original consistiu em projetar no ano seguinte um novo modelo, alterando apenas algumas linhas do anterior, e em repetir a dose no ano seguinte. A essa tacada comercial ele chamou “melhoria constante”, um conceito até então desconhecido da indústria. Com ele, produtores e vendedores podiam provocar no consumidor o desconforto de achar que o seu exemplar estava ficando obsoleto, incentivando-o assim a trocá-lo por outro, aparentemente melhor. A Coldspot, a propósito, saltou de 60 000 para 275 000 unidades vendidas por ano. Está aí provavelmente a certidão de nascimento da chamada sociedade de consumo. “Não há linha mais bela do que a da progressão nos gráficos de vendas”, escreveu o desenhista.
Muita gente boa do ramo não rezava por esse cartilha. Dizia-se que Loewy traçava seus projetos com um olho na prancheta e outro na caixa registradora — o que sem dúvida era verdade. As críticas mais contundentes procediam da velha Europa. Com suas origens na revolucionária escola alemã Bauhaus de um lado, e na Revolução Soviética, de outro, o desenho industrial europeu cresceu alimentando-se de ideologias de forte conteúdo social. Para seus praticantes, Loewy representava uma detestável manifestação do design capitalista americano. Não se pode dizer que ele tivesse ficado com insônia por isso. Em todos os seus projetos, obedecia ao credo de que o feio vende mal e que belo e funcional são faces da mesma moeda. Daí por que nenhum de seus trabalhos contém traços desnecessários ou componentes supérfluos. “O talento de um criador se traduz na sua capacidade de alcançar a simplicidade”, ensinava. “Mas o verdadeiro estilo tem personalidade definida e os objetos que o possuem parecem ter vida própria.” Tinha faro invejável também para os humores do público. Durante a guerra, quando havia escassez de metais, lançou um batom numa embalagem caleidoscópica de cartolina — “modesta contribuição para levantar o moral da mulher americana”. Nos maços de cigarros Lucky Strike, trocou o fundo verde que imitava a camuflagem de combate, soltava tinta e parecia velho, pelo branco, luminoso e asséptico, sobre o qual aplicou a marca, em preto, dentro de um círculo sanguíneo.
Uma de suas preocupações principais no trabalho era justamente a escolha das cores. Loewy sabia que cada uma exerce um efeito próprio sobre as pessoas e as utilizava em função disso. Quando a Air France o procurou para ver como ele podia diminuir a sensação de aperto causada pela estreiteza da fuselagem do supersônico Concorde, mandou pintar uma larga faixa preta no interior do aparelho, criando com isso um efeito psicológico de evasão. Ele sabia muito sobre muitas coisas mais. Quando a NASA pediu sua contribuição para o desenho do laboratório espacial Skylab, no começo dos anos 70, decretou que cada tripulante precisaria ter uma área própria onde pudesse se isolar oito horas por dia e que a tripulação deveria fazer as refeições em conjunto. Recomendou ainda que uma grande escotilha fosse colocada nas paredes da cápsula, para que os astronautas pudessem ver a Terra. De volta do espaço, eles disseram que, sem as sugestões de Loewy, não teriam suportado a viagem.
Seu prestígio era grande no Japão, terra de um design todo particular, onde foi consultor de indústrias em reconstrução no pós-guerra. Milionário, boa vida, arauto do capitalismo, era recebido de braços abertos na União Soviética para projetar desde câmeras fotográficas a tratores. Os únicos objetos em que jamais quis pôr o signo de sua inventividade foram as armas. “O objetivo do desenho industrial é melhorar a vida das pessoas, não destruí-la”, explicava. Encarnação do sonho americano, morreu aos 93 anos em Mônaco, onde mantinha uma de suas muitas propriedades suntuosas. Conservara o mesmo bigode e o mesmo peso de quando jovem, este à custa de um implacável regime. Só lamentava não ter inventado aquela que julgava a forma mais perfeita do mundo — a do ovo.
Para saber mais:
(SUPER número 1, ano 2)
A busca do design brasileiro
Quando chegava ao Palácio Buckingham e se as conveniências reais permitiam, Lord Snowdon, o fotógrafo Tony Armstrong-Jones, então marido da princesa Margaret, não deixava de praticar um de seus rituais prediletos: sentar-se na poltrona Sherriff, como era conhecido na Inglaterra o móvel aconchegante, em couro e jacarandá, criado em 1957 pelo arquiteto carioca Sérgio Rodrigues, pioneiro na iniciativa de fazer, nas formas e nos materiais, um mobiliário genuinamente brasileiro. A “poltrona mole” de Rodrigues valeu-lhe um importante prêmio internacional e transformou-se na glória do design nacional. Na verdade, o movimento inicial nessa direção data do fim dos anos 20, quando o arquiteto russo Gregori Warchavchik concebeu os móveis da Casa Modernista, em São Paulo, também projetada por ele, a primeira realização do gênero no país.
Logo depois da Segunda Guerra Mundial, estimulado pelo italiano Pietro Maria Bardi, fundador do Museu de Arte de São Paulo, um grupo de europeus, entre eles Carlo e Ernesto Hauner, Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti, também se preocupou em criar um design brasileiro.
Mas só em 1958, também em São Paulo, foi montado o primeiro escritório de design, o Forminforn. Até então, quase todos os trabalhos estavam limitados ao mobiliário e, embora produzidos por fábricas, não se ajustavam aos critérios da produção industrial em série, em larga escala. e com preocupações como funcionalidade e custo.
“Em qualquer lugar, a profissionalização só começa quando tem início o ensino”, diz um dos fundadores da Forminforn, o alemão Karl Heinz Bergmiller, por sinal uma das figuras centrais da pioneira Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), do Rio de Janeiro. No entanto, apenas a partir de 1973, quando o governo passou a favorecer as exportações de manufaturados e os produtos brasileiros tiveram de concorrer no mercado internacional, o design passou a ser visto pela indústria como fator importante nos negócios. Esse interesse gerou a procura de designers. Resultado: as 26 escolas de Desenho Industrial fundadas no país já formaram cerca de 5 000 profissionais.
“Ainda assim, o design brasileiro nasceu e permanece ligado ao mobiliário”, ressalva o diretor da ESDI, Pedro Luís Pereira de Souza.
De todo modo, algumas indústrias de eletrodomésticos, de metais de banheiros, de luminárias e de talheres também vêm fazendo incursões pelo design industrial — e com resultados animadores. O único produto brasileiro incluído no acervo permanente do Museu de Arte Moderna (MOMA), de Nova York, é um conjunto de talheres para camping, fabricado pela Zivi-Hércules. A grande sacada está no cabo da faca, onde duas abas laterais formam um vão para encaixar os cabos do garfo e da colher. Se o design de produtos made in Brasil ainda está decolando, o design gráfico já voa alto. Logotipos, cartazes, embalagens e outros símbolos visuais têm conseguido estabelecer atraente relação entre a imagem e a identidade de empresas e mercadorias. Isso vale tanto para bancos, por exemplo, quanto para produtos vendidos em supermercados. Nesse campo, o design gráfico brasileiro já alcançou a maioridade.
Na fronteira da obra de arte
Se nos Estados Unidos o desenho industrial surgiu associado a uma industrialização rápida e desenfreada, na Europa resultou de postulados sociais e culturais ligados aos movimentos artísticos do começo do século. Isso não impediu que surgissem designers europeus voltados para as máquinas. É o caso, entre muitos outros, do suíço Paul Jaray, que concebeu o Zepellin ainda nos idos de 1914, de Ferdinand Porsche, criador do Volkswagen e do carro que leva o seu nome, e do italiano Battista Pininfarina, que fundou em 1930 aquele que viria a ser o mais importante centro de desenho de carrocerias do mundo.
Dos atuais designers europeus, o francês Philippe Starck é o mais influenciado por Raymond Loewy. Como este, defende um desenho simples e despojado. O interior de uma casa projetada por ele parece nu. Ilusão de ótica: o telefone, as mesas, as gavetas, os armários estão todos escondidos numa superfície aparentemente lisa.
“Sou partidário do rigor, da economia de gessos e de materiais”, define-se. Responsável pela impecável programação arquitetônica das salas de conferências da Cidade da Ciência La Villette, na periferia de Paris, Starck, ao contrário de Loewy, detesta automóveis. Seu prazer está em criar objetos na fronteira entre o funcional e a obra de arte, “cada vez mais úteis e cada vez menores”.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês
O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017 Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia
Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia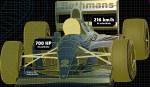 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


