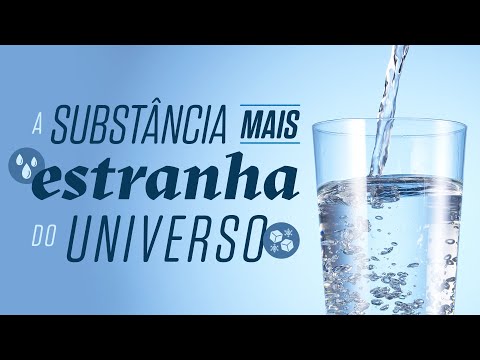A ciência do burnout: por que estamos tão cansados?
A síndrome do estresse crônico atinge 32% dos trabalhadores brasileiros. É reconhecida pela OMS desde 2019, mas o diagnóstico ainda é difícil. Entenda suas causas – e por que o autocuidado não basta para combater essa epidemia de esgotamento.

a década de 1970, a psicóloga Christina Maslach, da Universidade da Califórnia, estudou como as pessoas lidavam com emoções intensas no trabalho. Para isso, ela entrevistou diversos tipos de profissionais, a começar pelos que atuavam em ambientes de alta pressão, como policiais e médicos de pronto-socorro.
Quando as conversas chegavam ao fim, muitos dos entrevistados pediam um tempinho extra. “Posso te contar mais uma coisa? Posso falar sobre um outro assunto?”, diziam os voluntários. Em seguida, desabafavam sobre como se sentiam exaustos, desanimados, estressados e desconectados do trabalho. O emprego, antes uma fonte de satisfação, parecia ter perdido o sentido. Um fardo.
A cena se repetiu tantas vezes, e com profissionais de áreas tão diferentes, que Maslach decidiu mudar o foco da sua pesquisa para investigar esse desânimo generalizado. Mas ela não foi a única a se debruçar sobre essa condição.
Nascido na Alemanha, o psicólogo Herbert Freudenberger se refugiou em Nova York ainda criança, fugindo dos nazistas. Já com doutorado, fundou uma free clinic – consultório focado em atender, de graça, dependentes químicos (um serviço raro na sociedade americana do século 20). Era algo voluntário, que ele acumulava com seu próprio trabalho em uma jornada de 12 horas diárias.
Não era uma rotina saudável, claro. “Você se esforça muito no trabalho, sente um total senso de compromisso… até que finalmente se encontra, como eu, em um estado de completa exaustão”, escreveu Herbert sobre sua experiência. Outros voluntários da clínica também passaram a apresentar quadros de “depressão, apatia e agitação”. Os cuidadores haviam se tornado pacientes.
Para descrever o que ele e seus pares estavam sentindo, Herbert pegou emprestada uma gíria usada pelos dependentes químicos para explicitar o efeito devastador do abuso de drogas: “burnout”, que vem do verbo burn, “queimar”.
Era uma boa analogia. Assim como um fósforo que queimou até o final, os burnoutados se sentiam exauridos, esgotados. O primeiro artigo com o termo foi lançado em 1974. Dois anos depois, na outra ponta dos EUA, Maslach publicou seu estudo sobre o cansaço extremo relatado pelos profissionais, já usando a nova palavra.
A identificação com os sintomas foi imediata. “O artigo viralizou”, contou Maslach à revista Scientific American, em 2024. “As pessoas me ligavam e enviavam cartas dizendo: ‘Meu Deus, acabei de ler; pensei que eu era o único’.”

Nas décadas seguintes, por onde olhavam, os pesquisadores encontravam profissionais com burnout: médicos, enfermeiros, policiais, professores, bibliotecários. O esgotamento parecia onipresente. “Por que parecemos estar no meio de um fenômeno que se espalha rapidamente?”, indagou Freudenberger em 1980 (1).
Isso foi há 45 anos. Se na época o incêndio estava se espalhando, hoje já consumiu toda a sociedade: o brasileiro já incorporou o termo “burnout” como sinônimo de exaustão por excesso de trabalho. Por um lado isso é bom, pois aumenta a conscientização e diminui o preconceito sobre um tema que, por muito tempo, foi tratado como mera “frescura”.
Por outro, o uso descuidado da palavra pode banalizar o diagnóstico. O fenômeno, afinal, vai muito além do cansaço – e pode ocorrer mesmo com pouca carga de labuta.
Nos próximos parágrafos, vamos entender o que realmente é o burnout, quais são suas causas e consequências e como podemos combatê-lo. E também tentar responder à pergunta existencial levantada pelo criador do termo: por que, afinal, estamos todos tão cansados?
Faíscas
A ideia de que trabalhar demais adoece não é nova. Em 1869, o médico americano George Beard cunhou o termo “neurastenia” para descrever um estado de exaustão do sistema nervoso, caracterizado por cansaço e tristeza. O tratamento? Passar alguns dias na cama.
A neurastenia permaneceu por muito tempo no vocabulário médico. Mas era um termo genérico demais, sem critérios claros de diagnóstico e aplicado para condições diferentes.
Quando os primeiros artigos sobre burnout surgiram, nas décadas de 1970 e 1980, o diagnóstico parecia um promissor substituto para descrever os casos de adoecimento ligados ao trabalho. Mas demorou para que a comunidade científica chegasse a um consenso.
É que havia dezenas de definições distintas para o termo “burnout”, além de um sem-fim de critérios para diagnóstico. Alguns pesquisadores, inclusive, discordavam até da existência do fenômeno, argumentando que ele apenas descrevia sintomas genéricos. Com tanta imprecisão, corria o risco de o burnout ter o mesmo fim da neurastenia.
O debate chegou a uma conclusão em 2019. Naquele ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) finalizou o projeto da 11ª versão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11), a bíblia da medicina que guia os diagnósticos. O documento, que passou a valer em 2022, abandonou de vez o termo “neurastenia” (que já estava em desuso) e trouxe, pela primeira vez, uma descrição precisa do burnout – baseada, em grande parte, nos estudos pioneiros da professora Maslach.
“Burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso”, explica a CID-11. É uma frase rebuscada, sabemos. Mas vamos ajudar você a entendê-la.
A primeira coisa que se precisa saber é que burnout não é uma doença ou um transtorno, mas sim uma síndrome. Ou seja, um conjunto difuso de sintomas que não tem uma causa específica (como o vírus da gripe ou o desbalanço químico de um cérebro com depressão) nem um tratamento óbvio (como um antibiótico).
É normal confundir, já que o burnout costuma vir acompanhado de outras condições, como doenças cardiovasculares, depressão e problemas gastrointestinais. Mas o esgotamento é uma resposta do corpo a fatores externos: o burnout é um “fenômeno ocupacional” – está 100% ligado ao trabalho.
Isso significa que o termo não pode ser aplicado em outras esferas da vida, como vem acontecendo informalmente nos últimos anos graças à popularização do tema. Não se deixe levar pelo TikTok: “burnout digital”, “burnout da velhice” e “burnout conjugal”, por exemplo, são expressões imprecisas.
Segundo especialistas, generalizar o burnout prejudica o diagnóstico. Ainda que qualquer área da vida possa causar exaustão e esgotamento, a descrição da OMS delimita a raiz do problema. E isso é uma baita vantagem para o tratamento, como veremos adiante. Afinal, se esse é um fenômeno relacionado ao trabalho, é mais fácil rastrear o CPF (ou melhor, CNPJ) do culpado.
Por fim, e mais importante, é preciso compreender que a CID-11 enquadra o burnout como um quadro de estresse crônico. Mas o que isso significa exatamente?

Batata quente, quente…
Ana Maria Rossi, presidente da International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR), define o estresse como uma reação fisiológica a “uma situação que requer algum esforço de adaptação”. Repare que não há julgamento de valor: o contexto que leva ao estresse pode ser positivo ou negativo.
O estresse positivo é chamado de “eustresse” e estimula o indivíduo a atingir algum objetivo ou se adaptar a alguma mudança. Ter um filho, correr uma maratona ou ganhar uma promoção no trabalho são verdadeiros desafios, porém muito gratificantes. Já o estresse negativo, o chamado “distresse”, não traz dias de glória – só de luta.
“Os dois tipos despertam reações similares, mas mentalmente e emocionalmente são bastante diferentes”, diz Rossi.
Sob estresse, o corpo humano entra em estado de alerta e se prepara para lidar com alguma ameaça: os níveis de hormônios como cortisol e adrenalina disparam, o que faz a atenção aumentar e o batimento cardíaco acelerar. Na natureza, isso era ótimo para lutar ou fugir de predadores. No mundo corporativo, isso se torna um problema quando o predador é seu chefe e a caça é diária.
É impossível erradicar de vez o estresse negativo no trabalho – sempre haverá períodos ou demandas que exijam mais esforço. O problema é quando ele se torna permanente. Se há algum fator estressante no ambiente que não é resolvido por muito tempo, essa é a receita para o burnout brotar depois de alguns meses.
“Estresse crônico”, cá entre nós, ainda é um termo amplo demais. Felizmente, a definição não para por aí: um quadro de burnout apresenta sempre três dimensões distintas. Não são sintomas ou fases da síndrome, mas sim características inerentes a ela.
A primeira dessas dimensões é a exaustão – a faceta mais marcante do burnout, a ponto de os dois terem virado quase sinônimos na internet. Trata-se de um tipo de cansaço que vai além do físico e não passa mesmo se você descansar bastante. Freudenberger, por exemplo, relatava que estava tão exausto que nem sequer conseguia dormir direito.
A segunda dimensão do burnout é o cinismo, um termo que descreve a indiferença e o descaso que o indivíduo passa a sentir pelo trabalho. Com o tempo, o problema pode evoluir para um quadro de desprezo completo, ódio e repulsa – o famoso ranço. Essa característica também é conhecida como “despersonalização”, porque um burnoutado passa a tratar colegas e clientes com desdém.
O último fator decisivo para o burnout é a queda de eficácia. Um trabalhador cronicamente estressado produz menos e se sente mais culpado e menos realizado por isso. Essa faceta deixa claro que o problema também precisa ser levado a sério pelas empresas.
O foco do incêndio
O que causa o burnout? Não há uma resposta única. Em tese, qualquer coisa estressante e duradoura no trabalho pode levar a culpa – desde a falta de equipamentos adequados até um ambiente barulhento e caótico.
Maslach e outros pesquisadores, contudo, identificaram seis componentes centrais que parecem ter relação direta com as chances de o problema aparecer. Os “fatores de risco” são descompassos entre o que o trabalho exige e o trabalhador pode (ou quer) oferecer.

O primeiro desses vilões é o mais óbvio: a carga de trabalho. A labuta em excesso é um problema global, que extrapola os limites da saúde mental. Segundo um estudo da OMS e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), jornadas com mais de 55 horas semanais contribuem para até 715 mil mortes por ano devido ao risco aumentado de ataques cardíacos e derrames. (2)
O trabalho em demasia costuma ser o único fator lembrado nos debates sobre o burnout. De fato, é importante – mas é preciso cautela. Há outras causas menos óbvias por trás do estresse crônico que não dependem do tamanho da jornada.
O segundo fator de risco diz respeito a relações tóxicas no ambiente de trabalho. Assédio moral e sexual, bullying e exclusão podem tornar mesmo um expediente de meio período num inferno.
O terceiro desajuste é a falta de liberdade. Quando o profissional não tem controle sobre o próprio ofício e autonomia para exercer sua criatividade, a atividade vira uma mera reprodução de ordens. O trabalho se torna algo mecânico e repetitivo – um convite à desconexão do empregado.
A quarta e a quinta causas do burnout são parecidas: falta de incentivos e senso de injustiça. Quando não há recompensa pelo esforço do trabalhador – ou pior, quando ele sente que os incentivos são distribuídos de forma desigual (alô, filho do chefe que pode chegar atrasado) –, o estresse pode se instalar mesmo sem muita carga de trabalho.
O sexto e último desajuste é algo chamado genericamente de “incompatibilidade de valores” entre o colaborador e a empresa. Em outras palavras, é como se a pessoa sentisse que o trabalho não combina com ela.
A falta de match pode acontecer tanto por questões éticas quanto pelo modelo de negócios. Um ambientalista trabalhando numa empresa de combustíveis fósseis certamente sentirá um desconforto constante. Pode ser também porque o trabalhador se considera qualificado demais para a função que exerce. De uma forma ou de outra, o trabalho não traz nenhum prazer. Só estresse.

Tá pegando fogo, bicho
Nos últimos 50 anos, a maioria das pesquisas que investigaram o burnout foi feita entre profissionais que lidavam diretamente com o cuidado de terceiros – da área da saúde e da educação, por exemplo. Alguns estudos estimaram que até 80% dos médicos sofriam de burnout. (3) Por isso, acreditou-se por muito tempo que essas ocupações eram mais suscetíveis à síndrome.
De fato, profissões que envolvem o contato direto com pessoas deixam mais evidente a segunda dimensão da síndrome, o cinismo. Já nas primeiras descrições, Herbert Freudenberger notava que os funcionários da sua clínica, antes empáticos, passavam a tratar os pacientes com desprezo.
Hoje, porém, sabemos que o burnout independe da profissão: qualquer um está sujeito a ele. O que muda é a facilidade de percebê-lo.
A psicologia já identificou alguns traços de personalidade mais suscetíveis ao estresse crônico – pessoas com alto grau de perfeccionismo, introversão ou neuroticismo (instabilidade emocional), por exemplo. Mas não faz muito sentido se prender a isso. De novo: as causas do burnout são sempre ambientais. Não cabe jogar a culpa no indivíduo.
Ainda que o burnout seja algo exclusivamente ocupacional, o estresse da rotina também pode contagiar. Prova disso é o padrão que aparece há décadas nos estudos sobre a síndrome: o de que a maior prevalência está entre as mulheres. (4) São elas, afinal, que acumulam tripla jornada com maior frequência. Além do trabalho, acabam ficando com a maior carga de afazeres domésticos e do cuidado dos filhos e de outros familiares.
Outra conclusão recente da ciência é que o burnout pode ser “contagioso”. Não que ele passe de uma pessoa para outra que nem conjuntivite. Mas é que ambientes estressantes raramente adoecem uma única pessoa. E há um efeito dominó na jogada: se a produtividade de alguém (ou de algum grupo) esgotado cai, é bem provável que a carga de trabalho de outras pessoas aumente, impulsionando um fator de risco para a síndrome. Isso já foi observado na prática entre enfermeiros e professores. (5)
Onde há fumaça…
Se você leu todos os sintomas e situações até aqui e pensou: “Isso é tão eu!”, calma lá. Nada de autodiagnósticos. A conclusão só pode ser feita por psicólogos e psiquiatras. Não há um exame único: é necessário identificar as três dimensões da síndrome, sempre ligadas ao ambiente de trabalho, e descartar outras condições, como depressão e ansiedade.
É um diagnóstico difícil. Os sintomas do burnout em si são muito variados e podem incluir, além da exaustão característica, dores no corpo, tontura, falhas na memória, enjoos, insônia, apatia generalizada, confusão mental, irritabilidade e outros. Mas há alguns protocolos que norteiam o processo.
O mais famoso deles é o questionário Maslach Burnout Inventory (MBI), desenvolvido em 1981 e atualizado diversas vezes desde então. Funciona assim: o paciente responde com qual frequência ele passa por uma série de situações relacionadas ao trabalho. No final, calcula-se uma pontuação. Se ela passar de um certo limite, há um indício de quadro de burnout.
Importante: apenas profissionais de saúde podem aplicar e interpretar o MBI, que é pago. Mas você pode ver alguns exemplos de perguntas do teste no quadro abaixo.

Identificado o problema, chega a hora de tratá-lo. Mas como? “Ainda não existe um ‘padrão-ouro’ bem estabelecido em clínica”, diz Anelisa Vaz de Carvalho, doutora em Psicologia pela USP e organizadora do livro Terapia Cognitivo-Comportamental na Síndrome de Burnout. A solução, então, precisa ser pensada caso a caso.
A psicoterapia pode ajudar um indivíduo a lidar melhor com o estresse, estabelecer limites no trabalho, aumentar sua estabilidade emocional e desenvolver mais empatia. Mas as sessões, sozinhas, não revertem a síndrome.
Gurus do LinkedIn adoram dizer que autocuidado basta para prevenir ou vencer o burnout. Meditações, caminhadas, hobbies, exercícios de respiração, manter um diário. São bons hábitos, de fato, mas que não resolvem o problema. “Tratar apenas o indivíduo é paliativo – melhora sintomas, mas o efeito é limitado e temporário se o ambiente continuar tóxico”, diz Anelisa.
Uma solução mais definitiva, então, seria adotar mudanças organizacionais no trabalho, identificar e eliminar os fatores estressantes, algo comprovadamente eficaz. (6) Parece um pouco ingênuo esperar isso das empresas, é verdade. Mas os CEOs que não se preocupam com isso estão dormindo no ponto. O burnout está ligado à maior quantidade de faltas, de rotatividade nos cargos e de algo chamado presenteísmo – os funcionários até aparecem para trabalhar, mas a produtividade é pífia (7).
Um estudo calculou que o estresse crônico custa, por ano, entre US$ 4 mil e US$ 21 mil por funcionário para empresas americanas. (8) Isso significa que, nesse período, uma companhia com mil trabalhadores perde US$ 5 milhões por causa do burnout.
O fogo se alastra
Tudo o que escrevemos até agora leva em conta a definição da OMS sobre burnout, que tem maior aceitação na comunidade acadêmica. Mas vale ressaltar que, até hoje, há discordância entre cientistas sobre o tema.
Alguns acreditam que essa síndrome deveria ser classificada como um tipo de depressão, não como um fenômeno à parte (9). O burnout, diga-se, ainda não está no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), publicado pela Associação de Psiquiatria Americana e usado em muitos países, inclusive o Brasil.
Apesar de estudado há 50 anos, o termo ainda é relativamente novo – pesquisas futuras podem fazer com que o conceito mude. Mas, enquanto especialistas quebram a cabeça sobre a definição da síndrome, há um outro debate paralelo de igual importâcia, porém de viés mais sociológico: será que vivemos numa espécie de “epidemia de burnout”?
A ideia de que estamos numa “era do cansaço” se popularizou nos últimos anos – principalmente na pandemia, quando, por uma série de motivos, todo mundo se sentiu exausto. A procura no Google pelo termo disparou, quase na mesma época em que a OMS reconheceu a condição.
Essa é uma questão complexa. Longas e exaustivas jornadas de trabalho, afinal, existem desde que o mundo é mundo. É possível que o burnout sempre tenha estado presente como um inimigo invisível, jogado para debaixo do tapete ou classificado com outros termos mais genéricos – e que, só agora, somos capazes de identificá-lo com mais precisão.
Por outro lado, há características inerentes do nosso tempo que transformaram o mundo do trabalho. A hiperconectividade é uma delas: é difícil encerrar o expediente quando o trabalho pode ser levado para casa. Os operários da Revolução Industrial trabalhavam do nascer ao pôr do sol – mas não recebiam mensagem do chefe no WhatsApp.

O problema neste debate é que é difícil medir os níveis efetivos de burnout na população, por vários motivos. Um deles é que o próprio diagnóstico só ganhou diretrizes claras há pouco tempo. O segundo é que muitas pesquisas são feitas com base no autorrelato: pergunta-se para pessoas se elas se sentem com burnout. Isso costuma criar estatísticas imprecisas, já que os participantes não necessariamente sabem o que é, realmente, a síndrome.
Um dado mais objetivo é o volume de afastamentos do trabalho por burnout, contabilizados no Brasil pelo INSS. O número saltou de 41 em 2014 para 421 em 2023, um aumento de quase 1.000% em uma década [veja no gráfico acima]. Mas ainda é uma gota em relação aos 288 mil brasileiros afastados por causa de transtornos de saúde mental em 2023.
Por que ainda há poucos diagnósticos de burnout? O principal motivo é que, para fins de perícia legal, médicos só podem dar o veredito após visitar o local de trabalho e estabelecer uma relação de causa e efeito entre o ambiente e o estresse – algo raro de acontecer.
O resultado é que o burnout provavelmente é subdiagnosticado. Muitos dos outros afastamentos por saúde mental podem, na verdade, ter o estresse crônico como principal culpado.
Outro jeito de calcular a prevalência do burnout é utilizar estimativas com base em estudos de grupos específicos (enfermeiros, por exemplo) e, a partir daí, tentar adaptá-las para a população em geral.
A International Stress Management Association estima que mais de 70% dos trabalhadores brasileiros sofrem com estresse em algum nível, e que 32% da população economicamente ativa tem sintomas de burnout.
A Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) tem um número parecido: 30%. Mas é preciso cautela com pesquisas do tipo. Quando o teste MBI é aplicado em grupos específicos, o número de pessoas que pontua mal nas três frentes do burnout é de 10% a 15%. Outros 30% não apresentam nenhum indício da síndrome.
Beleza. Mas ainda falta definir onde os 55% restantes se encaixam. São pessoas que, segundo os resultados do MBI, apresentam fatores de preocupação – algo como um “pré-burnout”.
Num artigo recente, a pioneira em estudos sobre burnout Christina Maslach propõe que sejam criadas novas classificações para esses profissionais: quem apresenta uma alta exaustão, mas não cinismo ou ineficácia, se encaixa na categoria “sobrecarregado”. Alto cinismo caracteriza um perfil “desengajado”, enquanto o sujeito “ineficaz”, como o nome deixa claro, é o de baixa produtividade (seja qual for a razão). (10)

Um balde d’água
Mesmo que pesquisas de prevalência e classificações de testes de burnout ainda não sejam muito precisas, o fato é que a síndrome é um problema generalizado – e já se mostrou uma característica fundamental do nosso tempo.
No livro A Sociedade do Cansaço, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han defende que “cada época possui suas enfermidades fundamentais”. Os antibióticos colocaram fim à era das bactérias; as vacinas, à dos vírus. O século 21, por sua vez, é marcado pelo esgotamento profissional e outros transtornos de ordem mental.
Na mesma linha, a jornalista americana Anne Helen Petersen, do best-seller Não Aguento Mais Não Aguentar Mais, popularizou a ideia de que os millennials são a “geração do burnout”. Ela traz bons argumentos: o mercado de trabalho mudou radicalmente após a crise de 2008, justamente quando os millennials estavam começando suas carreiras. Companhias passaram a operar na lógica de corte de custos permanente, e a pejotização e a cultura dos freelancers ganhou força. Isso gera um mercado mais instável, propenso ao estresse.

A crescente discussão sobre burnout pode levar a mudanças concretas: no Brasil, por exemplo, há uma intensa campanha para extinguir a escala 6 por 1, e a proposição está sendo discutida no Parlamento. Em países mais ricos, o debate está um passo à frente: há propostas de se adotar a semana útil de quatro dias, com um final de semana de três, sem alterações no salário.
Imagine só, um feriadão por semana. Parece um sonho distante, mas algumas companhias já vêm testando o modelo, e há estudos científicos sobre o assunto. O mais recente e completo deles analisou dados de mais de 3 mil trabalhadores em 141 empresas e concluiu – quem diria – que a jornada mais curta está ligada a um maior bem-estar dos colaboradores e a um menor nível de burnout.
E antes que o patrão reclame: o estudo mostrou que as novas rotinas não refletem em perdas para as empresas – desde que, claro, a mudança seja acompanhada de uma reorganização de tarefas e processos para manter a produtividade. (11)
Há quem diga que uma das descrições mais antigas do burnout está na Bíblia. No Antigo Testamento, quando Moisés diz a Deus: “Não posso levar todo esse povo sozinho; essa responsabilidade é grande demais para mim”. Talvez seja forçar um pouco a barra… mas a passagem de fato mostra como a luta contra o cansaço é milenar – e talvez seja impossível ganhar essa batalha de vez. Contudo, isso não significa que devemos apenas aceitar o estresse como regra, não exceção. Se até o Todo-Poderoso descansou no domingo, você também pode desligar por dois dias (ou, quem sabe, três).
Colaboraram na reportagem: Pedro Shiozawa, professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e Carol Milters, autora de Minhas Páginas Matinais: Crônicas da Síndrome de Burnout e idealizadora do grupo Burnoutados Anônimos.
Fontes: (1) livro Burn Out: The High Cost of High Achievement; (2) artigo “Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016”; (3) artigo “Prevalence of Burnout Among Physicians: A Systematic Review”; (4) artigo “Gendered Pathways to Burnout: Results from the SALVEO Study”; (5) artigo “‘Burnout contagion’ among teachers: A social network approach; (6) artigo “Controlled Interventions to Reduce Burnout in Physicians: A Systematic Review and Meta-analysis”; (7) artigo “Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: A systematic review of prospective studies”; (8) artigo “The Health and Economic Burden of Employee Burnout to U.S. Employers”; (9) artigo “Examining the evidence base for burnout”; (10) artigo “Latent burnout profiles: A new approach to understanding the burnout experience; (11) artigo “Work time reduction via a 4-day workweek finds improvements in workers’ well-being”.


 Especialistas assinam documento de Senciência em Crustáceos, que afirma que esses animais sentem dor
Especialistas assinam documento de Senciência em Crustáceos, que afirma que esses animais sentem dor O mito confortável das múltiplas inteligências
O mito confortável das múltiplas inteligências Seu nome está no ranking? Saiba como explorar a nova plataforma Nomes do Brasil
Seu nome está no ranking? Saiba como explorar a nova plataforma Nomes do Brasil Infográfico: em qual mês nascem mais pessoas no Brasil?
Infográfico: em qual mês nascem mais pessoas no Brasil?