O dia em que meu cérebro apagou
Na véspera de ano-novo, um coágulo bloqueou o fluxo sanguíneo entre as duas metades do meu cérebro, provocando um AVC. Dali em diante, minha vida jamais seria a mesma

Recebi uma sequência de estímulos – triângulos, céu, sons de cascalho, vento, a sensação de pano no meu corpo. Eu não conseguia entender nada. Eu não sabia que aqueles triângulos eram árvores, o som vinha dos pneus de um carro, o tal pano era a minha jaqueta, e os meus braços eram aquelas coisas conectadas a outras coisas, chamadas mãos. Havia cores e formas e som e tato, mas minha mente não conseguia compreender nada daquilo. Foi assim que me senti durante o meu derrame cerebral: como se eu estivesse me separando de mim mesma. Aconteceu em 31 de dezembro de 2006. Eu tinha 33 anos. Eu ainda não sabia, mas um coágulo sanguíneo vindo da artéria aorta tinha entrado no meu cérebro. Uma parte do hemisfério esquerdo, que é responsável pela linguagem, lógica e raciocínio, sufocou e morreu. E o hemisfério direito, responsável por criatividade, intuição e emoções, não conseguia se comunicar com o outro lado. Números viraram rabiscos, as cores perderam seus nomes, a comida perdeu o sabor, a música não tinha melodia. “Isso é lindo. Mas eu estou tonta, e minha cabeça dói”, pensei.
“Eu preciso sentar”, consegui dizer. Eu ainda não tinha perdido a fala. Eu estava no meio de um estacionamento. “Eu vou entrar, você me espera aqui”, meu marido disse, e entrou na loja. Mas ele saiu sem comprar nada. “Vamos voltar.”
Meus pensamentos cessaram. Meu cérebro ficou escuro. Escuro. Até hoje, por mais que eu tente, não consigo me lembrar daquela volta para casa. Eu estava cansada, e tirei um cochilo [nota: não é recomendado dormir durante ou logo após um derrame cerebral]. Eu sonhei que me perdia nas montanhas. Eu sonhei que andava sobre um lago congelado. Eu sonhei que perdia os sapatos. Eu sonhei que perdia a voz. Quando acordei, horas depois, eu achava que tudo aquilo realmente tinha acontecido – que não era sonho. E eu não conseguia mais falar.
Nossos amigos tinham chegado para a festa de réveillon. Tudo o que eu conseguia fazer era sorrir e dizer “oi”. Só “oi”. Eu fiquei quieta, e eu nunca fico quieta. E eu nunca cochilo durante o dia. Eu tentei acompanhar a conversa dos meus amigos, mas as palavras eram rápidas demais, e o assunto mudava toda hora. Eu abria a boca, mas não conseguia formar as palavras. Saímos para jantar fondue. Não lembro se comi.
Já me perguntaram: como ninguém percebeu que eu estava tendo um derrame? Afinal, eu não estava diferente? Quando essa pergunta surge, meu marido e meus amigos olham para baixo. Eu estava esquisita, sim. Mas era réveillon. Meus amigos e meu marido estavam bêbados e alegres. Eu estava calada. Eles acharam estranho, mas não se preocuparam muito. Acharam que talvez eu também estivesse bêbada. E eu não tinha os sintomas clássicos de um derrame. Meu rosto não estava retorcido, minha fala não estava arrastada.
Eu não conseguia mais falar. Só conseguia dizer “oi”. Acharam que eu estava bêbada.
Dois dias após o derrame, nós voltamos para Berkeley (Califórnia). “Eu não estou me sentindo bem”, disse ao meu marido. “Vou ficar em casa, não vou trabalhar.” Nossa geladeira estava vazia, então fui ao mercado. Olhei as prateleiras, um borrão de cores e letras e formas. “Do que nós estamos precisando mesmo?” Eu não conseguia entender como as coisas se encaixavam, que eu ia precisar de pão para fazer um sanduíche, e carne. Eram só formas e cores e texturas. Aquele retângulo rosado era [só] um retângulo rosado. As latas de sopa e de legumes eram só cilindros metálicos. Eu saí com uma coisa: um vidro de molho de tomate. Eu peguei o molho porque já tinha comprado aquilo antes, conseguia ler o rótulo. Mas a gente não estava precisando de molho. Eu não lembro como paguei, se foi com dinheiro ou cartão. Eu só me lembro de estar sentada dentro do meu carro, segurando um vidro de molho, pensando em como voltar para casa. Eu não sabia como voltar. Comecei a dirigir. Se eu dirigir, eu vou chegar de alguma forma. Cada vez que eu pensava se virava à esquerda ou à direita, me sentia perdida. Não fazia ideia. Mas insisti. Toda vez que parava, eu reconhecia algo – uma árvore, uma casa, uma loja. Sabia que estava chegando.
Onde a lógica e a memória falharam, a intuição me guiou. Cheguei em casa.
E aí pensei, “preciso ir para um hospital”. Peguei o telefone e me perguntei: “Qual é mesmo o número do 911?” [número de emergência usado nos EUA]. Eu olhava para o telefone, e não conseguia saber qual tecla correspondia a qual número. Pensei em ligar para o meu marido. Mas eu também não me lembrava do número dele. Não me ocorreu olhar na agenda do celular. Resolvi discar um número qualquer, e falar com quem atendesse.
“Alô”, um homem disse.
“Oi!”, eu disse.
“Oi.”
“Quem está falando?”, perguntei.
“Aqui é o A-“, o homem começou a responder.
“Oh! Eu estava tentando falar com você! Eu esqueci seu número. Eu liguei este número, porque ele estava nos meus dedos.”
“Estou indo agora para casa”, ele respondeu.
A gente foi ao pronto-socorro, onde eu fiz uma tomografia cerebral. Apareceu um ponto escuro na imagem. “Nós vamos internar você, para fazer mais testes.”
Meu marido brincou, “precisamos chamar o Dr. House”. Adorei a ressonância magnética na manhã seguinte. Era tranquilo dentro do tubo, com os estalos da máquina [nota do tradutor: em máquinas do tipo, o ruído pode alcançar 120 decibéis, nível de um show de rock]. E aí um neurologista veio falar comigo. “Oi, Christine, a gente descobriu que você teve um derrame.”
“OK.”
“Um derrame no tálamo esquerdo.”
“OK.”
O tálamo é o miolo do cérebro. Cada metade dele é do tamanho de uma noz – e do tamanho do cérebro inteiro de uma iguana. Ele regula o sono e transmite sinais. Danos ao tálamo podem provocar coma permanente. Eu dormi. E dormi. E dormi. Eu não sonhava, passei meses sem sonhar. Ou talvez sonhasse, mas não me lembrava.
Quando estava acordada, eu tinha memória de 15 minutos – como a peixinha Dory, do desenho Procurando Nemo. Meus médicos disseram para eu anotar as coisas, com os horários, num caderno. Ele seria a minha memória.
Eu era a paciente mais jovem na ala de derrames – por décadas de diferença. Me apelidaram de 47, o número do meu quarto. Eu andava pelos corredores do hospital, carregando a minha sonda com Heparin (remédio anticoagulante). Eu perdi a noção do tempo. Um dia, meus amigos foram me visitar. Eles me cumprimentaram e disseram: “Você parece totalmente normal!”.
O neuropsiquiatra entrou no quarto.
“Olá.”
“Oi.”
“Você sabe quem eu sou?”
“Não.”
“Abra seu caderninho.” Eu abri.
“Que hora é agora? E a que horas você fez sua última anotação?”
“São 10h35. Ah! Eu conheci você 20 minutos atrás! Você é meu neuropsiquiatra.”
“Puuuutz… nossa”, meus amigos disseram.
Eu gostei dos meus dez dias no hospital. Foram tranquilos. Eu apreciei o silêncio. Eu dormi. Eu tinha enfermeiras favoritas. Eu não lembro os nomes delas, porque me esqueci de anotar. Quando eu voltei, o mundo veio com tudo para cima de mim. Eu tinha que pedir para meu marido desligar o rádio, não suportava andar de carro com o som ligado. Eu ficava de olhos fechados o caminho inteiro. Não aguentava os estímulos.
E, depois, eu dormia por horas.
Foi assim durante semanas. Para cada 15 minutos de interação acordada, eu tinha de dormir várias horas para me recuperar. Eu esquecia de comer. Não sabia nem fazer um sanduíche. Numa tarde, resolvi fazer um bolo (antes do derrame, eu fazia muitos bolos). Enquanto misturava a manteiga e o açúcar, o telefone tocou. Atendi. Esqueci do bolo. Sentei. Esqueci do telefonema. Liguei a TV. Levantei, me sentindo tonta. Por que estou tonta? Talvez não tivesse comido. Qual foi a última vez que comi? Não lembrava. Fui até a cozinha, tinha uma batedeira ligada. Quem deixou ligada? Tinha um livro de receitas aberto. Quem estava fazendo a receita? Devo ter sido eu, pensei.
Todas as horas do dia eram como o momento em que você acorda – e ainda não sabe onde está.
Os médicos me receitaram Lovenox e Coumadin. São remédios para afinar o sangue. O Lovenox era uma injeção na barriga – doía e deixava hematomas grandes. Como meu tálamo estava danificado, eu não conseguia controlar o choro. Toda noite, eu pegava a caixa com as seringas de Lovenox e levava até meu marido, chorando. “Está na hora da minha injeção”, eu dizia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Toda noite, ele me dava a injeção enquanto eu gritava como uma criança. E depois chorava meia hora. Eu não era eu mesma.
No dia 30 de janeiro [um mês após o derrame], abandonei o mestrado [em Letras]. Encontrei uma colega no campus, contei o que tinha acontecido. Eu não conseguia ler mais do que um parágrafo. “Vou tirar uma licença”, disse. “Queria eu ter um derrame como desculpa para os meus problemas de memória”, ela respondeu. A antiga Christine teria dito que isso foi rude. Ou que me magoou. A nova Christine ficou paralisada, sem conseguir responder. E aí eu fui para o meu carro e chorei.
Durante um mês, todas as horas do dia eram como aquele momento quando você acorda e ainda não sabe onde está ou que horas são. Mas eu era incapaz de me preocupar com o passado, ou com a incerteza do futuro. O Sol brilha, o vento bate no meu rosto, eu estou viva. É isso aí. As pessoas pagam muito dinheiro para viver assim. Viver no presente.
O coágulo passou por um buraco no meu coração. O buraco, mais precisamente uma fenda, é chamado de forame oval patente, ou FOP. Todo feto tem um furo no meio do coração, entre o lado esquerdo e o direito, porque ele obtém seu oxigênio do sangue materno, e não usa os pulmões para respirar. Quando nasce, o buraco se fecha. Mas, em 25% das pessoas, ele não fecha totalmente. Em alguns casos, o furo é grande e tem de ser tapado imediatamente [com cirurgia]. Em outros, passa despercebido. E aí você tem enxaquecas, ou falta de ar, como eu tinha.
Os médicos descobriram o furo, que causou meu derrame, fazendo um ecocardiograma e o teste da bolha. Eles me injetaram uma solução salina e observaram, por meio de um monitor, as bolhinhas viajando pelo corpo. Se meu coração fosse normal, as bolhas seriam filtradas pelos pulmões. Mas quando elas apareceram no lado esquerdo do coração, soubemos que eu tinha um FOP. Um mês depois, aconteceu de novo: outro coágulo sanguíneo passou pelo furo. Ele foi até minha cabeça, e parou no olho esquerdo. Fiquei com a visão afetada, e fui para o hospital. As enfermeiras se lembravam de mim. “Quarenta e sete!”
Uma semana depois, os médicos fecharam o furo. Usaram um amplatzer. É como um guarda-chuva bem pequenininho, que eles enfiaram pela minha artéria femural [na perna] até chegar ao coração. No meio do procedimento, meu coração parou, e o cardiologista teve que usar o desfibrilador. Meu coração surtou. Ele não queria ter seu buraco fechado. Não queria ser tocado. Eu sei disso porque o médico me contou.
“Você se lembra de alguma coisa?”, ele perguntou.
“Não.”
“Você estava acordada, conversando comigo”, ele disse.
“Ai meu Deus. O que eu falei?”
“Não se preocupe.”
Fiquei pensando se poderia ter revelado algum segredo. Mas aí constatei que eu não me lembrava dos meus próprios segredos.
Passei a noite no hospital, deitada de costas. Eu não podia me mexer até que a artéria femural cicatrizasse. De hora em hora, as enfermeiras iam me ver – e me encontravam encharcada de sangue. “Você se mexeu?”, perguntavam. “Não.” “Fique parada”, elas diziam, e durante a próxima hora eu sentia uma pressão horrível na perna, enquanto as enfermeiras se revezavam tentando estancar o sangramento. Fui melhorando, mas, se me forçasse muito, eu regredia. Ficava exausta, e tinha que passar dias de cama para me recuperar. Meu cérebro queria desligar, e me fazia dormir. Quando uma das minhas melhores amigas veio me visitar, ficamos acordadas até tarde, rindo. Depois, dormi quatro dias direto. Alguns amigos diziam que eu estava bem, estava exagerando. As pessoas de 30 e poucos anos se preocupam com carros, empregos. Eles não entendiam o que eu estava passando. Então procurei fazer amizade com idosos. Um deles me disse: “Encontre o significado da sua recuperação”.
No começo, eu só conseguia ler revistas de fofoca. Um mês depois, consegui ler o jornal. Seis meses depois, um conto do Haruki Murakami [escritor japonês]. Eu não me lembrava de nada depois, mas lia o máximo possível. Às vezes aguentava 15 minutos, às vezes uma hora. Eu escrevia o quanto conseguia. Muitas vezes, trocava as palavras. Relia o texto e não enxergava os erros. Percebi que não conseguia mais mentir. Logo, não conseguia escrever ficção. Então comecei a escrever a verdade. Criei um blog anônimo, onde falava sobre minha recuperação.
Me tornei introvertida. Aprendi a proteger minha energia. Aprendi a me cuidar melhor. Aprendi a dedicar meu tempo a coisas importantes, que me fazem bem.
No meio da cirurgia, meu coração parou. Ele não queria ser tocado.
A parte morta do meu cérebro nunca se recuperou, mas ele construiu novas conexões em volta. Voltei ao mestrado alguns meses depois. Queria terminar. Faltava uma última disciplina, e a tese. Meu orientador falou, “vamos pegar os contos que você já escreveu, juntar e apresentar como tese de conclusão do curso”. Eu terminei. Não me lembro de nada. Até hoje, colegas vêm falar comigo. “Lembra daquela conversa incrível que tivemos?” Sorrio e digo: “não lembro”.
Como o furo no meu coração foi tampado, consegui começar a fazer exercício. Comecei a correr e a fazer ioga. E as outras partes do meu corpo, incluindo minha infertilidade, sararam e se resolveram. Fiquei na melhor forma da minha vida, e aí engravidei. Tive o bebê, e desenvolvi uma severa depressão pós-parto. Meu marido e eu decidimos nos separar. “Acho que foi o seu derrame que mudou as coisas”, ele disse. Para mim, foi o caso extraconjugal que ele teve.
Eu percebi o momento em que eu voltei, 22 meses após o derrame. Estava dirigindo e decorei as placas dos carros. Fiquei em êxtase.
Muita coisa ainda está inacessível. Eu sei que tudo o que aconteceu ainda está no meu cérebro, guardado em algum lugar. Sei que o tálamo recupera e junta memórias, e que algumas dessas memórias aparecem mais tarde, como a sensação de déjá vu. Ou como quando, no meio da tarde, você se lembra de um sonho que teve na noite anterior, porque alguém está usando um lenço vermelho e isso lembra você do sonho em que perdia um lenço no mar bravo do Mediterrâneo. Boa parte da memória, eu aprendi, está conectada às emoções. Eu sei porque me lembro de dias marcantes da minha infância. Aquele dia, jogando bolas de neve, e não qualquer outro. Aquele Halloween, ouvindo meus pais gritarem, e não qualquer outro. Aquela viagem de avião para a Califórnia. Esqueci os nomes de todos os meus médicos exceto o do neurologista. Dr. Volpi. O que tem um olhar bondoso. Que foi o primeiro especialista a me atender no pronto-socorro. E que me disse que eu sofrera um derrame.
Christine Hyung-Oak Lee, 41 anos, é escritora. Este texto foi originalmente publicado, em inglês, no site BuzzFeed, e traduzido exclusivamente para a SUPER por Bruno Garattoni.


 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017 Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia
Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia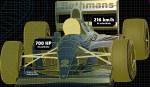 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna? Cientistas finalmente resolvem mistério dos gatos laranjas
Cientistas finalmente resolvem mistério dos gatos laranjas







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


