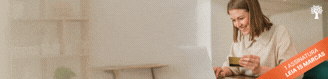A busca da longevidade
Empresários do Vale do Silício investem milhões em fármacos e terapias para combater o envelhecimento. Mas novas pesquisas mostram que a expectativa de vida humana está chegando a um teto — e que os sistemas de saúde e previdência mundo afora não estão prontos para garantir bem-estar à população mais velha. Entenda a real sobre o sonho de viver para sempre.

São cinco da manhã na casa do americano Bryan Johnson, em Los Angeles. Ele levanta da cama, se pesa e checa a sua temperatura. Ainda está escuro, então ele passa alguns minutos em frente a um grande painel de luz para que o corpo entenda que é hora de acordar.
Bryan medita por dez minutos e toma 50 pílulas de vitaminas e remédios (metade do que ele vai ingerir até o fim do dia). Exercita-se por meia hora e parte para o café da manhã: purê de vegetais e pudim proteico. Enquanto prepara a comida, ele usa um boné equipado com lasers de baixa potência que supostamente controlam a queda de cabelo. A sua última refeição é às 11h. Depois, jejua até a hora de dormir, oito e meia da noite.
Essa é parte da rotina do empresário de 47 anos, cujo objetivo de vida é retardar o envelhecimento ao máximo. Ele tem uma clínica completa em casa, e 30 médicos monitoram todos os seus órgãos, até o pênis (um aparelho contabiliza as ereções noturnas). Bryan gasta US$ 2 milhões por ano com a sua saúde – US$ 500 mil a mais que o atleta LeBron James.
A fortuna de Bryan vem de uma empresa de meios de pagamento que ele vendeu em 2013 ao PayPal por US$ 800 milhões. Em 2016, ele criou outra companhia, a Kernel, que desenvolve tecnologias de medição da atividade cerebral. E, em 2021, deu início ao Blueprint, seu projeto de rejuvenescimento. Bryan publica os resultados em um canal no YouTube com 1,2 milhão de inscritos.
Três anos depois, a jornada deu frutos: os exames indicam que seu coração se assemelha ao de alguém com 37 anos; a pele, à de um adulto de 28. Sua capacidade respiratória é similar à de um jovem de 18. No site da Blueprint, Bryan disponibiliza de graça um protocolo que detalha seu modus operandi, caso alguém queira replicá-lo.
O empresário não faz caridade, claro. A Blueprint também vende uma série de produtos, de azeite a suplementos. Por R$ 280, você compra o “mix da longevidade” solúvel em água, que promete benefícios no sono, no foco e na redução do estresse (uma nota de rodapé, porém, diz que nenhuma afirmação do site foi avaliada pelo FDA, a Anvisa americana). Além disso, Bryan roda o mundo promovendo eventos intitulados “Don’t Die” (“Não Morra”), que reúnem empresas e palestrantes antienvelhecimento. Os ingressos custam a partir de R$ 1.000.
Em entrevistas, o empresário não nega que serve de cobaia em tratamentos experimentais. Em 2023, por exemplo, ele recebeu bolsas de plasma sanguíneo do filho, na época com 17 anos. Bryan desistiu da técnica vampiresca – que não tem benefícios comprovados –, mas não completamente: em outubro, ele substituiu todo o plasma do corpo por albumina, uma proteína presente no sangue, na tentativa de se livrar de microplásticos e substâncias nocivas que poderiam estar em suas veias. Vai repetir o processo mais seis vezes para avaliar os resultados.
Pessoas como Bryan Johnson não são novidade, claro. Desde que o mundo é mundo, há quem busque a fonte da juventude eterna. Gravado na argila há quatro mil anos, o Épico de Gilgamesh, um dos primeiros mitos de que se tem registro, já falava sobre a jornada de um rei sumério (o tal Gilgamesh) atrás da imortalidade. No século 3 a.C., Qin Shi Huang, primeiro imperador da China, morreu intoxicado por mercúrio por acreditar que a substância lhe daria uns anos a mais.
Nos séculos seguintes, os chineses continuaram testando candidatos a elixir da vida – e, no caminho, inventaram a pólvora. Algo similar aconteceu na Europa medieval. Os alquimistas daquela época desenvolveram a destilação, descobriram o fósforo e criaram o ácido sulfúrico. Mas o objetivo deles era mesmo encontrar a “pedra filosofal”, substância que seria capaz de transformar tudo em ouro, curar doenças e enganar a morte.
Hoje, quem tomou a dianteira nessa cruzada foram os ricaços do Vale do Silício. Em 2013, o Google fundou a Calico, empresa de biotecnologia focada em envelhecimento. Sam Altman, da OpenAI (a criadora do ChatGPT), investiu US$ 180 milhões na Retro Biosciences, startup cuja missão é “aumentar a expectativa de vida em dez anos”. Jeff Bezos, fundador da Amazon, aposta fichas na Altos Labs, companhia que estuda como as células podem rejuvenescer. Estima-se que, em 2025, a indústria antienvelhecimento valerá US$ 610 bilhões.
Em 1900, a expectativa de vida mundial era de 32 anos, na média. Agora, é de 71. Essa história você conhece: uma revolução na saúde pública, que envolveu água tratada, vacinas, antibióticos e até o simples hábito de lavar as mãos (uma exceção entre os médicos até fins do século 19), fez com que controlássemos infecções e reduzíssemos a mortalidade infantil. Hoje, porém, o grande desafio é outro: 74% das mortes em todo o mundo são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, cujo risco aumenta com a idade: diabetes, câncer, problemas cardíacos e neurodegenerativos, como o Alzheimer.
Johnson e outros entusiastas do antienvelhecimento creem que é possível viver até os 120 anos (a recordista mundial, a francesa Jeanne Calment, morreu com 122). Há quem vá além e defenda que podemos chegar aos 150. Será mesmo? Em outubro, um estudo publicado na Nature (1) analisou alguns dos países com a população mais longeva do mundo – e descobriu que o aumento da expectativa de vida, na verdade, tem desacelerado nos últimos anos. Pode ser um indício de que, mesmo com os avanços na medicina, a idade humana talvez tenha atingido um teto.
Nesta reportagem, vamos nos aprofundar nesse e em outros debates sobre longevidade. Mas, para isso, temos que voltar algumas casas para responder a uma pergunta essencial: por que, afinal, envelhecemos?

O objetivo de todo organismo é passar os seus genes adiante. Não é uma escolha consciente, claro. Mas o corpo oferece inúmeros estímulos, como o prazer do orgasmo, que nos deixam mais próximos dessa tarefa.
Se garantir herdeiros é o que importa, então é preciso chegar à idade reprodutiva no auge, com todas as engrenagens no lugar. Fatores que, por alguma razão, atrapalham a fabricação de bebês – genes associados à infertilidade ou ao aparecimento precoce de doenças, por exemplo – acabam eliminados da população porque seus donos não conseguem se reproduzir.
Conforme a idade avança, porém, o cenário muda. Nos tornamos inférteis (as mulheres passam pela menopausa, e a contagem de espermatozoides dos homens diminui) e menos aptos a sobreviver (as funções fisiológicas degringolam, o que compromete nossas atividades diárias e nos deixa suscetíveis a doenças). Por quê? Será que existe alguma vantagem evolutiva em ficar com as engrenagens desreguladas no fim da vida?
Em meados do século 20, alguns biólogos evolucionistas se debruçaram sobre essa questão. Entre eles, o britânico Peter Medawar, um Nobel de Medicina que nasceu em Petrópolis, no Rio. Medawar e outros pesquisadores formularam a hipótese mais bem aceita de por que envelhecemos dessa maneira: não é algo previsto – e sim uma limitação incontornável do mecanismo da seleção natural.
Imagine uma mutação genética nociva, mas que só se manifesta no corpo a partir dos 60 anos. A seleção natural não será capaz de filtrá-la, porque ela não afeta a nossa capacidade reprodutiva. Aumente a escala desse fenômeno e voilà: temos um montão de alelos que, mesmo complicando a terceira idade, continuam passando de geração em geração.
As pressões seletivas também podem favorecer fatores benéficos para o começo da vida, mas que, mais pra frente, tornam-se um problema. É o caso de alguns genes ligados à resposta imunológica. “Se você não tiver um sistema imune forte e rápido, dificilmente chegará à idade reprodutiva. O problema é que, com o passar dos anos, esses mesmos genes podem contribuir para o surgimento de inflamações crônicas, que favorecem doenças cardiovasculares, por exemplo”, diz o biólogo Mateus Vidigal de Castro, pós-doutorando do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP.

Tudo isso explica por que envelhecemos. Mas, afinal, o que acontece no corpo nesse processo? Por que a pele enruga, a memória piora e os ossos enfraquecem?
A explicação começa pelo fato de que a divisão celular não é um Ctrl+C, Ctrl+V perfeito. Erros ao duplicar cromossomos (os longos fios de DNA que armazenam nosso genoma) são frequentes e podem causar mutações indesejadas.
Essa é uma situação contornável na maior parte do tempo – as próprias células se encarregam de reparar o material genético. Alguns erros, porém, passam abaixo do radar e vão se acumulando. Parte disso tem a ver com o desgaste dos telômeros: capinhas nas extremidades dos cromossomos que protegem o código genético, mas que diminuem conforme a célula se replica. Com essas estruturas desgastadas, o DNA vira um disco corrompido, difícil de interpretar. Isso prejudica a fabricação de proteínas, e os órgãos e os tecidos deixam de funcionar como antes.
O sistema imunológico é capaz de remover células velhas, num processo chamado apoptose. O corpo varre as danificadas e também aquelas que já têm uma data de validade, que entram num estágio de morte programada depois de desempenhar uma função específica.
O problema é que algumas células resistem à remoção. Elas até param de se dividir, mas não morrem. Essas zumbis, chamadas de senescentes, são uma das raízes das doenças relacionadas ao envelhecimento, já que permanecem no corpo liberando substâncias prejudiciais que podem levar a inflamações, insuficiência cardíaca e alguns tipos de câncer.
Essas são apenas algumas das alterações que acontecem no corpo conforme completamos mais e mais primaveras. O envelhecimento é um processo complexo e heterogêneo – ou seja, evolui em ritmo e intensidade diferentes, dependendo da pessoa. Mas seria possível adiá-lo, amenizá-lo ou até mesmo revertê-lo?

Não faltam pesquisas nessa área. Algumas, por exemplo, analisam o papel da telomerase, a enzima responsável por reconstruir os telômeros quando os cromossomos se duplicam. Controlá-la poderia, em tese, estender a vida útil das células.
Outros estudos se concentram na possibilidade de reprogramar células para fazê-las “voltar no tempo”. Para isso, utiliza-se os fatores de Yamanaka (o nome vem do prêmio Nobel japonês Shinya Yamanaka). Trata-se de um conjunto de quatro fatores de transcrição – nome de proteínas que influenciam quais genes são ativados ou desativados – que induzem células adultas a regredir para o estágio de células-tronco.
Ainda não há previsão para que técnicas desse tipo sejam oferecidas ao público, já que há muitos fatores e efeitos colaterais em jogo. O excesso de telomerase, por exemplo, pode dar origem a células tão resistentes que se tornam cancerígenas. Mesmo a reversão para células-tronco, estudada há mais de uma década no campo da regeneração de órgãos e tecidos, necessita cautela quando o assunto é envelhecimento.
“Como você vai garantir que todas as células do corpo rejuvenesçam de forma efetiva? Qual o impacto a longo prazo?”, diz Castro. “As células velhas possuem funções com as quais o corpo já está acostumado. Como certificar que as mais jovens desempenhem o mesmo papel?” São perguntas para as quais ainda não temos respostas.
Outra linha de pesquisa antienvelhecimento foca em usos off label de medicamentos que já estão no mercado. Por exemplo: existem ao menos vinte experimentos científicos em humanos que usam uma combinação de dasatinibe (um fármaco usado contra leucemia) e quercetina (um composto achado em legumes e vegetais) eficaz em remover as células senescentes do corpo.
Nos últimos anos, dois fármacos, a metformina e a rapamicina, tornaram-se o centro das atenções. A metformina é usada desde a década de 1950 contra o diabetes. Seu princípio ativo vem da galega, planta que já na Idade Média servia a fins medicinais. A rapamicina, por sua vez, foi descoberta em uma bactéria na Ilha de Páscoa (o nome da substância vem de “Rapa Nui”, que é como os nativos se referem à ilha) e, desde o fim dos anos 1990, ajuda a diminuir a rejeição de órgãos transplantados.
Além das histórias de origem curiosa, essas duas substâncias têm em comum o fato de que pregam uma peça no corpo, que otimiza a maneira como as células crescem e se dividem.
Quase todos os seres vivos têm uma proteína chamada mTOR, que é a gerente do seu metabolismo. Quando há nutrientes em abundância, a mTOR “liga”, fazendo com que a célula fabrique proteínas a rodo e se prepare para se dividir em duas células. Se há poucos recursos, porém, ela entra no modo fim do mês: em vez de pedir um iFood, faz um mexidão com o que sobrou na geladeira. E nada de se duplicar, é claro. É um processo chamado autofagia, em que a célula se alimenta de restos de proteínas velhas e outras estruturas.
A autofagia é um mecanismo essencial para a vida, especialmente em períodos de escassez. E é o que está por trás dos supostos benefícios da metformina e da rapamicina para a longevidade: elas inibem a mTOR e fazem o instinto de sobrevivência das células apitar, o que desacelera seu crescimento e proliferação.
Em 2014, um estudo (2) britânico com 78 mil diabéticos mostrou que os que se medicavam com metformina (ela é parte do tratamento contra a doença) viviam mais em comparação com não diabéticos. No caso da rapamicina, pesquisas com vermes, moscas e ratos sugerem que ela também pode estender a expectativa de vida.
Nos EUA, o FDA liberou a metformina para estudos sobre redução do risco de câncer, problemas cardíacos e demência. Mas muita gente tem queimado a largada: como esses são medicamentos fáceis de adquirir, vários gurus do envelhecimento já tomam e recomendam metformina e rapamicina.
É uma decisão controversa: faltam estudos de longo prazo que determinem os benefícios e efeitos colaterais desses fármacos. A rapamicina, por exemplo, suprime o sistema imunológico dependendo da dosagem. Uma pílula da juventude ainda é uma realidade distante e incerta.

No dia 15 de setembro de 2000, dois cientistas especializados em envelhecimento, Steven Austad e Stuart Jay Olshanky, fizeram uma aposta. Austad defendeu que a medicina seria capaz de fazer alguém nascido antes de 2001 viver até os 150 anos. Olshanky foi contra.
Cada um deles, então, colocou US$ 150 em um fundo de investimento. Em 2016, quando um estudo (3) apontou para um limite de 115 anos na expectativa humana, a dupla dobrou a aposta – apesar da pesquisa, Austad permaneceu confiante em sua previsão. A aposta só termina em 2150, quando o fundo poderá ter alcançado uma cifra milionária. Pelas regras do acordo, um comitê de cientistas decidirá qual dos dois (no caso, seus descendentes) deverá ficar com o dinheiro.
Olshanksy, professor de epidemiologia e bioestatística da Universidade de Illinois Chicago (EUA), é o líder do estudo publicado na Nature que mencionamos no início da reportagem. A pesquisa analisou dados de 1990 a 2019 de alguns dos campeões de longevidade: Austrália, Coreia do Sul, Espanha, França, Itália, Hong Kong, Suécia e Suíça.
Em todos os países, a expectativa de vida aumentou nos últimos 30 anos. Mas a taxa desse crescimento desacelerou em quase todos eles (a exceção foi Hong Kong). Olshanksy prevê que o sarrafo deve ficar na casa dos 87 anos, em média (84 para os homens e 90 para as mulheres) – uma marca que alguns países já estão alcançando.
Ainda não há consenso nessa discussão – mas talvez nem seja necessário. Nos últimos anos, uma outra métrica tem ganhado espaço entre os especialistas em longevidade: em vez de focar no quanto se vive (o tempo de vida; lifespan, em inglês), deveríamos voltar as atenções para o quão bem se vive (tempo de vida saudável, ou healthspan).
Faz sentido. Afinal, chegar aos cem anos debilitado por uma ou mais doenças crônicas e dependente de ajuda para tarefas cotidianas é sinônimo de longevidade? “Queremos retardar ou mesmo evitar o surgimento dessas condições para que possamos viver mais tempo sem doenças, em vez de tentar prolongar a vida com elas”, escreve o oncologista Peter Attia no livro Outlive.
Attia defende que um dos pilares para o envelhecimento saudável seria uma mudança de paradigma na medicina: focar mais na prevenção, e não apenas no tratamento. “Nossa janela de previsão de risco mais extensa é de dez anos. Uma doença cardiovascular, porém, pode levar décadas para se desenvolver.”
Mas como produzir diagnósticos cada vez mais precoces e assertivos? Um caminho pode ser fazer uma espécie de engenharia reversa: analisar o genoma de idosos e entender quais genes estão atrelados à longevidade – e quais podem estar ligados a doenças crônicas.
Dessa forma, seria possível identificar alelos que podem dar trabalho na terceira idade – e, assim, iniciar tratamentos o quanto antes. Não só: descobrir o “segredo” de nonagenários e centenários saudáveis pode ser útil para desenvolver remédios. “Ao identificar esses genes de resistência, podemos nos perguntar: ‘Qual o produto deles? A qual enzima estão associados?’ E, a partir daí, criar drogas para quem não teve a sorte de nascer com eles”, diz Mayana Zatz, coordenadora-geral do Genoma USP.
Não é uma tarefa fácil, porém. É muito mais provável que milhares de genes, não apenas um ou outro, estejam atrelados à resistência de idosos saudáveis, cada um contribuindo um pouquinho para a longevidade. E, mesmo que um dia encontremos todos, eles não vão se expressar de forma homogênea. O alelo APOE E4, por exemplo, é frequentemente associado ao Alzheimer. Mas isso só parece valer para populações europeias. Pessoas com ascendência africana (caso da população brasileira) que carregam essa variante têm menos chance de desenvolver a doença – nesses casos, o APOE E4 pode até ajudar na proteção contra esse tipo de demência.

Tentar decifrar esse quebra-cabeça é complicado, mas importante. O genoma, afinal, é essencial para definir se os últimos anos da velhice serão tranquilos. Mas isso não significa que o nosso destino já esteja traçado ao nascer. Na verdade, durante a maior parte da vida, os genes exercem de 20% a 25% de influência no envelhecimento saudável. O restante tem a ver com fatores externos – e a maneira como lidamos com eles.
Não tem muito segredo. A chave da longevidade está em exercícios físicos regulares, alimentação saudável, sono regular e saúde mental em dia – conselhos detalhados à exaustão por livros, manuais e programas de TV. Mas, se essas dicas já são manjadas, por que parece ser tão difícil colocá-las em prática?
O primeiro ponto, óbvio, é que a sociedade, em sua organização atual, não dá chances de envelhecer com saúde à maior parte da população. Como garantir que uma família que ganha um salário mínimo por mês encha a geladeira com orgânicos – ou que motoristas de Uber arranjem tempo para a academia depois de passar 12 horas no trânsito?
“Faltam políticas públicas que tornem hábitos saudáveis mais simples, baratos e acessíveis”, diz o médico Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil. “A maioria das pessoas já chega aos 60 anos com muitas doenças que poderiam ter sido evitadas e que não foram controladas adequadamente depois do diagnóstico.”
“Sete em cada dez mortes prematuras poderiam ser evitadas se controlássemos tabagismo, hipertensão, baixa escolaridade, obesidade, diabetes, força muscular reduzida, sedentarismo, alto consumo de álcool, má alimentação e poluição”, diz o Dr. Álvaro Avezum, coordenador do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Países com alto nível de desigualdade social (caso do Brasil) têm, claro, mais dificuldade de alcançar esse arranjo. Não à toa, dos 17 milhões de pessoas que morrem anualmente por doenças crônicas antes de completar 70 anos, 86% são de países de baixa e média renda. Envelhecer com saúde nesses lugares é a exceção, não a regra.
Se chegar à terceira idade já é um desafio, manter-se saudável nela, então, costuma ser uma tarefa hercúlea. No Brasil, a proporção de idosos com dificuldade para as chamadas atividades básicas da vida diária (ABVD, tarefas como alimentar-se, andar, tomar banho…) deu um salto de 2013 a 2019. Veja no gráfico:

Quem não tem dinheiro para contratar cuidadores particulares se torna dependente de algum parente – um fenômeno comum e que pode comprometer o orçamento e a dinâmica familiar: 24% das pessoas que cuidam de idosos precisam parar de trabalhar ou estudar. E, num cenário em que a rede de apoio dos mais velhos é frágil, casos de abandono tendem a ser cada vez mais comuns: em 2023, foram 22 mil denúncias, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; o dobro em relação a 2022.

Até 2050, com exceção da África, todas as regiões do mundo terão ao menos um quarto de suas populações com mais de 60 anos. No Brasil, 37,8% dos habitantes serão idosos em 2070. Como garantir boas condições de vida para eles?
Tudo começa com assistência adequada. O SUS tem hoje um geriatra para cada 12 mil idosos – a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de um para cada mil. Seria preciso formar 28 mil geriatras para se adequar ao padrão internacional. O problema é que só 10% das faculdades de medicina no Brasil contam com um departamento de geriatria. Em 2020, apenas 0,7% dos residentes seguiram essa área. É menos do que dermatologia (1,4%) e cirurgia plástica (1%).
A responsabilidade, porém, não deve recair somente sobre os especialistas. “Tudo muda à medida que você envelhece: a forma como as doenças se apresentam, a dosagem dos remédios, a interação entre eles…”, diz Kalache, que defende que aprender mais sobre a terceira idade poderia diminuir o número de erros médicos. “Um infarto aos 80 anos, por exemplo, não necessariamente vem acompanhado de dor.”

Outro ponto é fortalecer e expandir a rede de apoio. No Brasil, para além dos asilos particulares, 67 mil pessoas vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), que são conveniadas a estados e municípios (na esfera pública, existem também os Centros-Dia, que oferecem refeições e atividades aos idosos durante o dia). É um número 65% maior em relação a dez anos atrás. Mas as vagas ainda são insuficientes: cerca de 20 mil idosos não têm onde morar no país.
Gerenciar o envelhecimento populacional, porém, não depende apenas dos órgãos de saúde. A partir de 2050, a Previdência Social terá mais beneficiários do que contribuintes. Faz sentido: estamos vivendo mais e tendo menos filhos. Será preciso criar um arranjo harmônico para garantir a aposentadoria dos idosos e ainda fazer a conta fechar. “O envelhecimento saudável, com pessoas ativas por mais tempo, deveria ser encarado como um patrimônio, não como um custo”, diz a médica Marília Louvison, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP.
Em 2021, a ONU criou a Década do Envelhecimento Saudável, e estabeleceu quatro pilares para que alcançássemos melhores condições de vida para a população mais velha até 2030. Os três primeiros nós já discutimos aqui: criar ambientes amigáveis para os idosos, garantir o acesso a cuidados de longa duração e criar sistemas e serviços de saúde integrados.
O quarto pilar parece o mais moleza deles: mudar a forma como pensamos e agimos em relação ao envelhecimento. Esse, porém, talvez seja o mais difícil de colocar em prática.
A verdade é que o mundo ainda rejeita a velhice. Nosso amigo Bryan Johnson, com suas centenas de suplementos e transfusões de sangue, é apenas a ponta do iceberg de uma sociedade movida a cremes antirrugas e shakes milagrosos, com mais cirurgiões plásticos do que geriatras e que constrói muros para os idosos no mercado de trabalho e em quase todas as esferas da vida pública.
Enquanto não mudarmos essa mentalidade e aceitarmos os cabelos brancos, não haverá pílula da juventude que resolva o problema. “Envelhecer foi uma das grandes conquistas sociais do último século. Talvez a maior”, diz Kalache. “Não podemos transformar isso em uma catástrofe.”
Fontes: (1) Implausibility of radical life extension in humans in the twenty-first century;(2) Can people with type 2 diabetes live longer than those without? A comparison of mortality in people initiated with metformin or sulphonylurea monotherapy and matched, non-diabetic controls; (3) Evidence for a limit to human lifespan. Agradecimento: José Marcelo A. de Oliveira, diretor presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.