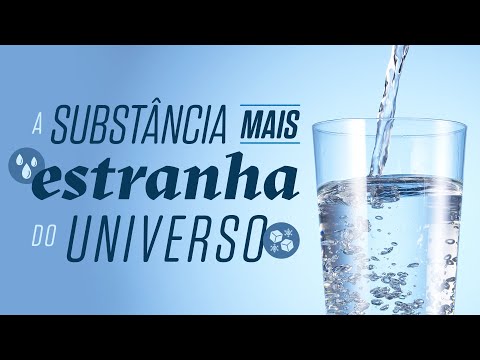Observatório Vera Rubin vai “filmar” o Universo com a maior câmera já construída
A máquina do tamanho de um carro vai fotografar todo o céu do Hemisfério Sul ao longo de 10 anos. Durante esse período, ela deve revelar mistérios sobre a matéria e a energia escuras.

La Serena é a cidade mais antiga do Chile depois de Santiago. As construções antigas, praias e igrejas a tornaram um ponto turístico famoso na região. O que os turistas não esperam encontrar, no entanto, são os milhares de cientistas gringos que andam pelas ruas e bebem nos bares da cidade.
A montanha de Cerro Pachón, a 100 quilômetros de La Serena, abriga três telescópios: o Gemini, o SOAR e o recém-inaugurado Observatório Vera C. Rubin. Os astrônomos que trabalham por lá geralmente moram em La Serena e pegam duas horas de estrada para subir a montanha e iniciar o expediente.
A alta altitude, o céu limpo e o clima seco tornam a Cordilheira dos Andes um dos locais mais propícios à observação astronômica. Em especial para o Vera C. Rubin, que tem como objetivo gravar o maior filme do Universo já feito. Pela próxima década, ele irá tirar repetidas fotos de todo o céu noturno do Hemisfério Sul, compondo aos poucos o projeto Legacy Survey of Space and Time (LSST).
Após 30 anos de planejamento e dez de construção, o observatório iniciou a fase de testes em 2025, com sua primeira imagem divulgada em 23 de junho. Quem está por trás da obra é a Fundação Nacional de Ciência (NSF) americana e o Escritório de Ciência do Departamento de Energia dos Estados Unidos.
Para gravar esse filme gigante, o LSST conta com a maior câmera digital do mundo, que tem o tamanho de um Renault Kwid – mas o quádruplo do peso (cerca de 3 toneladas). Construída especialmente para o Observatório, a câmera-transformer tem resolução de 3.200 megapixels (MP). Um iPhone 16 Pro, em comparação, tem 48 MP.
Apontada para o céu noturno, a lente cobre uma área equivalente a 45 luas cheias. É bastante, mas não o suficiente para capturar todo o espaço visível do Hemisfério Sul em uma única exposição (que corresponde a 100 mil luas). A câmera tira foto de um pedaço do céu de cada vez até cobri-lo por completo. Se um canto do céu foi fotografado hoje, esse mesmo canto será fotografado novamente daqui a três noites.

Juntando as fotos lado a lado, o resultado é uma imagem gigante e em alta resolução do Universo. Após mais três noites, temos outra imagem dessas. E assim por diante. É como se cada um dos frames desse filme tivesse 72 horas de diferença entre si. A câmera, que está acoplada ao Telescópio Simonyi Survey no observatório, irá fotografar o céu todas as noites. Ao final dos dez anos, teremos mais de mil frames detalhados, mostrando tudo o que ocorreu nessa parte do Universo durante o período.
O Rubin inaugura uma nova era nas pesquisas astronômicas. “Para os cosmologistas e os astrofísicos, a importância desse projeto é equivalente ao LHC para os físicos de partículas”, diz o astrônomo Luiz Nicolaci, que participa da colaboração brasileira com o Rubin. O LHC, vale lembrar, é o acelerador de partículas que confirmou a existência de uma nova partícula elementar (o bóson de Higgs) em 2013.
O novo observatório tem potencial para fazer descobertas tão revolucionárias quanto essa. O Rubin foi projetado para contribuir em diversas linhas de pesquisa da astronomia, mas em especial duas delas: compreender o que são matéria e energia escuras. Vamos entender como ele irá funcionar.
Longuíssima-metragem
A cada dez anos, os cabeções da astronomia mundial se reúnem para discutir o que precisa ser feito para avançar no conhecimento científico na década seguinte. A partir daí, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos produz um relatório chamado Decadal Survey, listando as prioridades de pesquisa e de financiamento para grandes projetos. A proposta de construção do Telescópio Hubble apareceu no relatório de 1980. O Telescópio James Webb era destaque do documento de 2000.
Em 2010, os pesquisadores concordaram que a prioridade da vez seria entender a natureza da energia escura, estudar a evolução de sistemas planetários, examinar processos extremos (como as supernovas) e pesquisar como as galáxias se formaram no início do Universo. Para isso, eles precisavam de um telescópio que tivesse um grande campo de visão, fosse rápido o suficiente para escanear todo o céu em poucas noites e com resolução para observar objetos difíceis de ver (seja pelo tamanho, seja pela distância).
Foi assim que o Observatório Vera C. Rubin (que na época se chamava Large Synoptic Survey Telescope) acabou entrando no relatório da década. A ideia de construí-lo já existia havia tempos: o primeiro rascunho do projeto foi feito por astrônomos embriagados em um guardanapo de papel, em 1997. Desde aquela época, eles sabiam que o maior desafio seria construir o espelho principal do telescópio.
O espelho serve para dar um “zoom” no céu antes que a imagem chegue à lente da câmera. No caso do Rubin, o espelho primário (onde a luz bate primeiro) e terciário (onde ela rebate uma terceira vez) precisavam estar bem próximos para permitir uma visão ampla do céu.
Os pesquisadores, então, tiveram a ideia de juntar dois espelhos num só, com dois pontos focais fabricados no mesmo monolito [veja abaixo]. Ele é composto de uma peça única de vidro de 8,4 metros de diâmetro, com válvulas internas para que o espelho não quebre.

“O projeto quase não saiu por causa do espelho”, disse Bruno Quint, astrônomo brasileiro que trabalha dentro do Rubin. “Quando apresentaram a ideia para as agências dos EUA, eles falaram que não daria para construir. Foi aí que apareceu um cara chamado Charles Simonyi e doou US$ 20 milhões para a fabricação.”
Simonyi é um dos primeiros programadores da Microsoft. Bill Gates doou mais US$ 10 milhões e o espelho saiu do papel em sete anos. A vaquinha facilitou a aprovação da Fundação Nacional de Ciência para o início das obras do observatório, em 2015.
Além de ter uma visão ampla do céu, o Telescópio Simonyi Survey (que recebeu o nome do programador) é bastante rápido. Ele aponta de um canto do céu para outro, com precisão milimétrica, em apenas cinco segundos. Isso permite que a câmera tire entre 700 e 1.000 fotos por noite, cobrindo um terço do céu do Hemisfério Sul.
Na primeira semana de observação, em que ficou focado num pequeno canto do céu, o Rubin descobriu 2.104 novos asteroides, incluindo sete próximos à Terra. Para ter uma ideia: todos os observatórios do mundo, juntos, descobrem cerca de 20 mil asteroides anualmente. Estima-se que o novo observatório dobre o número de asteroides conhecidos em apenas um ano de funcionamento.
Isso mostra o quão pouco sabemos sobre a nossa vizinhança cósmica. Um dos principais objetivos do observatório é fazer um censo demográfico do Sistema Solar, identificando novos cometas e objetos potencialmente perigosos para a Terra. E até, quem sabe, um possível novo planeta para além de Netuno, conhecido na teoria como Planeta 9.
Fora do Sistema Solar, o observatório será útil para identificar supernovas – explosão que ocorre no estágio final de vida de algumas estrelas. O projeto LSST deve descobrir de 3 milhões a 4 milhões delas ao longo dos próximos dez anos.
Cada asteroide, estrela pulsante ou supernova avistada irá gerar um alerta em tempo real para diversos astrônomos no mundo. É um aviso que diz “tem algo nesse canto do céu que não existia nas noites anteriores. Melhor dar uma olhada”. Daí, pesquisadores em outros observatórios podem apontar seus telescópios para o lugar indicado para estudar aquela ocorrência.
Assim, a câmera pode continuar escaneando o céu sem parar para focar em cada evento. Esse é um modo de operação diferente de outros observatórios. “Quando um astrônomo quer observar tal estrela, ele escreve um projeto explicando a importância da pesquisa e por que ele deve ter um certo tempo de observação em um telescópio normal”, diz Rogério Rosenfeld, que coordena o grupo de colaboradores brasileiros do Rubin. “O projeto é julgado por um comitê e, se for aprovado, o cientista terá umas oito horas para observar aquele objeto.”

Com o Rubin, não é assim. Ele seguirá o cronograma do projeto LSST, observando milhões de objetos todas as noites. O pesquisador não precisa subir o Cerro Pachón para estudar uma supernova (esse êxodo fica reservado aos cientistas in loco, que ajudam na parte técnica). A observação do Rubin já está feita – o astrônomo só precisa achar o que quer em meio aos dados coletados.
Lindo, não? Mas essa tarefa está longe de ser fácil: o observatório envia 10 milhões de alertas por noite. Impossível verificar todos na mão. Quint, por exemplo, trabalhou com brasileiros que estão desenvolvendo uma ferramenta com IA para filtrar quais alarmes do Rubin poderiam estar associados a supernovas do tipo 1a (uma explosão específica que fornece dados sobre a evolução do Universo). O observatório gera 20 terabytes por noite, o equivalente a assistir três anos ininterruptos de Netflix. Cabe aos astrônomos fabricar a melhor peneira para essa enxurrada de dados.
O Universo escuro
Em 2019, o Congresso americano oficializou que o nome do observatório seria uma homenagem à astrônoma americana Vera C. Rubin (1928-2016), que contribuiu para uma das principais áreas de estudo investigadas pelo telescópio. Seu trabalho fez com que a matéria escura deixasse de ser papo de sci-fi e se tornasse uma teoria robusta.
Na década de 1970, Rubin percebeu algo curioso: as estrelas localizadas nas regiões externas das galáxias se movem tão rápido quanto as que estão no centro. Pelas leis da física, a velocidade de órbita das estrelas deveria diminuir à medida que fica longe do centro. Pegue o nosso Sistema Solar como exemplo: Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, se move muito mais rápido que Netuno, que é o último da fila.
Na verdade, as estrelas da periferia estavam se movendo tão rápido que elas deveriam ser ejetadas da galáxia, como as gotas de água de um cachorro que se sacode. A massa visível encontrada em cada galáxia não seria suficiente para mantê-la junta.
Rubin e seu colega Kent Ford demonstraram que esse comportamento estranho ocorria em todas as galáxias. Devia ter algo que fizesse as estrelas da periferia se moverem rápido e que mantivesse a galáxia no lugar. No caso, a gravidade de uma matéria invisível às nossas observações.
As medições da astrônoma são uma das principais evidências de existência da matéria escura. Ela ocorre tanto no centro das galáxias quanto entre elas, ajudando a fazer o bolinho de estrelas. Hoje estima-se que 84% do total de matéria do Universo seja matéria escura, enquanto apenas 16% seria matéria “normal”, que conseguimos ver.

Não sabemos o que é a matéria escura, mas conseguimos medir seus efeitos no comportamento de corpos celestes. O novo observatório irá detectar diversos desses efeitos para que os pesquisadores refinem suas teorias. Um exemplo: a luz que viaja de uma galáxia distante até nós pode ser distorcida pela gravidade de qualquer tipo de matéria. Se o telescópio tira a foto de uma galáxia e ela aparece distorcida, é possível calcular quanta matéria escura existe entre aquela galáxia e a nossa.
“A gente pode fazer verdadeiros mapas de concentração de matéria escura no Universo a partir dessas informações”, diz Rosenfeld. “Nós acreditamos que ela seja um novo tipo de partícula, provavelmente elementar, que a gente ainda não conhece.”
Outra maneira pela qual o Rubin pode contribuir é por meio da identificação de galáxias anãs – estruturas bem pequenas, onde se acredita haver uma alta concentração de matéria escura.
Há mais um componente nessa história. Não dá para explicar a estrutura do Universo só com matéria escura e matéria normal. Considerando apenas elas, a gravidade faria a expansão do Universo desacelerar, o que poderia resultar, no futuro, num colapso entre as galáxias. Mas não é isso que observamos no céu.
Sabemos desde 1929 que o Universo está se expandindo, com as galáxias ficando cada vez mais distantes entre si. Até aí tudo bem: seria um resquício da explosão do Big Bang, há 13,8 bilhões de anos. A surpresa veio em 1998, quando descobrimos que o Universo está se expandindo cada vez mais rápido.
“A coisa estranha é o fato de que essa expansão não está diminuindo com o tempo”, diz Rosenfeld. “É como você jogar um objeto para cima e, em vez de a velocidade diminuir por causa da gravidade, ela aumenta.” O que está “empurrando” o Universo é o que chamamos de energia escura.
Em 1929, o astrônomo americano Edwin Hubble (que dá nome ao telescópio) descobriu que, quanto mais uma estrela se distancia da Terra, mais sua luz desvia para o vermelho. No espectro eletromagnético, o vermelho é a cor com comprimento de onda mais “esticado”. Imagine que a luz saiu da estrela e viaja em direção à Terra – só que a própria fonte de luz (estrela) está se afastando. Isso faz com que a onda eletromagnética “estique”, como uma mola. Vemos essa onda esticada como um facho vermelho.
Ao observar o céu, podemos medir essa “vermelhidão” da luz e descobrir o quão rápido as estrelas e galáxias estão correndo de nós. Em outras palavras, estudar a expansão do Universo.
Para isso, é preciso observar milhares de galáxias – das mais antigas às mais recentes. Quando olhamos para um objeto distante, estamos vendo o passado do Universo. Ao dizer que uma estrela está a bilhões de anos-luz, significa que sua luz demorou todo esse tempo para chegar até nós. Ou seja: estamos vendo como era essa estrela, não como ela é.

Esses objetos distantes têm revelado que, antigamente, a taxa de expansão do Universo era outra. “O Universo passou por uma história. Alguns bilhões de anos atrás, ele não estava acelerando […] a proporção de energia escura era menor”, diz Rosenfeld. Ou seja: hoje existe mais energia escura do que existia lá atrás. Acredita-se que a energia escura represente 68% da composição do Universo; 27% é matéria escura; e 5% é matéria normal.
Observações dos últimos anos têm botado à prova o modelo cosmológico padrão, o mais usado para explicar a expansão do Universo. Mas ainda precisamos de mais informações para entender o que é essa energia escura e como ela se comportou ao longo da história. É aí que entra o Rubin. Ao encontrar novos objetos e eventos (em especial, supernovas) distantes, ele pode revelar detalhes sobre a distribuição de energia escura no tempo.
Esse é o tema de uma das oito colaborações científicas associadas ao observatório. Os grupos abarcam estudos de estrelas variáveis e transientes; do núcleo ativo de galáxias; do Sistema Solar; de informática e estatística etc. Este último é uma das peças cruciais para que os pesquisadores consigam lidar com a quantidade colossal de informação sendo gerada a cada noite.
Jogo de dados
Pense em tudo que os humanos já escreveram, em qualquer língua, até hoje. Em dez anos, o Observatório Vera C. Rubin terá escrito mais do que isso, só que em dados astronômicos. Ao final do projeto, as imagens somarão 60 petabytes de dados, ou 60 milhões de bilhões de bytes. Sem contar outras medidas feitas pelos equipamentos secundários.
“A gente pode falar sem nenhuma modéstia que o Rubin vai mudar a forma como se faz astronomia no mundo”, diz Bruno Quint. Cada cientista vai ter que achar, nesse mundaréu de dados, o que faz sentido para a pesquisa dele.

As primeiras pessoas a ter acesso a esses dados são os pesquisadores associados ao observatório. Com exceção dos alertas em tempo real, os dados mais completos do Vera C. Rubin ficarão restritos aos pesquisadores associados por dois anos. Quem tem acesso antecipado, então, terá mais tempo para analisá-los – e poderá sair na frente das descobertas científicas.
O Brasil tem 170 associados ao projeto, pertencentes a 26 instituições em nove estados. “Teremos a oportunidade de trabalhar na vanguarda do conhecimento, para a formação de pesquisadores na área científica e tecnológica”, diz Luiz Nicolaci.
Os brasileiros ganharam esse espaço principalmente graças ao Laboratório Interinstitucional de e-Astronomia (LineA), do qual Nicolaci é presidente. O LineA faz parte das contribuições in-kind ao Vera C. Rubin, em que o observatório oferece os dados antecipados em troca de softwares, infraestrutura e recursos computacionais disponibilizados por outros institutos de pesquisa.
A moeda de troca brazuca é analisar e armazenar parte dos dados do observatório. Após um acordo com o Stanford Linear Accelerator Laboratory (SLAC), instituição que opera o Rubin, o LineA implementou um centro de dados no Rio de Janeiro que funcionará exclusivamente para o LSST. Ele é conhecido como IDAC, sigla em inglês para Centro Independente de Acesso de Dados. Ao todo, o LSST conta com a ajuda de 12 IDACs espalhados pelo mundo.

Além disso, o LineA fornecerá um software que mede o desvio ao vermelho fotométrico das imagens do observatório. É aquele cálculo que indica quanto um objeto está se afastando, importantíssimo para os estudos de energia escura.
A contribuição do LineA ao LSST foi avaliada em US$ 4,4 milhões, o que garantiu 120 posições de pesquisadores associados. Algumas outras posições foram ofertadas à Fapesp, que vai ajudar na infraestrutura de transmissão de dados do Chile aos EUA.
O Rubin já disponibilizou os primeiros dados para testes, e uma nova leva deve sair em março de 2026. A ver o que as próximas cenas desse filme têm a revelar.
Agradecimentos: Daniel Cardoso, professor de ciência da computação na Universidade Federal Fluminense e colaborador do LineA.


 Anomalia magnética está ficando maior
Anomalia magnética está ficando maior 3I/ATLAS: visitante interestelar passou por seu ponto mais próximo da Terra
3I/ATLAS: visitante interestelar passou por seu ponto mais próximo da Terra Cientistas imitam visão-de-calor das cobras para criar sensor infravermelho portátil
Cientistas imitam visão-de-calor das cobras para criar sensor infravermelho portátil Maior concentração de pegadas de dinossauros do mundo é encontrada na Bolívia
Maior concentração de pegadas de dinossauros do mundo é encontrada na Bolívia Seu nome está no ranking? Saiba como explorar a nova plataforma Nomes do Brasil
Seu nome está no ranking? Saiba como explorar a nova plataforma Nomes do Brasil