E se… a renda fosse bem distribuída no Brasil?
Essas são algumas das diferenças mais marcantes do que seria o Brasil se tivéssemos uma distribuição perfeita.
Mariana Sgarioni
Imagine viver em um lugar em que a renda fosse igualmente dividida entre as pessoas que trabalham: nenhum mendigo, ninguém passando fome, sensação de segurança. Essas são algumas das diferenças mais marcantes do que seria o Brasil se tivéssemos uma distribuição perfeita.
É importante dizer que ninguém seria rico. Pelo atual padrão de renda no país, se toda a riqueza produzida em um mês fosse dividida pela população economicamente ativa, dariam 600 reais para cada trabalhador. Para aumentar esse salário, só se o Brasil, como um todo, produzisse mais riqueza. Estamos bem longe dessa realidade. Na verdade, poucos países no mundo estão mais longe dessa realidade do que nós. Segundo dados de 2002 do Banco Mundial, só três países africanos (Suazilândia, República Centro-Africana e Serra Leoa) têm distribuição de renda mais desigual do que a nossa. Para fazer essa classificação, usa-se o índice de Gini, fruto de um cálculo complicadíssimo e que varia de zero a 1. Quanto mais próximo de zero, mais justa e igualitária é a distribuição de renda. O índice da Suécia, um dos países onde a renda é mais bem distribuída, é 0,24. O nosso é um escandaloso 0,57.
Segundo Rodolfo Hoffmann, professor de economia da Unicamp, pode-se afirmar que quem ganhava mais de 3500 reais em setembro de 2001 estava entre os 5% mais ricos, aqueles que abocanham um terço da renda total.
Segundo os especialistas, o melhor jeito de diminuir a desigualdade é mexer na tributação. Quem tem mais paga mais imposto (o contrário do que acontece hoje) e o Estado pode transferir a verba para quem precisa, oferecendo saúde e educação, entre outros investimentos.
Se a igualdade ocorresse de um dia para o outro, o consumo de produtos básicos, como alimentos, subiria bastante. Em dezembro do ano passado, o Brasil tinha 54 milhões de pessoas vivendo com menos de meio salário mínimo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora imagine toda essa gente comprando. Não só arroz com feijão, mas iogurtes, chocolates, bolos. Nos primeiros meses, os preços iriam às alturas e teria muita gente se estapeando no supermercado. O risco de inflação crônica seria enorme. O mercado precisaria de um tempo para se ajustar. Aos poucos, haveria um aumento da produção agrícola, gerando maior oferta de empregos no campo e uma produção mais voltada ao mercado interno. Quem optasse por trabalhar na lavoura teria mais chances de ser bem-sucedido, diminuindo o inchaço nas grandes cidades.“Por outro lado, o consumo ostensivo diminuiria, uma vez que os muito ricos já não seriam tão ricos assim”, lembra Paul Singer, professor de economia da USP.
Cairia a oferta de iates e carros de luxo. Talvez as fábricas desses bens tivessem de se adaptar e produzir geladeiras, fogões e eletrodomésticos. Provavelmente, seria possível passar férias em mansões na praia, já que o “precinho” do aluguel desses palácios despencaria.
Com o tempo, o ensino seria mais acessível. Teríamos mais cientistas e maior produção de conhecimento, fator indispensável para o crescimento. Os subempregos e o mercado informal, como os flanelinhas e os camelôs, desapareceriam. Quem não iria gostar muito dessa história seriam as empresas de plano de saúde, previdência e segurança privada e blindagem de carros – enfim, todas as áreas condenadas à falência quando se trata de um Estado que oferece oportunidades iguais. Por aí pode-se imaginar a guerra de interesses para chegarmos à igualdade. Enquanto isso, continuamos disputando o primeiro lugar dos desiguais com países africanos. Nesse ponto, o Haiti, com índice de Gini igual a 0,40, é melhor do que aqui.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência
Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês
O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017
Estes são os 100 nomes de bebês mais populares de 2017 Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia
Cientistas descobrem estratégia usada por orcas para caçar tubarões baleia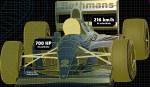 Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?
Como foi o acidente que matou Ayrton Senna?







![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)


