A química da felicidade
Existe uma molécula que determina se as lembranças serão boas ou ruins. Veja esta e outras descobertas da ciência sobre os mecanismos cerebrais ligados à felicidade. E a relação disso com a polêmica dos antidepressivos.
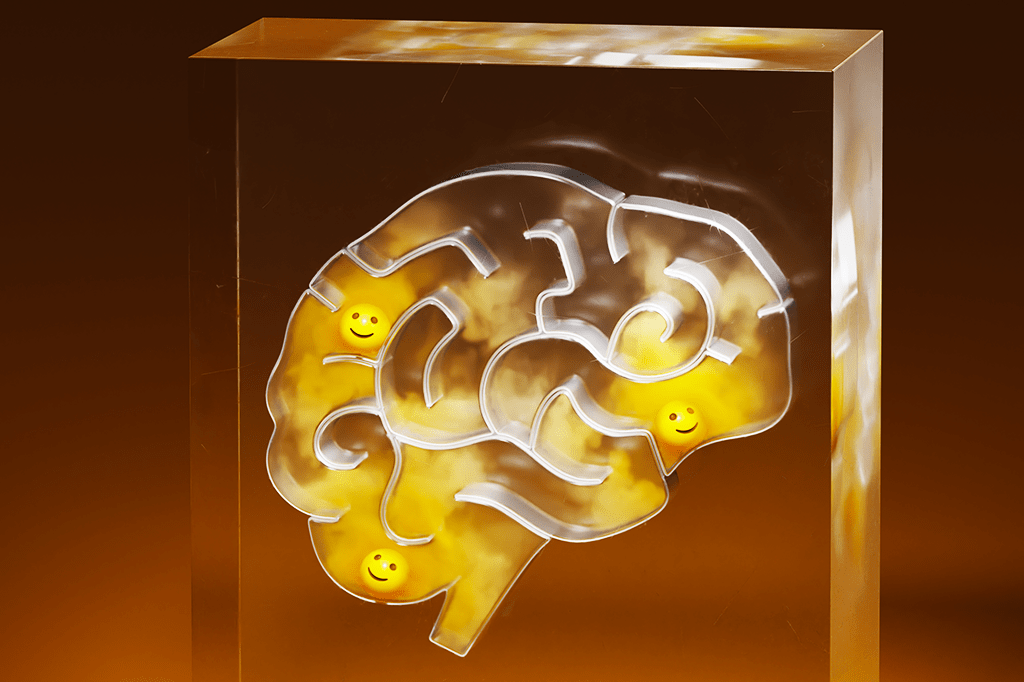
Você é feliz? E agora, neste exato momento, você está feliz? Esperamos que sim. Mas, seja qual for o seu veredicto, você provavelmente hesitou um pouquinho antes de responder.
Porque a felicidade é fugidia: às vezes conseguimos agarrá-la, e queremos ficar assim para sempre, mas aí ela começa a escorrer como areia por entre os dedos – ou simplesmente some, sem motivo aparente, para reaparecer tempos depois.
Como escreveu Machado de Assis, a felicidade é uma quimera: algo que você passa a vida tentando alcançar, mas está sempre escapando. Ela é muito mais do que ter saúde, dinheiro, liberdade e uma rede de apoio social – os critérios usados pelo World Happiness Report, da ONU, para medir o grau de felicidade de uma nação.
Na décima edição desse ranking, publicado em 2022, o Brasil aparece apenas na 38a posição; e os países mais felizes do mundo são, pela ordem, Finlândia, Dinamarca e Islândia. A Finlândia, aliás, lidera o ranking há cinco anos. Só que 18,8% da sua população tem algum problema psicológico, especialmente depressão – o percentual mais alto da União Europeia. Você pode “ter” tudo, objetivamente, e mesmo assim não se sentir feliz.
Cada vez mais gente tenta resolver o problema recorrendo aos antidepressivos, mas isso desencadeou um fenômeno curioso: ao mesmo tempo em que aumenta o uso desses medicamentos, a porcentagem de deprimidos na sociedade segue crescendo (1). Em 2013, segundo dados do IBGE, eram 7,6% dos brasileiros. Em 2019, antes da pandemia, 10,2%. Hoje, são 11,3%. Será que os remédios estão mesmo funcionando?
No ano passado, um trabalho publicado por cientistas ingleses jogou lenha na fogueira. Eles revisaram os dados de 17 grandes estudos, que somados avaliaram mais de 100 mil pessoas, e chegaram a uma conclusão bombástica (2): não existe relação entre a depressão e baixos níveis de serotonina no cérebro – o que a maior parte dos antidepressivos trata.
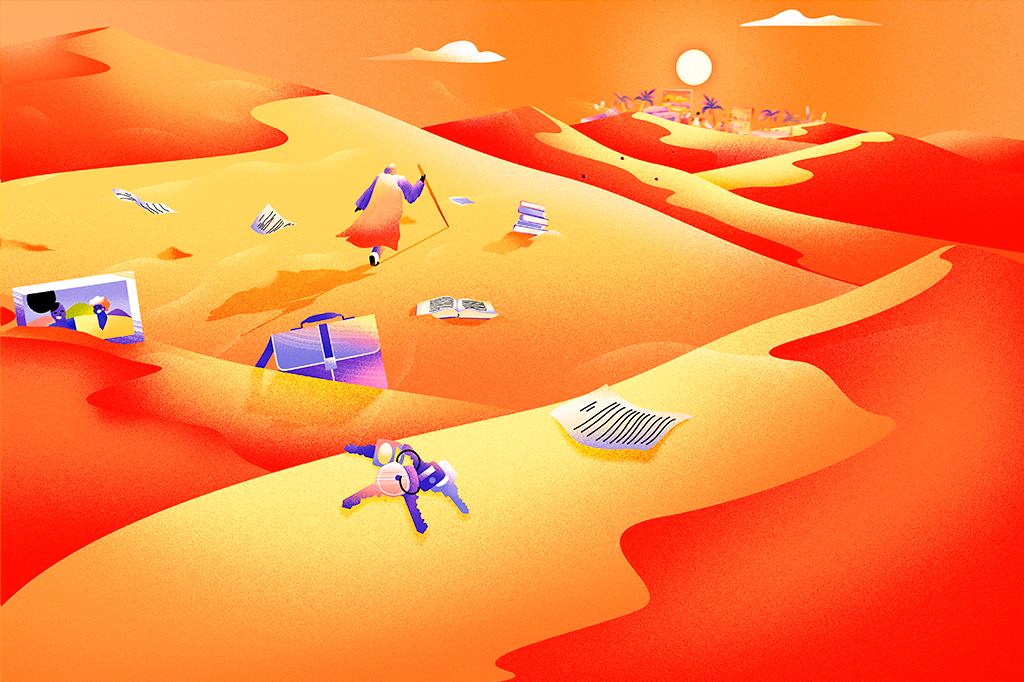
A notícia correu o mundo, com uma onda de manchetes dizendo que essas drogas não funcionam, e seu efeito é mero placebo. Não é bem assim. Todos os antidepressivos que estão no mercado foram submetidos a testes clínicos, e passaram (mais sobre isso daqui a pouco).
O mais provável é que a felicidade, e a infelicidade, estejam relacionadas a mecanismos cerebrais mais complexos do que se imagina. Nos últimos anos, a ciência encontrou alguns sinais disso.
Descobriu, por exemplo, uma molécula que “carimba” cada uma das memórias – e determina se ela vai ser positiva ou negativa. E que o cérebro possui uma malha de circuitos, a chamada “Rede de Modo Padrão”, que pode ser decisiva para a sensação de (in)felicidade.
Da Grécia ao tálamo
O que é, exatamente, a felicidade? Eis aí uma pergunta que só parece simples. Ela é formada por alegria, otimismo, calma, prazer e diversos outros ingredientes, mas é muito mais do que a soma deles – da mesma forma que um bolo de chocolate não é uma simples pilha de manteiga, cacau e açúcar.
O melhor caminho para entender a felicidade parece estar em dois conceitos propostos por Aristóteles na Grécia do século 4 a.C.: hedonia e eudaimonia.
A hedonia é imediata, e se manifesta em situações pontuais: reencontrar um filho que volta de viagem, ver pela décima vez o seu filme favorito ou comer aquele prato que você adora. Ela é aquela sensação súbita de felicidade após fazer ou viver algo bom.
Já a eudaimonia é de longo prazo – um estado de espírito baseado em viver bem a vida, seguindo critérios éticos e morais e buscando evoluir como indivíduo. É a combinação dessas duas coisas que, para Aristóteles, compõe a felicidade.
O ranking da ONU mede coisas concretas, que levam à hedonia. Mas, quando você pergunta a si mesmo se é feliz, na verdade está pensando na eudaimonia. E ela é o saldo das experiências e emoções vividas. Ou seja, das suas memórias. Ao gravá-las, o cérebro atribui a cada uma delas uma “valência emocional”.
E isso, no futuro, acaba influindo diretamente sobre a felicidade. Imagine o seguinte cenário. Você está jantando na sua lanchonete preferida, onde vai sempre com seu namorado ou namorada. Agora pense no cheiro delicioso daquele hambúrguer.
Foi uma lembrança feliz, certo? Aquela memória tem valência positiva. Agora imagine que você levou um pé na bunda, justo naquela lanchonete. Nunca mais volta lá, por razões óbvias. Mas tempos depois está na casa de um amigo que pede aquele mesmo lanche por delivery.
Desta vez, o sanduíche evoca em você uma memória ruim – com valência emocional negativa. Percebeu? A lembrança do hambúrguer em si não mudou (você continua sabendo exatamente que gosto, cheiro e textura ele tem), mas seu significado sim.
Quanto mais memórias positivas você acumula, mais perto da felicidade estará. Isso é óbvio. O que não é óbvio: aparentemente, o cérebro gasta mais energia para carimbar uma memória como positiva – e, por isso, ele pode ser naturalmente pessimista.
Em julho de 2022, um grupo de cientistas de várias instituições americanas apresentou uma descoberta revolucionária: experiências em ratos haviam mostrado que uma molécula, a neurotensina, era a responsável pela classificação das memórias como positivas ou negativas (3).
Os pesquisadores ensinaram as cobaias a associar determinados sons a uma experiência boa (ganhar alimento) ou ruim (levar um choque elétrico fraco). O objetivo era formar neles as memórias daquelas coisas. Depois, os cientistas poderiam evocá-las tocando aqueles mesmos sons [veja infográfico abaixo].
Ao mesmo tempo, os pesquisadores mediam o nível de neurotensina no cérebro dos ratos – isso foi feito monitorando o tálamo, região cerebral onde essa substância é produzida, e a amígdala, onde ela age.
Quando os bichinhos se lembravam da memória boa, a quantidade de neurotensina aumentava; quando era a ruim, essa substância diminuía. Os pesquisadores foram além, e criaram ratos geneticamente modificados para produzir mais ou menos daquela substância.
“Quando alteramos artificialmente a concentração de neurotensina na amígdala, conseguimos mudar o comportamento dos ratos”, diz Hao Li, neurologista do Salk Institute e autor principal do estudo, que também contou com pesquisadores do MIT, das universidades Harvard e de Michigan.
“É a quantidade de neurotensina disponível que gera o balanço entre o processamento das memórias, que vai definir se elas serão positivas ou negativas”, resume ele.

A neurotensina é uma molécula formada por 13 aminoácidos. Foi identificada pela primeira vez no cérebro de bois – e também está presente em outros animais, humanos inclusive.
Ela circula por todo o sistema nervoso, embora sua maior concentração esteja no hipotálamo (que regula funções básicas, como sede, apetite, temperatura corporal e pressão arterial) e na amígdala (ligada ao comportamento social, ao controle das emoções e ao medo).
O estudo em ratos demonstrou que o cérebro deles precisa fazer mais esforço, produzindo a neurotensina, para gravar memórias boas. Existe uma propensão à negatividade; e isso pode ser proposital.
“Acredito que a tendência a formar memórias ligadas ao medo seja resultado da evolução: do ponto de vista da sobrevivência, evitar o perigo sempre foi muito mais importante do que buscar recompensas”, afirma Li.
Não dá para assumir, automaticamente, que o cérebro humano também opere dessa forma. Mas é bem possível que sim.
Na outra ponta da ciência, a psicologia, há uma série de estudos mostrando que a mente humana é especialmente sensível a informações e acontecimentos negativos: eles causam efeitos mais profundos e duradouros do que as experiências positivas (4).
Você já deve ter notado isso. Quando acontece alguma coisa boa, a gente eventualmente esquece dela – mas as ruins ficam na cabeça por muito mais tempo. E a neurotensina (ou a ausência dela) pode ter a ver com isso.
O papel dessa substância na formação das memórias começou a ficar mais claro em 2011, quando cientistas dos EUA e da China submeteram 460 voluntários a análises genéticas e testes de memória (5).

Os pesquisadores constataram que cerca de 5% daquelas pessoas apresentavam duas mutações em um determinado gene, o NTSR1, que controla a quantidade de receptores de neurotensina no cérebro. Elas tinham mais receptores da substância, que por isso agia mais fortemente – e aqueles indivíduos se saíam muito melhor em testes de memorização.
Mas a neurotensina não está ligada apenas às memórias; também pode influenciar a resposta emocional imediata. Em 2021, cientistas da Alemanha e do Irã submeteram 22 voluntários adultos a um procedimento experimental (6): eles receberam uma corrente elétrica de baixíssima intensidade, 1,5 miliampère, sobre o córtex frontal dorsolateral (dlPFC) ou o córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC) durante 15 minutos.
O objetivo do procedimento, feito com eletrodos colados na cabeça, era inibir a atividade dessas regiões cerebrais – que, eis o pulo do gato, também possuem receptores de neurotensina. São influenciadas por ela.
Durante o teste, cada voluntário era apresentado a uma coleção de 100 imagens, mostrando cenas boas e ruins, e devia classificar o “grau de positividade” de cada uma delas em uma escala de 1 a 9 pontos (bem como seu grau de “excitação” e “dominância”, ou seja, agressividade). A experiência foi repetida três vezes, com um intervalo de 72 horas.
Os voluntários também classificaram as fotos sem receber o estímulo elétrico. Resultado: quando estavam levando choquinhos no dlPFC, eles agiam de forma mais negativa, davam notas mais baixas para as fotos.
Já quando o alvo era o vmPFC, os voluntários demoravam mais para se recuperar dos estímulos emocionais causados pelas imagens mais fortes, e voltar a um equilíbrio. Ou seja: essas duas regiões, sobre as quais a neurotensina age, realmente influem no estado emocional.
A principal tese dos pesquisadores é a seguinte: se a neurotensina ficar em níveis cronicamente baixos, estaria aberto o caminho para depressão e ansiedade.
Inclusive porque ela também tem outra função: ajuda a controlar a quantidade de dopamina (7), um neurotransmissor relacionado à memória e à sensação de prazer – e que, se estiver em níveis acima ou abaixo do ideal, pode levar à depressão ou a comportamentos compulsivos.
“Pretendo continuar a explorar o papel dos neuropeptídeos (8), incluindo a neurotensina, no controle das doenças mentais”, diz Li, que está inaugurando um laboratório na Northwestern University, onde recentemente foi contratado, para fazer isso.
As descobertas sobre a neurotensina podem abrir um novo ramo de estudos sobre felicidade e depressão. Isso também vale para outro elemento pouco comentado, mas igualmente influente, da arquitetura cerebral: a Rede de Modo Padrão.
A mente ruminante
O cérebro está sempre funcionando a todo vapor. Ele gasta muito mais energia do que qualquer outro órgão (sozinho, queima 20% de todas as calorias que você ingere), e isso acontece mesmo quando a mente está em repouso, sem prestar atenção a estímulos externos ou raciocinar para tentar resolver alguma tarefa.
Porque nesses momentos você continua pensando, só que em outras coisas: na sua vida, nas demais pessoas, no passado, no futuro. Todo mundo fica assim, absorto, boa parte do tempo. Quando isso acontece, entra em ação a Rede de Modo Padrão (DMN, na sigla em inglês), um conjunto de circuitos espalhados por cinco regiões cerebrais [veja no infográfico abaixo].

A existência da DMN foi teorizada pelo psiquiatra alemão Hans Berger, que em 1924 inventou o exame de eletroencefalograma (usado para monitorar as ondas cerebrais). Cinco anos mais tarde, ele publicou uma sequência de artigos científicos defendendo a tese de que o cérebro não desacelera quando a pessoa está descansando – ele aciona regiões diferentes, mas continua trabalhando à toda.
Era uma teoria polêmica para a época. Mas começou a ser comprovada na década de 1950, quando a equipe do neurocientista americano Louis Sokoloff colocou voluntários para resolver problemas matemáticos enquanto monitorava a atividade cerebral deles.
Como os exames de neuroimagem ainda não existiam, Sokoloff usou uma técnica curiosa (9): fez os voluntários inalarem óxido nitroso, também conhecido como “gás hilariante” (porque deixa a pessoa relaxada e com vontade de rir).
Foi uma quantidade bem pequena, insuficiente para causar esses efeitos. Mas o bastante para que as moléculas do gás se espalhassem pela corrente sanguínea e penetrassem no cérebro dos voluntários.
Em seguida, as pessoas iam resolver os testes de matemática, e os cientistas colhiam duas amostras de sangue delas: uma da artéria femural, na perna, e outra da veia jugular, logo abaixo do cérebro.
O objetivo disso era pegar, ao mesmo tempo, sangue arterial (que está indo irrigar os órgãos) e sangue venoso (que já passou por eles). Comparando a quantidade de óxido nitroso nas duas amostras, você consegue saber o volume de sangue que passou pelo cérebro – e, a partir daí, calcular o consumo de energia dele.
Legal, né? Esse método foi inventado em 1944, e é usado até hoje. Mas voltando ao estudo de Sokoloff. Depois dos testes de matemática, ele permitiu que os voluntários descansassem, mas continuou fazendo as medições. E viu que o consumo de energia do cérebro permanecia o mesmo quando as pessoas estavam em repouso.
Com o passar das décadas, novas técnicas e estudos foram confirmando isso – e exames de neuroimagem revelaram as regiões cerebrais envolvidas. No início dos anos 2000, o neurologista Marcus Raichle, da Universidade de Washington, encaixou a última peça: ele cunhou o termo “modo padrão” para definir o que o cérebro faz nesses momentos de descanso.
As regiões cerebrais que formam a Rede de Modo Padrão estão conectadas fisicamente entre si, e essas interligações evoluem com o tempo: alcançam seu pico de desenvolvimento entre os 9 e 12 anos de idade. Elas também podem estar diretamente relacionadas à felicidade.
Uma das características mais típicas da tristeza é ficar ruminando as coisas: repetir muitas vezes os mesmos pensamentos negativos, que ocupam um tempo enorme e vão assumindo um peso bem maior do que o real (o termo é uma referência aos animais ruminantes, como as vacas, que ficam um tempão mastigando os alimentos).
Quem tem depressão também costuma fazer isso. E o motivo pode estar na Rede de Modo Padrão.
Há alguns estudos mostrando que, nas pessoas com a chamada “ruminação depressiva”, a DMN apresenta um número exagerado de conexões com o córtex pré-frontal subgenual (10), uma região do cérebro cuja hiperatividade está relacionada à depressão.
É como se a rede trabalhasse demais ou de forma errada, e isso ajudasse a desencadear pensamentos negativos. “As disfunções na Rede de Modo Padrão certamente são um fator de desordem que contribui para a incidência de depressão”, afirma o bioquímico Daniel Martins-de-Souza, diretor do laboratório de neuroproteômica da Unicamp. A ruminação exagerada, fora de controle, pode acabar com a felicidade de qualquer um.
A felicidade não é sólida; ela oscila, momento a momento. Uma hora nos sentimos felizes e outra não, mesmo quando não há estímulos claramente negativos – aquele hambúrguer que hoje nos parece delicioso, amanhã pode não satisfazer (mesmo não havendo um fim de relacionamento envolvido na história).
Para tentar entender isso, é preciso voltar ao outro tipo de felicidade segundo Aristóteles: a hedônica. E a ciência também tem descoberto coisas novas sobre ela.
Nos anos 1950, experiências mostraram que, se você estimular eletricamente certas áreas do cérebro de um rato, ele terá sensações prazerosas – e aprenderá a pressionar uma alavanca para receber mais daquilo.
Por razões éticas, não dá para fazer esse tipo de teste em humanos (eles provavelmente ficariam viciados). Mas, na década de 1970, a ciência conseguiu identificar regiões cerebrais envolvidas no prazer – monitorando a atividade cerebral de voluntários durante o orgasmo (11).
A área mais ativada foi a do septo cerebral, uma membrana bem no meio do cérebro – a mesma que havia sido estimulada, e gerado uma forte reação, nos testes em ratos.
Nas décadas seguintes, outros estudos foram mostrando que o prazer (em sua definição mais ampla, não só sexual) envolve várias áreas do cérebro humano, como a área tegmental ventral, o núcleo accumbens, o corpo estriado, o hipocampo e a amígdala.
Por isso, alguns cientistas criaram o conceito de “córtex hedônico”: um conjunto de regiões que se acende quando vivemos, esperamos ou nos lembramos de alguma coisa prazerosa. Ainda é só uma ideia – não tem o mesmo nível de comprovação, e aceitação científica, que a Rede de Modo Padrão.

As descobertas sobre a neurotensina e a DMN ilustram bem como a felicidade e sua ausência são mais complexas do que parecem. Não dependem só dos níveis de serotonina no cérebro – e isso pode explicar por que, como mostrou aquele estudo inglês (12) do começo deste texto, não exista uma relação direta entre a falta desse neurotransmissor e a depressão.
O trabalho, publicado por cientistas da University College London, é categórico: baixa serotonina não causa a doença. Ele também mostra, citando as conclusões de outros estudos, que o uso de antidepressivos pode até reduzir a quantidade de serotonina no sangue.
Só tem um detalhe: na prática, esses remédios funcionam. Isso foi comprovado por diversos estudos ao longo das últimas décadas, em pacientes das mais variadas idades, etnias, histórico pessoal e condição social.
Em 2018, cientistas da Universidade de Oxford (13) revisaram os dados de 522 testes clínicos, que juntos reuniram mais de 100 mil adultos e avaliaram os 21 remédios antidepressivos mais usados no mundo. Todos se mostraram mais eficazes do que o placebo.
“Os antidepressivos funcionam, ainda que seu mecanismo de ação seja conhecido apenas de forma periférica”, diz Ricardo Alberto Moreno, do Instituto de Psiquiatria da USP. E esse é o xis da questão: o que esses medicamentos fazem, exatamente, ainda é um mistério. “Não sabemos como eles atuam dentro das células”, admite Moreno.
É assim com muitos remédios. Até alguns dos mais banais, como o anti-inflamatório paracetamol, não têm seu mecanismo de ação plenamente compreendido pela ciência. No caso dos antidepressivos, há dois complicadores: os mistérios do cérebro, que ainda são muitos, e a própria natureza da depressão.
“Ela é uma doença multifatorial, com diferentes causas, nem todas endógenas. Existem fatores ambientais importantes”, lembra Martins-de-Souza, da Unicamp. “As experiências de vida são preponderantes. Há casos de pessoas que, quando confrontadas com algumas situações-gatilho, disparam a doença. Isso não quer dizer que a serotonina não esteja envolvida, de alguma forma que varia de acordo com o paciente”, diz.
Mas, afirma ele, está claro que a serotonina tem um papel menos determinante do que se imaginava – e pode variar de uma pessoa para outra. “A psiquiatria caminha para tratamentos cada vez mais individualizados, que consideram o peso de cada fator para cada pessoa, pensando em terapias e tratamentos que foquem em cada uma das diferentes causas”, afirma.
Depressão e patologias à parte, a tristeza e a felicidade se complementam. Da mesma forma que ninguém deve se afundar numa bad, também não é razoável querer uma rotina 100% feliz, ao estilo Instagram. Não é assim que a vida, e a mente, funcionam.
Todo mundo oscila entre o feliz, o não tão feliz, o alegre, o neutro, o melancólico, o triste e mil outras emoções. Todas têm sua função. Inclusive porque elas podem ser instrumentos da razão, nos ajudando a fazer julgamentos rápidos e com menos esforço cognitivo.
Tanto é assim que até animais com cérebros extremamente simples, como as abelhas, parecem ter algum tipo de reação protoemocional, e se guiar por ela. Quando estamos felizes, ficamos mais dispostos a correr riscos e tentar coisas novas. As abelhas também.
Uma experiência feita por pesquisadores ingleses mostrou que, quando esses insetos recebiam um néctar doce, seus cérebros liberavam dopamina – e elas se tornavam mais corajosas, explorando mais o ambiente e fugindo por menos tempo de um ataque de predador simulado pelos cientistas (14). Já quando as abelhas eram tratadas com flufenazina, uma droga que bloqueia a dopamina, isso não ocorria.
As emoções também resolvem muitas coisas por nós. Imagine se você tivesse de decidir, de forma fria e racional, tudo o que costuma resolver por impulso emocional – como escolher o que vai comer, fazer ou dizer. Seria absurdamente cansativo.
“As emoções parecem operar num nível mais abstrato, mas elas trazem experiências relevantes do passado e leituras do contexto que contribuem para a tomada de decisões”, afirma o físico e escritor americano Leonard Mlodinow em seu livro Emocional: A nova neurociência dos afetos (ed. Zahar, 2022).
Vale a pena andar na montanha russa das emoções – mesmo que isso signifique encarar uma sequência interminável, muitas vezes imprevisível, de subidas e descidas. Por mais que estejamos sempre correndo atrás da felicidade, sabemos que ela vai escapar e voltar sem muito controle, guiada por balés neuroquímicos e ventos da vida.
E tudo bem, porque as coisas também precisam dos seus opostos. Se não houvesse a escuridão da noite, jamais veríamos o sol nascer. Se tudo fosse feliz, nada seria feliz.
***
Fontes
(1) How an Age of Anxiety Became an Age of Depression. A Horwitz, 2010.
(2) The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. J Moncrieff e outros, 2022.
(3) Neurotensin orchestrates valence assignment in the amygdala. H Li e outros, 2022. (4) Not all emotions are created equal: The negativity bias in social-emotional development. A Vaish e outros, 2008.
(5) Neurotensin Receptor 1 Gene (NTSR1) Polymorphism Is Associated with Working Memory. J Li e outros, 2011.
(6) The role of dorsolateral and ventromedial prefrontal cortex in the processing of emotional dimensions. V Nejati e outros, 2021. (7) Presynaptic action of neurotensin on dopamine release through inhibition of D2 receptor function. C Fawaz, 2009.
(8) Os peptídeos são cadeias de aminoácidos unidos pelas chamadas ligações peptídicas, ou seja, que combinam carbono e nitrogênio. (9) The determination of cerebral blood flow in man by the use of nitrous oxide in low concentrations. S Kety e C Schimidt, 1944.
(10) Depressive Rumination, the Default-Mode Network, and the Dark Matter of Clinical Neuroscience. JP Hamilton e outros, 2015. (11) Pleasure and brain activity in man. R Heath, 1972. (12) The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. J Moncrieff e outros, 2022.
(13) Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder. A Cipriani e outros, 2018. (14) Unexpected rewards induce dopamine-dependent positive emotion–like state changes in bumblebees. C Solvi e outros, 2016.



















