Por que o medo de ser otário faz mal para você – e torna o mundo mais desigual
A aversão a ser tapeado tem raízes biológicas, está entranhada em nossa cultura e é compreensível: ninguém quer ser feito de trouxa. Mas o medo de pagar de mané nos faz ver malandro onde não tem – e, no limite, impede avanços sociais. Entenda essa paranoia.

Texto: Bruno Vaiano | Ilustração: Felipe Mayerle
Design: Caroline Aranha e Luana Pillmann | Edição: Alexandre Versignassi
A versão original do Bolsa Família, que vigorou entre 2003 e 2019, foi um dos programas de transferência de renda mais bem-sucedidos do mundo. Custava uma fatia minúscula do PIB brasileiro – algo entre 0,5% e 0,8%, nos primeiros anos –, atendia um quarto da população e garantia que crianças carentes estivessem matriculadas em escolas públicas e com as vacinas em dia. Caso o contrário, o benefício não caía na conta das mães. Deu certo. E não só em indicadores mais óbvios, como tirar 3,4 milhões de pessoas da pobreza extrema, reduzir a mortalidade infantil em 16% e atenuar a insegurança alimentar (87% dos atendidos gastam o benefício com comida).
Um estudo realizado pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS) averiguou se jovens que tinham entre 7 e 16 anos em 2005 e estavam cadastrados no Bolsa Família na época continuavam recebendo dinheiro em 2019. Resultado: 64% dessa primeira leva de beneficiários havia saído da lista, e 45% haviam tido pelo menos um emprego formal entre 2015 e 2019 – um número razoável, considerando que mais de 40% da população brasileira está no mercado informal. Ou seja: não há evidência de que o programa crie preguiçosos dependentes do Estado.
Outra ideia comum, a de que pessoas pobres teriam mais filhos de propósito para receber mais benefício, também se provou falsa, já que a fertilidade de pessoas de baixa renda caiu nas últimas duas décadas. Apesar deste caminhão de evidências, a ideia de que o Bolsa Família foi uma política pública eleitoreira permanece firme: em uma pesquisa do Ibope de 2019, 82% dos brasileiros afirmaram que o programa “inclui pessoas que não precisam”; 67% que ele “faz as pessoas se acomodarem e não quererem mais trabalhar” e 56% que ele “faz as pessoas quererem ter mais filhos”.
Por outro lado, 62% dos entrevistados se consideram favoráveis ao Bolsa Família em linhas gerais. Ou seja: ninguém é contra dar comida a quem tem fome. O que acontece é um pouco mais sutil: as pessoas de classe média e alta, que arcam com o grosso dos impostos, têm medo de estarem sendo feitas de otárias pelo governo federal ou pelas famílias carentes.
Não é um medo exclusivo do Brasil. Uma pesquisa realizada por dois sociólogos americanos com 840 pessoas de vários países revelou que a maioria esmagadora dos entrevistados considera que políticas públicas de alimentação, moradia, atendimento médico ou auxílio-creche são preferíveis às de distribuição de dinheiro, já que não se poderia confiar na capacidade das famílias de gastá-lo ciosamente.
O medo ser otário virou um assunto razoavelmente quente na mídia gringa nos últimos meses depois que a pesquisadora Tess Wilkinson-Ryan – uma advogada-psicóloga que dá aulas na Universidade da Pensilvânia – publicou o livro Fool Proof (“À Prova de Golpes”), sobre como medo de ser passado para trás cria problemas.
Tess estuda o assunto há 15 anos, então vê jogos entre otários e malandros por toda a parte. Mas não seria justo acusá-la de exagero. De fato, “os debates sobre muitas políticas públicas e avanços tecnológicos têm a ver com quem cairá no próximo golpe”, ela escreve em um artigo na revista Aeon. “O ChatGPT vai ajudar os alunos a tapear professores? O trabalho remoto se manteve popular após o fim da Covid-19 porque os empregados podem ser mais frouxos e negligentes? Perdoar a dívida de quem recebeu auxílio governamental para pagar a faculdade é uma forma de deixar jovens preguiçosos explorarem trabalhadores que pagam impostos?”
Vamos entender o que experimentos de várias áreas – economia, psicologia, biologia – têm a dizer sobre o pavor inato de ser mané. E por que baixar a guarda pode ser a solução mais sensata para muitos problemas.
Não existe almoço de graça
O problema de confiar nos outros é que os outros não sabem se podem confiar em você. Há um ramo da matemática chamado teoria dos jogos que se dedica justamente a investigar por que as pessoas escolhem certas atitudes quando querem sair na vantagem.
O problema mais famoso da teoria dos jogos é o dilema do prisioneiro. Ele vai assim: imagine que a polícia prendeu dois suspeitos de um crime. O delegado não tem provas suficientes para acusar nenhum dos dois. Portanto, caso nenhum deles abra a boca para dedar o outro, ambos vão passar apenas 6 meses na prisão – o que é, sem dúvida, o melhor desfecho possível.
Acontece que há um programinha de delação premiada. Se João caguetar José, João se livra da prisão e José pega 10 anos. Se José caguetar João, é José que vai para casa e ferra o parceiro. Os dois serão interrogados ao mesmo tempo, então um não tem como saber se outro vai abrir a boca. Se ambos delatarem o comparsa, ambos pegam 5 anos.
E agora? É óbvio que o melhor seria ninguém abrir a boca. Mas nenhum dos dois tem como garantir que o outro vá ficar quieto. O que aumenta muito as chances de que um delate o outro preventivamente, e que os dois acabem pegando um tempo de prisão muito mais longo por bobeira. Trair se torna a única saída razoável. Assim, uma decisão estratégica racional acaba frustrada pelo medo de ser otário.
As pessoas sabem que decisões racionais beneficiam todos os envolvidos. Mas, com medo do egoísmo alheio, elas se previnem sendo egoístas também.
Em 1980, o cientista político Robert Axelrod organizou um concurso de dilema do prisioneiro em que os competidores eram programas de computador simples. Alguns eram cooperativos, e nunca traíam. Outros sempre traiam. Havia os adeptos do tit for tat (“olho por olho”), que sempre faziam com o oponente o que o oponente havia feito com eles na jogada anterior. E havia uma série de outras estratégias – como um tit for tat moderado, que exige duas traições antes de revidar, ou o tit for tat desconfiado, que começa traindo, mas fica bonzinho se alguém for bonzinho com ele.
Cada programa jogava uma partida contra todos os outros programas, incluindo um clone de si próprio, e contra o programa RANDOM, que colaborava ou se negava a colaborar aleatoriamente. Cada partida consistia em 200 rodadas de dilema do prisioneiro. As estratégias adotadas por cada programa (eram 14, ao todo) foram sugeridas por psicólogos, economistas, sociólogos etc. Como não havia um recurso palpável sendo disputado – como tempo de prisão – a recompensa vinha em pontos. A tabela de pontos fica da maneira que se vê abaixo.
| Programa 2 colabora | Programa 2 não colabora | |
| Programa 1 colabora | Ambos ganham 3 pontos | “2” ganha 5 pontos, “1” não ganha nada. |
| Programa 1 não colabora | “1” ganha 5 pontos, “2” não ganha nada. | Ambos ganham 1 ponto. |
O programa com a estratégia mais eficiente termina as 200 rodadas com mais pontos, é claro. A pontuação de referência é 600, que é o que um programa levaria para casa num cenário ideal, colaborando com o oponente em todas as rodadas. Calhou que o grande campeão, com pontuação média de 504,5, foi o tit for tat. Ou seja: um programa de computador que identifica traidores com base em evidências é mais eficaz em sair na vantagem do que um programa paranoico, que acusa sem perguntar.

Estratégia evolutivamente estável
Como traduzir essas conclusões para as relações entre seres vivos? Um problema do torneio é que todas as estratégias disputavam pelo menos uma vez contra todas as outras estratégias – um cenário equilibrado demais para ser realista, em que todos começam em pé de igualdade.
Na natureza, um animal com comportamento tit for tat que quisesse se dar bem precisaria disputar seu lugar numa população de indivíduos que já tem suas particularidades. Ele não encara uma folha em branco: lida com uma situação calibrada pela seleção natural, pois os outros bichinhos já empregam estratégias de sucesso comprovado (a comprovação advém do simples fato de que essas estratégias chegaram até ali, em detrimento de táticas menos eficazes, que desapareceram).
Para saber se tit for tat é estável em um ecossistema, Axelrod organizou uma nova sequência de mil torneios. A cada torneio, a pontuação final alcançada por uma estratégia definia o número de descendentes que ela deixaria para a próxima rodada. Pura seleção natural. A ideia era chegar a algo que o biólogo John Maynard Smith chamou de Estratégia Evolutivamente Estável (EEE), isto é: não uma que seja necessariamente a melhor (pois isso tit for tat já se provou ser), mas uma estratégia que, uma vez adotada pela população, não consegue ser dominada por nenhuma outra.
Imagine uma população de gatos em um beco. Há dois comportamentos: caçador e pirata. Os gatos caçadores matam seus próprios pombos. Já os gatos piratas roubam os pombos dos gatos caçadores. Se, de início, houvesse só gatos caçadores, qualquer gato pirata que surgisse se daria bem. Ele comeria às custas dos outros e poderia investir todo o seu tempo em energia em fazer filhotes, que tenderiam a ser piratas como ele. Assim, o número de piratas na população iria aumentar.
Chegaria um ponto, porém, em que haveria piratas para dar e vender, mas nenhum caçador do qual eles pudessem roubar comida. Começaria uma crise de fome. E voltar a ser caçador valeria a pena. Assim, a EEE não é nem uma situação em que só há piratas, nem uma situação em que só há caçadores, e sim uma em que a proporção entre eles seja perfeita.
Voltando ao experimento de Axelrod. Um tit for tat, nesse caso seria um indivíduo que rouba comida dos piratas quando é roubado, mas que caça honestamente perto dos caçadores. Parece bom, mas não funciona como EEE. O motivo é o seguinte:
Imagine uma população inteira de tit for tat. Nenhum gato jamais é pirata com nenhum gato, porque o tit for tat está programado para revidar apenas quando alguém lhe faz mal. Nessa situação, indivíduos caçadores, que cooperam sempre, podem nascer e se multiplicar em uma população tit for tat e se dar bem. Todos caçando o próprio pão honestamente, já que os tit for tats não serão malandros com quem não é malandro com eles.
Aí começa a bagunça. Os tit for tats são durões e sabem se defender quando aparece um traidor. Só não estão mostrando seu lado pirata porque não é necessário. Já os colaboradores são bonzinhos de fábrica, e não por opção. Eles ainda vão se dar mal na mão dos piratas. Portanto, assim que os colaboradores se tornarem numerosos, a população que antes era imune a piratas se tornará terreno fértil para eles.
No final das contas, a sequência de mil torneios de Axelrod chegou a um equilíbrio bem mais sutil, em que tit for tat precisava conviver com outras estratégias para que se alcançasse uma situação estável. Das seis tentativas de alcançar uma EEE submetendo a amostra de 63 estratégias à seleção natural, cinco deram uma maioria de tit for tat, mas nenhuma selecionou apenas tit for tat. Não há nenhum comportamento que seja sempre o melhor a se adotar. O equilíbrio é cíclico.
Legal: é assim que funciona com animais. Pessoas, porém, não são animais em tudo. Os gatinhos fictícios do experimento nasciam com um comportamento pré-programado e não eram capazes de mudá-lo. Humanos, por outro lado, são (ao menos em teoria) capazes de decisões racionais. Se eles não raciocinam, e agem mais como piratas que como caçadores, é porque o medo de levar um golpe está incutido em nós – como instinto e como cultura.

Dói na alma
Façamos um experimento com gente de carne e osso, que Tess Wilkinson-Ryan narra em seu livro. Ele foi realizado por Daniel Efron e Dale Miller, dois psicólogos da Universidade Stanford. Funciona assim: os 84 participantes – podemos chamá-los de “investidores” – começam a simulação com 10 dinheiros cada um. Eles podem optar por ficar com a grana ou investi-la. Todos são informados de antemão que, caso optem por investir, há 30% de risco de que recebam apenas 8 dinheiros de volta. Por outro lado, há uma chance (bem mais alta, de 70%) de sair com 15 dinheiros.
Agora vem a sacada: os investidores são divididos em dois grupos. Um grupo é informado de que o risco de 30% se deve a flutuações aleatórias. O outro grupo, porém, descobre que os 30% são obra do corretor de uma firma de investimentos, que sacaneia 3 em cada 10 clientes. Na prática, o corretor não decidia nada; o risco era 30% e ponto. O importante é que as pessoas pensassem que havia uma questão de confiança em jogo.
Resultado: mais gente topa encarar o risco de 30% quando a flutuação é natural do que quando se trata de um golpe, ainda que os desfechos sejam idênticos. As pessoas não são movidas simplesmente por aversão ao risco – o medo de que todo investimento, no mercado financeiro, pode dar errado. Na verdade, faz toda a diferença a origem do risco. Dói mais perder dinheiro porque você foi traído do que por causa de uma flutuação aleatória no preço de uma ação, por exemplo, que é natural na bolsa de valores.
Dói mais perder dinheiro porque você foi enganado do que por causa de uma flutuação do mercado financeiro, mesmo que a grana perdida seja idêntica nas duas situações.
Estudos como esse (e vários outros) mostram o seguinte: conseguir apoio popular para uma política pública como o Bolsa Família é uma questão psicológica, subjetiva. Não depende de evidências científicas e dados precisos, mas de como as autoridades e a mídia enquadram a situação, e no quanto eles conseguem mudar o que a população já pensa de antemão. Nessa hora, a racionalidade – há mais de 10 mil estudos acadêmicos analisando os resultados Bolsa Família – não tem o mesmo apelo emocional da ideia de que a classe média pagadora de impostos é vítima de um golpe.
Mesmo assim, explica Tess, há situações em que nos deixamos cair em injustiças e as aceitamos como parte da vida. Elas vão de abusos bobos – como pagar R$ 20 a mais por um lanche só porque estamos no aeroporto ou em um show – a situações sérias, como bancos que cobram juros abusivos de pessoas endividadas. Esses casos têm algo em comum: quem aplica o golpe está com o poder, seja sobre seu estômago, seja sobre sua vida financeira.
Em geral, portanto, somos mais sensíveis aos supostos golpes que vêm de classes sociais mais baixas, porque eles parecem ameaçar nosso status. Apanhar de quem já está por cima, por outro lado, é algo esperado. Vale, portanto, combater esse comodismo se quisermos uma sociedade minimamente justa. Tess escreve: “quando se levanta a ameaça de um golpe, é útil perguntar: quem realmente tem o poder aqui? Quem terá seu status ameaçado?”
Garantir cotas a pessoas negras em vestibulares – ou chances iguais para mulheres em processos seletivos – não vai, de fato, tirar oportunidades de estudo e de emprego dos privilegiados que já nasceram com mais chances. De quebra, dar qualificação às pessoas que historicamente não tiveram oportunidades gera crescimento econômico e melhora a qualidade de vida de toda a população em longo prazo. Vale também para o campo da segurança pública, claro. Não é coincidência que a criminalidade seja menor em países com políticas sociais melhores. Em suma: faz bem abaixar a guarda e encarar a vida com uma estratégia menos defensiva. Buscar avanços sociais, afinal, não é fazer ninguém de trouxa. É garantir um ambiente melhor para todos, inclusive para quem está no topo da pirâmide.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

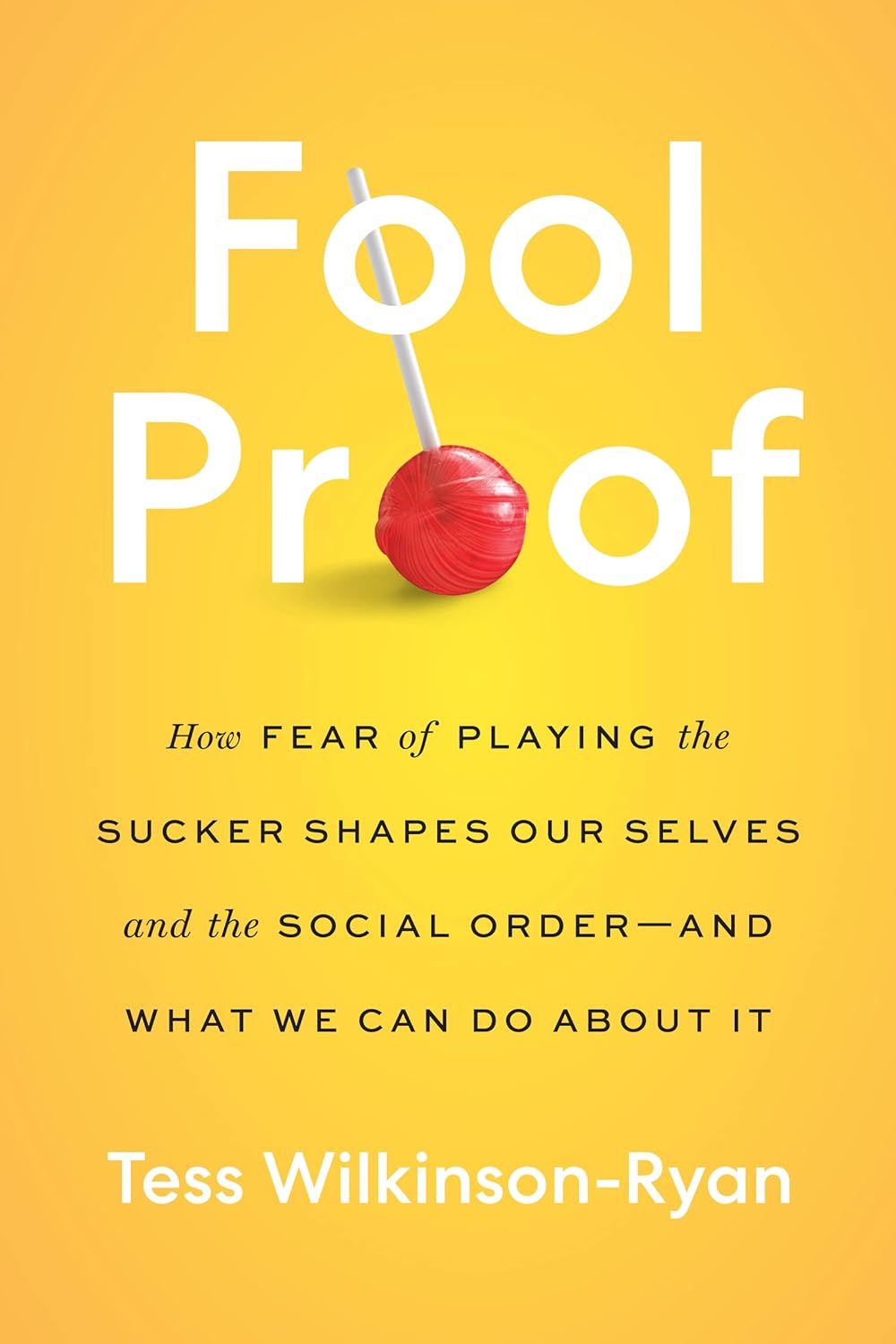
 Chuva de meteoros Orionídeas será visível no Brasil a partir desta terça-feira (21); veja como observar
Chuva de meteoros Orionídeas será visível no Brasil a partir desta terça-feira (21); veja como observar “Ninja Gaiden 4” é bom, mas sofre com a nova realidade do Game Pass
“Ninja Gaiden 4” é bom, mas sofre com a nova realidade do Game Pass O que ter um gato faz com o seu cérebro – e com o dele
O que ter um gato faz com o seu cérebro – e com o dele Vulcão tido como extinto há 700 mil anos dá sinais de atividade, alerta estudo
Vulcão tido como extinto há 700 mil anos dá sinais de atividade, alerta estudo Formigas doentes praticam isolamento social, descobre estudo
Formigas doentes praticam isolamento social, descobre estudo







